Sociedade, Política e Estado — Murray Bookchin
Hoje quando os movimentos verdes e sociais se consolidaram em quase todos os países do Primeiro Mundo, quando estão crescendo em outros lugares (particularmente na América Latina), a questão de como encarar os conceitos de “sociedade”, política” e “Estado”, adquiriu uma urgência programática. Esta urgência surge ante o fato de que a maioria desses movimentos põe ênfase na necessidade de descentralização, de comunidades em escala humana, de democracia de base e de um equilíbrio viável entre a cidade e o campo (temas que nos lembram dos escritos de Proudhon e Kropotkin); mas ao mesmo tempo, os verdes estão comprometidos, de uma ou outra maneira, na política eleitoral. Na Alemanha, onde a ideologia verde nasceu faz uma década aproximadamente, a tendência “fundamentalista” (que em certo momento foi a maioria do partido verde) insistiu no esforço de construir um partido “não partidário”, por criar uma democracia de base, inspirada na “democracia participativa” da “nova esquerda” dos anos sessenta. Os cargos eletivos, tanto no governo como na direção do partido deviam ser rotativos, os salários dos representantes eleitos deviam ser compartilhados com a organização do partido; propôs-se, de vaga forma, estabelecer o direito de revogar os representantes que não cumpriram ser mandato programático, mas isso nunca foi implementado. A teoria ecológica (mais precisamente, a ecologia social, que se originou nos Estados Unidos no começo dos anos sessenta) constitui uma perspectiva aglutinante para os primeiros verdes, ainda que não estivessem completamente familiarizados com sua origem libertária. Refiro-me à necessidade de suprimir a hierarquia, assim como as relações de classe, como condição prévia à eliminação da ideia de domínio da natureza e ao alcance de uma sociedade ecológica.
O surgimento de movimentos verdes, que em grande parte tomam como modelo os Grünen (partido verde alemão), criou um dilema para a esquerda libertária. As reivindicações sociais da maioria dos grupos verdes eram claramente anarquistas. Os programas baseados na descentralização e na democracia participativa surgiram indubitavelmente a partir do socialismo antiautoritário, e foram fortemente influenciados pela “nova esquerda”. Além disso, muitos princípios organizativos adotados pelos verdes contrastavam com a mentalidade centralista, essencialmente burocrática, do marxismo, por não falar do liberalismo. Mas como poderíamos explicar a orientação política, mais exatamente eleitoral, dos verdes? Como poderíamos encarar temas como o parlamentarismo, as coalizões de partidos, e a entrada dos Grünen em governos manifestamente burgueses, como a coalizão de Hesse?
Que os Grünen sejam hoje escassamente diferentes no aspecto organizativo, e também no programático, dos partidos social-democratas convencionais, não é motivo para que os libertários se regozijem em suas predições de que a política corrompe. A degeneração dos verdes ocorreu no curso de uma forte luta interna. Não foi um processo de lenta erosão imperceptível e de cooptação por parte do Estado. Nem podem os grupos libertários mais puristas da Alemanha pretender que as concepções sindicalistas ou anarquistas haviam se afirmado na Europa Central. Do mesmo modo que esses grupos libertários se satisfazem com a decadência dos movimentos verdes à causa do parlamentarismo, também eles podem ser criticados por ter ficado de espectadores frente ao declínio de um movimento muito significativo, cujo desenvolvimento deveriam haver tratado de impulsionar. Nem sequer ofereceram uma alternativa à infeliz opção adotada pelos Grünen e pelos grupos verdes que se orientaram pela via eleitoral em outros países. As tentativas dos libertários de reviver as ideias sindicalistas tradicionais têm pouquíssimas probabilidades de êxito. Qualquer que seja a promessa do proletariado como classe hegemônica, como poderia ter sido durante o último século e a primeira parte do atual, o sindicalismo proletário está historicamente esgotado em todas as suas formas. Todas as teorias, programas e movimentos que formaram um rol revolucionário à classe trabalhadora jazem sepultado sob as frias brasas da Revolução Espanhola de 1936-39, a mais valente e removedora e também, último surgimento histórico de radicalismo proletário tradicional. Desafiando todas as previsões teóricas dos anos trinta, o capitalismo se restabeleceu com mais força e adquiriu extraordinária flexibilidade nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial. De fato, não se determinou claramente o que constitui o capitalismo em sua forma mais “madura”, nem o que falar de sua trajetória social.
Parece-me que o capitalismo se transformou, passando de uma economia rodeada de muitas formações sociais e políticas pré-capitalistas, a uma sociedade “economizada” em si mesma. A vida social como tal está cercada pelos valores de mercado. Esses se infiltraram crescentemente nas relações familiares, educacionais, pessoais e inclusive espirituais, eliminando as tradições pré-capitalistas, que comportavam maior ajuda mútua, maior idealismo e responsabilidade moral, em contraste com as normas de conduta “mercantilistas”. Termos como “consumismo” e “industrialismo” são meros eufemismos obscurantistas para designar um aburguesamento que a tudo impregna, e que implica bastante mais que apetite de mercadorias e sofisticação tecnológica. Estamos assistindo à expansão das relações mercantis em todas as áreas da vida e nos movimentos sociais, que em outro momento ofereceram certa resistência (quando não um refúgio) contra as formas competitivas, amorais e acumuladores de interação humana. Existe uma razão pela qual qualquer nova forma de resistência, seja dos verdes, dos libertários ou dos radicais em geral, deve abrir espaços alternativos de vida que possam contrastar e desarmar o aburguesamento da sociedade em todos seus níveis. Isso não quer dizer que “os novos movimentos sociais” (usando o jargão sociológico), como os verdes, possam entrar nos órgãos parlamentares nacionais, provinciais ou estatais, sem pagar algum preço por isso. Os Grünen, que estavam longe de ser um ingênuo movimento popular, são prova viva de que a “resistência parlamentar” conduz afinal a maus compromissos e ao abandono de princípios fundamentais. Propõe-se a questão de que, sim, pode haver espaço para a esfera pública radical, mais além das comunas, das cooperativas, das organizações de bairro, promovidas pela contracultura dos anos sessenta, diria, estruturas que tão facilmente degeneraram em negócios tipo butique, quando não desapareceram por completo. Existe um âmbito político que possa ser campo para a interação de forças antagônicas que se movem pela mudança, pela educação, pelo desenvolvimento, em última instância, em confrontação com o modo de vida imperante?
O próprio conceito de âmbito político se contrapõe à noção radical tradicional de âmbito de classe. O marxismo, em particular, negou a existência de um “público” aparentemente indefinível, ou o que nas revoluções democráticas de dois séculos atrás se designou como “o povo”. Considerava-se que os conceitos de “povo” ou de “público” ocultavam os interesses específicos de classe, que terminariam por conduzir a burguesia a um conflito implacável com o proletariado. Se a palavra “povo” significou algo para os teóricos marxistas, foi em referência a uma pequena burguesia decadente, amorfa e indescritível, legado do passado e de revoluções anteriores, da qual podia se esperar que, em primeiro momento, se colocassem ao lado da classe capitalista, à qual aspirava integrar, e por último, ao lado da classe trabalhadora, da qual se veriam forçadas a fazer parte. Em consequência, o proletariado, na medida que se tornasse uma classe consciente, expressaria finalmente os interesses gerais da humanidade, uma vez que houvera absorvido essa imprecisa classe média, particularmente durante uma crise econômica geral ou “crônica” do capitalismo. Os anos trinta, com suas ondas de greves, insurreições operárias, confrontos de rua entre grupos revolucionários e fascistas, e suas expectativas de guerra e levantes sociais sangrentos, pareceram confirmar esta visão. Não podemos seguir ignorando o fato de que a visão tradicional elaborada pelos radicais durante a primeira metade deste século foi substituída pela realidade atual de um sistema capitalista, organizado cultural e ideologicamente, assim como economicamente. Por mais que tenham sido rebaixados os níveis de vida de milhões de pessoas, também resta em pé o fato sem precedentes de que o capitalismo não tem sofrido uma “crise crônica” há meio século. O proletariado clássico industrial diminuiu no Primeiro Mundo (o lócus histórico clássico do confronto socialista com o capitalismo), e está perdendo não somente a consciência de classe, como também a consciência política de si mesmo como classe historicamente única. As tentativas de reformar a teoria marxista, incluindo todos os assalariados no proletariado carecem de sentido, e encontram-se em total contradição com o modo em que esta população de classe média amplamente diferenciada se concebe a si mesma e sua relação com a sociedade de mercado.

Também não existe nenhum sinal de que em um futuro próximo previsível vamos enfrentar uma crise econômica comparável à “grande depressão”. A respeito do controle dos fatores internos de crise a longo prazo, que puderam criar um interesse geral por uma nova sociedade, o capitalismo teve melhores resultados nos últimos cinquenta anos que no século e meio anterior, o período de sua “ascensão histórica”. Tal como estão as coisas hoje, é ilusório viver com a esperança de que o capitalismo sofra um colapso de dentro de si, como resultado das contradições de seu próprio desenvolvimento. Mas existem sinais dramáticos de que o capitalismo, organizado em um sistema de mercado baseado na competência e no crescimento, deveria perturbar o mundo natural, trocando a terra pela areia, contaminando a atmosfera, mudando todas as condições climáticas do planeta, e possivelmente tornando a terra inóspita para as formas de vida complexas. O capitalismo está produzindo as condições externas para uma crise, uma crise ecológica, que bem poderia despertar um interesse generalizado por uma mudança social radical.
O capitalismo, de fato, está demonstrando ser um câncer ecológico, capaz de simplificar os complexos ecossistemas que se formaram durante inumeráveis anos. Levanta-se a questão de se uma sociedade, baseada em um crescimento insensato e incessante como fim em si mesmo, forçada pela competência a acumular e devorar o mundo orgânico, pode criar problemas que ultrapassem muitas diferenças materiais, étnicas e culturais. Se é assim, o conceito de “povo” e o de “âmbito público” podem se converter em uma realidade viva na história. O movimento verde, ou pelo menos algum tipo de movimento ecologista radical, pode adquirir assim um significado político, único e coesivo, comparável ao dos movimentos operários tradicionais. Se o âmbito do radicalismo proletário era a fábrica, o do movimento ecologista seria a comunidade: a cidade, o bairro, a municipalidade. Deveria se elaborar uma nova alternativa política, que não seja nem parlamentar nem tampouco exclusivamente limitada à ação direta e às atividades contraculturais. Na realidade, a ação direta se combinaria com uma nova política sob a forma de uma autogestão da comunidade, fundada em uma democracia plenamente participativa, que de fato é a forma mais elevada de ação direta, aquela que reconhece no povo a plena faculdade de determinar o destino da sociedade.
O movimento verde (usando este termo em seu sentido mais genérico) está notavelmente bem situado para se converter em um âmbito no qual elaborar tal perspectiva e pô-la em prática. Inadequações, fracassos e retrocessos, como observamos nos Grünen, não eximem os libertários de tratar de educar este movimento, dando-lhe a orientação teórica de que necessita. Os verdes não se congelaram em uma postura rígida desesperançada, nem sequer na França ou na Alemanha. Não é provável que a situação ecológica permita que um amplo movimento político ambientalista se consolide até o ponto em que possa excluir a articulação de tendências radicais. É uma grande responsabilidade do movimento libertário promover tais tendências radicais, fortalecendo-as teoricamente, e elaborando uma perspectiva ecológica radical coerente. Em suma, o que finalmente destrói todo movimento nesta era de aburguesamento envolvente, não é somente a “mercantilização” da vida, mas também a falta de consciência para resistir a ela e a seus amplos poderes de cooptação.
Mas isso não diminui a necessidade de dar a esta consciência uma forma real e palpável. Se os anos sessenta fizeram surgir a necessidade de uma contracultura para resistir à cultura dominante, os anos finais de nosso século criaram a necessidade de contrainstituições de natureza popular, para contrabalançar o Estado centralizado. A forma específica destas instituições pode variar segundo as tradições, os valores, os interesses e a cultura de cada região. Mas certas premissas teóricas básicas devem ser clarificadas, se se levanta a necessidade de novas instituições, e mais amplamente, de uma nova política libertária. Vivemos em um mundo historicamente nebuloso, no qual os âmbitos institucionais que no passado eram claramente distinguíveis um do outro (o social, o político e o estatal) foram confundidos e mistificados. Em outro tempo, o âmbito social podia ser claramente distinguido do político, e este por sua vez estava bem delimitado do estatal. Para que um movimento verdadeiramente radical possa existir no futuro, devem ser detidas e revertidas as tendências atuais à absorção da política pelo Estado, e da sociedade pela economia. Com a aparição de novos movimentos que afrontam a deterioração ecológica, e com o surgimento de novas questões como a necessidade de uma sociedade ecologicamente orientada que termine com a dominação da natureza e das pessoas, a necessidade de redefinir realmente a política, dando-lhe um significado mais amplo do que tivera no passado, converte-se em um imperativo político. A capacidade dos libertários para responder a esta exigência bem pode determinar o futuro de movimentos como os verdes e a real possibilidade do radicalismo existir como uma força coerente para a mudança social. É muito fácil pensar na sociedade, na política e no Estado tal como se nos apresentam hoje, separados da história e congelados em formas rígidas. Mas o fato é que cada um deles teve um complexo desenvolvimento, que devemos entender se queremos ter claro o significado dos problemas que os mesmos comportam na teoria social e na prática. Muito do que atualmente chamamos de política na realidade é governo do Estado, que consiste na estruturação de um aparato estatal, integrado com parlamentares, juízes, burocratas, policiais, militares e outros, fenômeno que frequentemente se repete desde o topo do Estado até as menores comunidades. É assim que facilmente podemos ignorar o que a política significou em outro tempo. O termo “política”, que deriva do grego, referia-se a um âmbito público formado por cidadãos conscientes, que se sentiam competentes para gerir diretamente suas próprias comunidades ou polis.
A sociedade, por outro lado, era um âmbito relativamente privado, relacionado às obrigações familiares, às amizades, à manutenção pessoal, à produção e à reprodução. Desde sua emergência como mera existência de grupos humanos, até as formas altamente institucionalizadas que propriamente chamamos de sociedade, a vida social esteve estruturada sobre a família ou oikos (economia, de fato, significava pouco mais que a gestão da família). Seu núcleo era o mundo doméstico da mulher, complementado pelo mundo civil do homem. Nas comunidades primitivas, o âmbito civil esteve em grande parte a serviço do doméstico, onde se cumpriam as funções mais importantes para a sobrevivência e a manutenção. Uma tribo (entendida em um sentido muito amplo, que incluía bandos e clãs), verdadeira entidade social, estava ligada por laços sanguíneos, conjugais e funcionais, baseados na idade e no trabalho. As potentes forças centrípetas (que ainda se originavam de fatos biológicos), que mantinham unidas as comunidades (eminentemente sociais) e lhes davam um forte sentido de solidariedade interna, excluíram em grande parte os “estranhos”, cuja aceitação normalmente dependia das regras de hospitalidade, e da necessidade de adquirir novos membros para substituir os guerreiros, quando a guerra se tornava cada vez mais importante.
Uma grande parte da história é um relato do posterior crescimento do âmbito civil masculino às custas do âmbito doméstico social. Os homens adquiriram uma autoridade crescente sobre as comunidades primitivas como resultados das guerras intertribais, das lutas pelo território de caça, e, particularmente, dos conflitos gerados pela necessidade dos povos agrícolas se apropriarem de grandes extensões de terra, que por sua vez eram requeridas pelos povos caçadores para se sustentarem e seus modos de vida.
Foi a partir deste âmbito civil indiferenciado (se me é permitido usar a palavra “civil” em um sentido muito amplo) que surgiram a “política” e o Estado. Isso não significa cair na armadilha ideológica de dizer que o político e o governo do Estado desde o começo foram o mesmo. De fato os dois, apesar de suas origens no primitivo âmbito civil dos homens, encontraram-se em uma clara oposição. “Os trajes da história nunca estão limpos e sem amassos”. A evolução da sociedade, desde pequenos grupos sociais domésticos até sistemas autoritários muito diferenciados e hierarquizados, que abarcaram vastos impérios territoriais, foi complexa e irregular. Também as tradições domésticas e familiares, isto é, as tradições sociais, desempenharam na formação dos Estados um papel muito comparável ao dos valores civis dos guerreiros. As aristocracias baseadas na linhagem (seja feminina ou masculina), que persistiram até os tempos modernos, estão impregnadas de valores sociais que foram transmitidos desde uma época em que o parentesco, não a cidadania ou a riqueza, determinava o status e o poder de uma pessoa. Os reinos despóticos como os do Egito e da Pérsia, para citar os mais notáveis, não eram considerados entidades civis em sentido rigoroso, mas domínios domésticos dos monarcas. Foram vistos como as vastas residências dos reis divinos e de suas famílias, até que foram divididos por famílias menores em possessões senhoriais ou feudais.
Foi a “revolução urbana” da idade de bronze (para usar a expressão de V. Gordon Childe) que lentamente removeu as arcaicas travas sociais ou domésticas que pesavam sobre o Estado, criando um terreno novo para a política. O surgimento das cidades, frequentemente em torno de templos, fortalezas militares, centros administrativos e mercados inter-regionais, criou as bases para uma nova forma de espaço político, mais universal e secular. Com o tempo, este espaço evoluiu lentamente em direção a um tipo de esfera pública sem precedentes. Tratar de assinalar uma cidade determinada como modelo de tal estado seria buscar formas puras que não existem na história ou na teoria social. Mas podemos identificar cidades que não foram nem predominantemente sociais em um sentido doméstico, nem estadistas, e que deram origem a uma nova gestão da sociedade completamente nova.
As mais destacáveis destas cidades foram os portos da Grécia antiga, as cidades medievais de artesãos e comerciantes da Itália e da Europa central, também as cidades dos novos Estados nacionais em formação, como Espanha, Inglaterra e França, que desenvolveram identidades próprias e formas relativamente populares de participação cidadã. Suas características “provincianas”, ainda patriarcais, não devem nos impedir de apreciar seus valores humanistas universais. Seria mesquinho e anti-histórico, de um ponto de vista moderno, pôr a ênfase nos erros que as cidades compartilharam durante milhares de anos com o surgimento da “civilização” como tal. O mais importante é que estas cidades criaram, em maior ou menor medida, um âmbito radicalmente novo, de natureza política, fundado em formas limitadas, mas com frequência participativas, de democracia, e um novo conceito de personalidade cívica: o cidadão.
Definida segundo suas raízes etimológicas, a política significou a gestão da comunidade ou da polis por parte de seus próprios membros ou cidadãos, o desenvolvimento de um espaço público no qual os cidadãos podiam se reunir, como o ágora das democracias gregas, o fórum da república romana, o centro do povoado da comuna medieval, e a praça da cidade renascentista. A política significou o reconhecimento dos direitos civis para os estrangeiros, ou para quem não estava vinculado à população por laços sanguíneos, o que é a ideia de um humanitas universal, que se distinguia do conceito de “gente” relacionada genealogicamente. Além desses valores humanos fundamentais, a política estava caracterizada pela crescente secularização dos assuntos sociais, um novo respeito pelo indivíduo e uma crescente consideração de critérios racionais de conduta sobre os irrefletidos imperativos do costume.
Não quero dizer que com o surgimento das cidades desapareceram os privilégios, a desigualdade de direitos, as superstições, o respeito pela tradição, a desconfiança sobre os estrangeiros. Durante os períodos mais radicais da Revolução Francesa, por exemplo, Paris estava cheia de medo das “conspirações estrangeiras” e de desconfiança xenófoba sobre os estranhos. As mulheres não compartilharam totalmente as liberdades de que gozavam os homens.
Meu ponto de vista, contudo, é que a cidade criou algo realmente novo, que não pode ficar oculto nas pregas do social ou do estatal. Este espaço se reduziu ou ampliou com o tempo, mas nunca desapareceu totalmente da história. Manteve-se em contraposição ao Estado, o qual tratou em vários graus de profissionalizar e centralizar o poder, frequentemente tornando-se um fim em si mesmo, como o mostraram o poder estatal do Egito Ptolomaico, as monarquias absolutas europeias no século XVII e os regimes totalitários da Rússia e da China no século atual.
O cenário da política fora quase sempre a cidade ou o povoado, ou mais genericamente, a municipalidade. Para que cidade fosse politicamente viável, seguramente o tamanho era algo importante. Para os gregos, em particular para Aristóteles, o tamanho de uma cidade ou polis deveria ser tal que seus assuntos pudessem ser discutidos cara a cara, e que pudesse existir certo grau de familiaridade entre seus cidadãos. Esses requisitos, que não eram fixos nem invioláveis, estavam concebidos para promover o desenvolvimento urbano, de um modo que diretamente contrabalançava com o Estado. Sendo de tamanho moderado, a polis podia assim ser organizada institucionalmente de tal modo que seus assuntos pudessem ser geridos por homens capazes, comprometidos com o público, com um grau mínimo de representatividade, estritamente controlado. Para que alguém pudesse ser capacitado para as funções políticas, deveria possuir certos recursos materiais. Requeria-se certo tempo livre, do qual se podia dispor, suponhamos hoje, graças ao trabalho escravo.
Entretanto, de nenhum modo é certo que todos os cidadãos gregos politicamente ativos foram proprietários de escravos. Ainda mais importante que o tempo livre era a formação do caráter e da razão (conceito grego de Paidéia), que conferia aos cidadãos o decoro necessário para que as assembleias populares fossem viáveis. Era necessário um ideal de serviço público que prevalecesse sobre os impulsos egoístas e mesquinhos, e que desse ao interesse geral o caráter de valor. Isso foi conseguido estabelecendo-se uma complexa rede de relações, que iam desde amizades leais (o conceito grego de filia) até compartilhar experiências nas festividades civis e no serviço militar.
O uso que faço dos termos gregos não deve ser interpretado como se a política fosse um fenômeno exclusivamente helênico. Necessidades similares surgiram e foram tratadas de várias maneiras nas cidades livres da Europa e da Nova Inglaterra até tempos relativamente recentes. Em quase todos os casos, essas cidades criaram uma política que foi democrática em diversos graus, durante longos períodos, e que ressurgiu não somente na costa do Mediterrâneo, mas também na Europa continental, na Inglaterra e na América do Norte. Profundamente hostis aos Estados centralizados, as cidades livres e suas federações participaram de alguns dos marcos mais importantes da história, verdadeiras encruzilhadas em que a humanidade teve a possibilidade de estabelecer sistemas sociais, baseados em confederações municipais, ou em Estados nacionais.
O nacionalismo, assim como o estadismo, estava tão arraigado no pensamento moderno, que a própria ideia de política municipal nem sequer foi considerada como uma opção para a organização social. Tal como observei, a política estivera identificada completamente com o governo do Estado e com a profissionalização do poder. Foi ignorado o fato de que o âmbito político e o Estado estiveram muitas vezes em conflito entre si, gerando sangrentas guerras civis. Os grandes movimentos revolucionários do passado, desde a Revolução Inglesa de 1640 até os movimentos revolucionários de nosso século, estiveram marcados pela participação das comunidades, seu êxito dependendo de fortes vínculos comunitários. Os argumentos que continuamente são apresentados contra a autonomia municipal demonstram que esta é considerada perigosa para os Estados nacionais. Fenômenos presumivelmente “mortos”, como a comunidade livre e a democracia participativa, não deveriam despertar reações tão fortes, nem ser objeto de restrições como as que ainda são aplicadas.
O surgimento das grandes megalópoles não eliminou a necessidade histórica de uma política cívica e comunitária, assim como a expansão das corporações multinacionais não suprimiu a questão do nacionalismo. Cidades como Nova Iorque, Londres, Frankfurt, Milão e Madri podem ser politicamente descentralizadas e socializadas a nível institucional, seja em redes de bairro ou de distrito, apesar de suas dimensões estruturais e de sua interdependência interna. Na realidade, o modo como podem funcionar, se não forem descentralizadas estruturalmente, é um assunto ecológico de capital importância, como indicam os problemas da contaminação, do fornecimento de água, da criminalidade, da qualidade de vida e do transporte.
A história demonstrou que as principais cidades europeias, com populações de até um milhão de habitantes, com primitivos meios de comunicação, funcionavam através de instituições bem coordenadas, mas descentralizadas, que mostravam uma extraordinária vitalidade política. Desde as cidades castelhanas que quebraram na revolta dos comuneros do começo do século XVI, as seções parisienses e as assembleias do começo do século XVIII, até o movimento de cidadãos de Madri dos anos sessenta, citando somente uns poucos, os movimentos municipais nas grandes cidades levantaram de maneira crucial o problema de onde deve residir o poder e como deveria ser gerida a vida social em nível institucional.
É bastante óbvio que essa municipalidade pode ser de visão tão estreita como uma tribo, não menos hoje que no passado. Portanto, qualquer movimento municipal que não seja confederal, isto é, que não se integre em uma rede de inter-relações recíprocas com povoados e cidades de sua própria região, não pode ser considerado uma entidade política real em um sentido tradicional, do mesmo modo que um bairro que não reconhece a necessidade de cooperar com outros bairros de sua mesma cidade. A confederação baseada em responsabilidades compartilhadas, a plena responsabilidade dos delegados confederais ante suas comunidades, o direito de destituir os representantes e a necessidade de se estabelecerem mandatos precisos são parte indispensáveis de uma nova política. Argumentar que as cidades e povoados existem reproduzem o Estado nacional em nível local significa renunciar a todo compromisso de mudança social. A vida seria realmente maravilhosa, quiçá milagrosa, se nascêssemos com a instrução, a experiência, a inteligência e as habilidades necessárias para exercer uma profissão ou cultivar uma vocação desejável. Infelizmente, devemos realizar o esforço de adquirir essas capacidades, e isso requer luta, discussão, educação e desenvolvimento. Provavelmente teria pouco significado um enfoque municipalista radical que se reduzisse a um mero instrumento de uma fácil mudança institucional. Tem de lutar por esse objetivo se deseja alcançá-lo, do mesmo modo que a luta por uma sociedade livre deve ser em si mesma tão libertadora e autotransformadora quanto a existência de tal sociedade.
O Estado levanta também sérias questões, que não podem ser reduzidas a uma visão simplista e a-histórica. Se se o concebe como um fenômeno em desenvolvimento, no curso da história se sucederam Estados nascentes, quase-Estados, Estados monárquicos, Estados feudais, Estados republicanos, Estados totalitários que superaram as tiranias mais duras do passado. Lamentavelmente, não se prestou atenção suficiente ao fato de que a capacidades dos Estados para exercer plenamente seu poder esteve frequentemente determinada pelos obstáculos municipais que encontraram. Foi essencial para a consolidação do Estado nacional sua habilidade para debilitar as estruturas dos povoados e das cidades, substituindo-as por burocracias, polícias e forças militares. Uma sutil interação entre a municipalidade e o Estado, que muitas vezes provocou conflitos abertos, deu-se ao longo da história, configurando a imagem da sociedade atual.
É de grande importância prática que as instituições, tradições e sentimentos pré-estadistas permaneçam vivos em graus diversos na maior parte do mundo. A resistência à usurpação dos Estados opressores tem sido apoiada pelas redes comunitárias de cidades, bairros e povoados, tal como mostram as lutas na África do Sul, Oriente Médio e América Latina. Os temores que agora estremecem a Rússia soviética não se devem somente às demandas de maior liberdade, mas também aos movimentos pelas autonomias locais e regionais que desafiam a própria existência do Estado nacional centralizado. Ignorar as bases comunitárias desses movimentos seria tão míope quanto ignorar a instabilidade latente de todo Estado nacional. E pior ainda seria considerá-lo seguro e tratá-lo segundo seus próprios termos. Na realidade, o fato de que um Estado permaneça como tal ou não (questão não pouco importante para teóricos radicais tão díspares como Marx e Bakunin) depende muito do poder dos movimentos locais, confederais e comunitários, para contrabalançá-lo e estabelecer “outro” poder que o substitua. O papel que teve o movimento de cidadãos madrilenhos há quase três décadas na debilitação do regime de Franco mereceria com justiça um estudo importante.
Apesar da visão marxista de um conflito essencialmente econômico entre “trabalho assalariado” e o “capital”, os movimentos de classe revolucionários do passado não foram simplesmente movimentos industriais. Por exemplo, o efêmero movimento de trabalhadores parisienses, em grande parte integrado por artesãos, foi também um movimento comunitário centrado nos bairros e nutrido por uma rica vida nos bairros. Desde os levellers de Londres do século XVII, até os anarcossindicalistas de Barcelona de nosso século, a atividade radical esteve sustentada por fortes vínculos comunitários, e por um espaço público formado por ruas, praças e cafés. Essa vida municipal não pode ser ignorada na prática radical e deve ser recriada onde foi destruída pelo Estado moderno. Uma nova política, enraizada nos povoados, nos bairros, nas cidades e nas regiões, é a única alternativa viável ao parlamentarismo anêmico que está se infiltrando em vários partidos verdes e em outros movimentos sociais similares. Os movimentos estritamente sociais, comprometidos com questões específicas como o poder nuclear, limitam sua capacidade de convocação aos temas de que se ocupam. Esse tipo de militância não deve ser confundida com a atividade radical de longo prazo, necessária para transformar a consciência, e, em última instância, a própria sociedade. Tais movimentos têm uma existência efêmera ainda que consigam resultados positivos, pois carecem das bases institucionais necessárias para criar movimentos duradouros de transformação social, e carecem de um âmbito no qual ficar de forma permanente na luta política. Por outro lado, a municipalidade contém uma potencialidade explosiva. Criar redes locais e tratar de transformar as instituições municipais que ainda reproduzem o Estado, significa aceitar um desafio histórico, e realmente político, que existiu durante séculos. Certos movimentos sociais novos estão tratando de adquirir uma perspectiva política que os introduza na cena política, daí a facilidade com que migram para o parlamentarismo. Historicamente, a teoria libertária sempre esteve centrada nas “comunas”, as cidades livres reestruturadas que constituiriam o tecido celular de uma nova sociedade. Ignorar o potencial da “comuna” porque ela ainda não é livre, e impedir nosso acesso a ela com divisas eleitorais (mais apropriadas a uma época de movimentos de massa operários e camponeses) significa ignorar um âmbito político ainda inativo, mas que poderia dar vida e significado à grande aspiração libertária: uma comuna de comunas.

















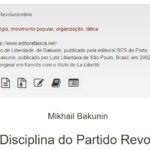








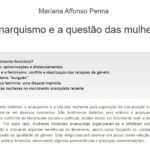
















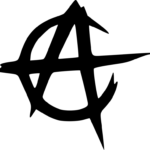







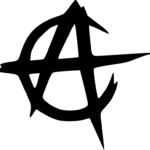



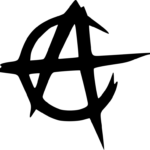



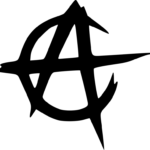
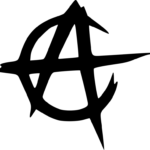












































Um comentário sobre “Sociedade, Política e Estado — Murray Bookchin”
Os comentários estão fechados.