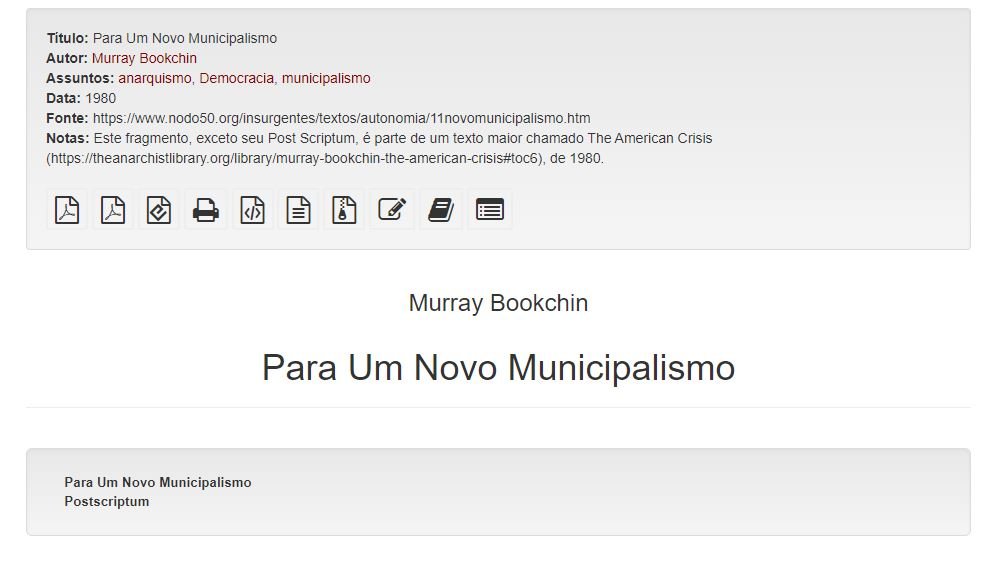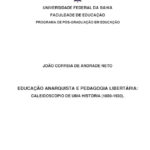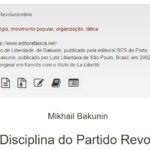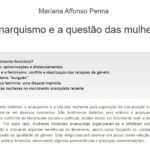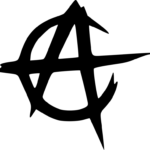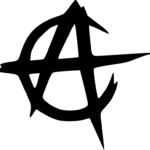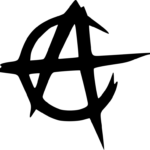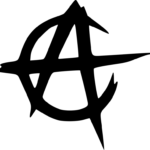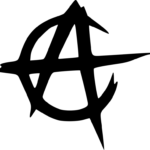Para Um Novo Municipalismo – Murray Bookchin
Para Um Novo Municipalismo
Dada a crescente centralização do estado e a depressão de todas as formas sociais, o problema do desenvolvimento de formas populares de organização social tornou-se a responsabilidade histórica de um movimento anarquista importante. O mito do “estado mínimo” proposto pelos neo-marxistas, pelos descentralizadores da “Nova Era” e pelos libertários da ala direita – por bem intencionadas que sejam as suas noções – é, em última instância, uma justificação do estado enquanto tal. Dentro do conceito da crise presente, qualquer estado mínimo torna-se uma ideologia ingênua para o único tipo de estado que é possível numa sociedade cibernética de grandes empresas – de fato, um estado máximo. Faz parte da própria dialética da presente situação que qualquer estado não possa ser mais “mínimo” que uma bomba de hidrogênio se não pode transformar num instrumento pacífico. Discutir o “tamanho” de um estado – as suas dimensões, grau de controle e funções – reflete a mesma sabedoria que é inerente ás discussões sobre o tamanho da arma que só pode levar ao extermínio da sociedade e da biosfera. O grau das discussões acerca do estado focando os seus objetivos e autoridade permanece num nível de discurso que é tão racional como as discussões sobre o nosso arsenal nuclear conterá armas para destruir o mundo, cinco, dez ou cinquenta vezes. Uma vez chega, quer para os arsenais nucleares, quer para o estado.
Se uma oposição descentralizadora ao estado, à arregimentação e militarização da sociedade americana quer ser de fato significativa, o termo “descentralização” deve então adquirir forma, estrutura, substância e coerência. Expressões como “escala humana” e “holismo” tornam-se clichês enfraquecidos quando não são compreendidas em termos da sua plena lógica revolucionária, isto é, como reconstrução revolucionária de todas as relações e instituições sociais; A criação de uma economia inteiramente nova, baseada não só na “democracia no local de trabalho” mas na esteticização das capacidades produtivas humanas; a abolição da hierarquia e dominação em todas as esferas da vida pessoal e social; a reintegração de todas as comunidades sociais e naturais num ecossistema comum. Esta projeto implica um corte total com a sociedade de mercado, as tecnologias dominantes, o estatismo, as sensibilidades patricêntricas e prometeicas para com os humanos e a natureza, que foram absorvidas e realçadas pela sociedade burguesa. Cada falso passo nesta direção, é uma falta grosseira em relação ao projeto e à sua essência. Ele admitiria inevitavelmente uma traição total, um apoio ideológico à centralização disfarçada em “descentralização”. Ou o projeto é levado à prática até aos seus mais radicais fins, ou ele entrará em conflito consigo próprio e com os seus objetivos originais.
Qual é o lugar autêntico deste projeto? Não é certamente o local de trabalho atual – a fábrica e o escritório- o qual tem que ser, ele próprio, reconstruído fundamentalmente, partindo do atual campo (hierárquico e tecnologicamente obsoleto) de mobilização da mão de obra, para um mundo criativo que se combine ricamente com a esfera pública e que transcenda o mero conflito de interesses econômicos. Neste sentido, o sindicalismo e o comunismo conselhista, ao perpetuarem o mito do local de trabalho como esfera revolucionária, tornam-se numa forma tosca de marxismo sem as suas manifestas características autoritárias. Tão pouco pede a localização deste projeto situar-se na comunidade isolada ou na cooperativa, a despeito das suas inestimáveis qualidades como escola para aprendizagem dos conhecimentos e resolução dos problemas de ação direta, autogestão e interação social. Nenhuma cooperativa de alimentação substituirá jamais as grandes cadeias de produtos alimentares como a Pão de Açúcar, e nenhuma fazenda de agricultura biológica substituirá os negociantes agrícolas sem que haja mudanças fundamentais na sociedade em geral. Como núcleos numa sociedade de mercado invasora, elas mal podem esperar enfrentar significativamente uma economia sólida e politizada, baseada em ótimos recursos materiais e, se necessário, na coerção física. Elas podem ser focos de resistência indispensáveis para enfrentar os novos desafios com que hoje se confronta uma oposição revolucionária. Mas a noção proudhoniana de que elas seriam o manancial material de uma nova sociedade que iria gradualmente substituir a velha é totalmente mítica – ou pior, obscurantista. Daí a sutil corrupção da visão do Stanford Research Institute de uma dupla sociedade: uma, pequena e autocomplacente, que viverá pelo cânones da “simplicidade voluntária”; a outra, sólida e esmagadora em números, que viverá pelas necessidades engendradas pela produção de massa e por uma sociedade de massa. Em última análise, esta imagem serve para desviar qualquer conflito que a esfera pessoal, com o argumento da confrontação com os media massificados que esmagam o espírito de resistência da grande maioria da sociedade.
A resistência e a recolonização da sociedade devem surgir da lógica de um conflito baseado claramente entre a sociedade e o estado centralizado, e não de esforços singulares que estão incorporados em esforços comunitários e pessoais. Todas as revoluções têm sido isso mesmo: um conflito entre a sociedade e o estado. E, tal como atualmente o estado centralizado significa o estado nacional, também a sociedade de hoje está a ser cada vez mais representada pela comunidade local – o distrito, a freguesia e o município. A exigência de um “controle local” deixou de significar paroquialismo e insularidade, com a estreiteza de visão que despertou os receios de Marx. No terreno gerado pelo crescimento de uma economia centralizada e cartelizada, o grito para a descoberta da comunidade, da autonomia, de uma relativa autossuficiência, autoconfiança e democracia direta, tornou-se o último reduto de resistência social e crescente autoridade do estado. O esmagador acento que os media têm posto na autonomia local e no municipalismo militante como refúgios para um paroquialismo de classe média – muitas vezes com restrições exclusivamente racistas e econômicas – esconde a latente ofensiva radical que pode dar uma nova vitalidade às aldeias, subúrbios e cidades, contra o estado nacional. Ainda que escolhamos termos como “socialismo” e “anarquismo” para marcar o contraste com as conotações paroquiais de termos como “municipalismo”, convém não esquecer que mesmo “socialismo” e “anarquismo” têm o seu lado negativo, se realçarmos os aspectos autoritários do primeiro e o falhanço crônico do último para se consolidar organizacionalmente na maior parte dos países do mundo. A verdade é, finalmente, uma linha muito fina que pode facilmente serpentear ao longo do seu curso. Neste aspecto, não existem regras, dogmas e tradições que substituam a consciência.
Deste modo, o município pode facilmente tornar-se o ponto de partida para uma constelação de instituições sociais largamente assentes na democracia direta, verdadeiramente popular e à escala humana, que, pela sua própria lógica, se encontrem em oposição aguda às crescentemente invasoras instituições políticas. Isto deve ser claro: o potencial de um radicalismo libertário é inerente ao municipalismo. Este constitui a base para relações sociais diretas, democracia frontal e a intervenção pessoal do indivíduo, para que as freguesias, comunidades e cooperativas converjam na formação de uma nova esfera pública. Liberto das suas próprias instituições políticas, tais como a sua estrutura presidencial, a burocracia civil e o seu monopólio organizado da violência, ele conserva ainda os seus elementos históricos para a reconstrução (e ulterior superação) da polis, da comuna livre medieval, do sistema de assembleia da Nova Inglaterra, das seções parisienses, da estrutura descentralizada cantonal e da Comuna de Paris.
De certeza que, em si, o município é tão inútil como força social como o são a fazenda comunitária e a cooperativa. Além disso, desde que ele preserve as instituições políticas do estado, permanece não só como uma entidade social ineficaz, mas também um estado em miniatura. Mas a partir do momento em que os municípios se federam para formar uma nova rede social; que interpretem o controle local com o significado de assembleias populares livres; que a autoconfiança signifique a coletivização dos recursos; e que, finalmente, a coordenação administrativa dos seus interesses comuns seja feita por delegados – não por “representantes” – que são livremente escolhidos e mandatados pelas suas assembleias, sujeitos a rotação, revogáveis e as suas atividades severamente limitadas à administração das políticas sempre decididas nas assembleias populares – a partir deste momento os municípios deixam de ser instituições políticas ou estatais em qualquer sentido do termo. A confederação destes municípios – uma comuna de comunas – é o único movimento social anarquista de ampla base que pode ser visionado hoje, aquele que poderá lançar um movimento verdadeiramente popular que produzirá a abolição do estado. É o único movimento que pode responder às crescentes exigências de todos os setores dominados da sociedade para dar poder e propor pragmaticamente a reconstrução de uma sociedade comunista libertária nos termos viscerais da nossa problemática social atual – a recuperação de uma personalidade poderosa, de uma esfera pública autêntica e de um conceito ativo e participativo de cidadania.
O anarquismo inspirou desde há várias gerações a visão de uma confederação de municipalidades, em parte desde os escritos de Proudhon, e mais notavelmente na obra de Kropotkin. Tragicamente, os teóricos anarquistas do passado foram demasiado sensíveis às armadilhas políticas dos municípios do seu tempo para darem a necessária atenção à anatomia social da municipalidade que jaz por debaixo da sua aparente fachada estatal.
Historicamente, o próprio município foi sempre um campo de batalha entre a sociedade e o estado. De fato, ele antecede historicamente o estado e tem permanecido sempre em conflito com ele. Tem sido um campo de batalha porque o estado, até data relativamente recente, nunca reclamou por inteiro o município, devido à sua vida socialmente rica – famílias, corporações, a igreja, as freguesias, as sociedades locais, os bairros e as assembleias populares. Estas estruturas ricas de núcleos, apesar das suas divisões internas, têm sido espantosamente impenetráveis à institucionalização política. Ironicamente, a tensão entre sociedade e estado a nível municipal nunca atingiu a situação grave de hoje porque as forças internas da cidade e dos subúrbios possuíam os meios materiais, culturais e espirituais para resistir às tendências invasoras das forças políticas. A vida municipal – ricamente texturizada por redes familiares, compromissos locais, organizações profissionais, sociedades populares e até estabelecimentos de convívio, como cafés – proporcionava um refúgio humano contra as forças burocráticas e homogeneizadoras do aparelho estatal. Hoje, o estado, particularmente o da forma de economia de mercado, ameaça destruir este refúgio e o municipalismo tornou-se o terreno mais significativo da luta contra o estado num terreno não-político. O próprio conceito de cidadania, e não só o de autonomia cívica, está em jogo neste conflito.
É neste momento crucial para qualquer movimento anarquista que procure ser socialmente relevante perante a natureza única da crise americana, reconhecer o significado e a importância do terreno cívico – para explorar, desenvolver e ajudar a reconstruir o seu fundamento social. A política urbana não está predestinada a tornar-se política de estado. Para um anarquista, tornar-se Ministro da Saúde ou Ministro da Justiça num governo republicano é imperdoável. Mas para um anarquista, ajudar a organizar uma assembleia de freguesia, a avançar a sua consciência numa linha libertária, apresentar reivindicações sobre a revogabilidade e a rotatividade dos delegados escolhidos pela assembleia, fazer distinções claras entre formulações de políticas e coordenação administrativa, recusar o burocratismo civil em todas as suas formas, educar a comunidade para o coletivismo e a ajuda mútua e, finalmente, encorajar relações confederais entre assembleias populares e municipalidade e entre municipalidades, em desafio aberto ao estado nacional – este programa constitui uma “política” anarquista que, na sua lógica própria, contém a negação da política. Para os anarquistas, candidatar-se às eleições… sim, usemos a palavra abertamente – tendo em vista a reformulação das cartas cívicas das cidades e vilas americanas na linha deste programa, não é diferente, em princípio, do que candidatar-se nos sindicatos e locais de trabalho com vista a criar estruturas anarcossindicalistas. A diferença de situações não é sobre o ponto dos anarquistas se candidatarem a “eleições” ou se envolverem na política. A diferença real está em se o terreno da sua “campanha eleitoral” e da sua “política” se situa na esfera estatal ou na esfera social. O argumento sindicalista tradicional de que é perfeitamente válido os libertários apresentarem-se às eleições no local de trabalho e nos sindicatos, assenta no pressuposto duvidoso de que este terreno está fora do aparelho de estado e permanece uma arena revolucionária. Perante a crescente interrogação posta pelas realidades, eles mantêm a afirmação de que o local de trabalho e os sindicatos, como organizações de classe, não são nem instituições burguesas nem estatais. Encerrar a discussão sobre estas propostas com o argumento de que as atividades cívicas são uma capitulação perante a política burguesa é ignorar realidades muito fortes sobre a própria esfera cívica – ou, para usar termos mais tradicionalmente anarquistas, sobre a esfera comunitária. Como resultado disto, aparências como “eleições”, “deputados”, e “coordenação” são tirados do contexto no qual ganham todo o sentido e conteúdo. Tornam-se termos autônomos e flutuantes que determinam uma política sem discernimento nem a matéria da realidade.
Isto deve ser muito claro: nos Estados Unidos, as fábricas são virtualmente mudas, enquanto que as cidades, particularmente os guetos e os subúrbios não estão. Hoje, os trabalhadores americanos podem ser atingidos mais rápida e receptivamente como vizinhos e cidadãos do que como trabalhadores assalariados das fábricas – uma situação que envolve consequências muito graves numa discussão sobre a classe operária americana. Se os grupos anarquistas dos Estados Unidos – apoiando-se nas suas tradições do século XIX, no seu ligeiro anti-estatismo e no seu economicismo – ignorarem o conflito histórico entre as periferias sociais chamadas vilas, freguesias e cidades, por um lado, e o estado, por outro, eles ganharão as suas bandeiras negras, não como bandeiras de protesto, mas como mortalhas. A demarcação entre estatismo e anarquismo deve ser sempre clara, mas também o deve ser a demarcação entre sociedade e estado, ou então não conheceremos nunca o tempo em que a batalha terá lugar. Na crise histórica com que nos confrontamos, que a própria vida pública ameaça fazer desaparecer, a recriação de uma esfera pública – à escala humana, diretamente democrática, e composta de cidadãos ativos – é talvez a responsabilidade mais premente do nosso tempo. Porque sem essa esfera pública, que deve ter tangibilidade cívica e substância se quiser ser mais do que simples metáfora, as próprias condições e substância para o protesto teriam desaparecido.
Postscriptum
O último número de Comment terminava com uma discussão sobre o “novo municipalismo”como projeto focal do anarquismo para os anos futuros. Parece apropriada uma discussão sobre o tema “anarquismo: passado e presente”, tratando, embora levemente, os problemas que este projeto levanta e a filosofia libertária que lhe serve de base.
Existem dois campos que o anarquismo reclamou historicamente para a sua intervenção: o local de trabalho e a comunidade. Tanto na oficina artesanal como na povoação, na fábrica como no conselho, a teoria anarquista sugere, quando não afirma explicitamente, que ambos estes campos são mais sociais do que estatais. O local de trabalho, particularmente a fábrica industrial, encontrou a sua apoteose nos sindicatos anarcossindicalistas e nos diversos movimentos para a “democracia no local de trabalho”. Se este campo pode olhar-se hoje como “necessariamente” ou “potencialmente” revolucionário, é uma questão em aberto que requer uma discussão aparte e é agora assunto de largo debate, quer nos meios marxistas, quer nos meios anarquistas. Que lideres anarcossindicalistas possam ter ocupado altos cargos estatais não é argumento que invalide a interpretação sindicalista das ideias anarquistas, tal como o não é o fato de que os mutualistas e possibilistas do século XIX – que privilegiaram a atividade municipal – possam ter sido atraídos para a política parlamentar.
Será que o que é realmente importante é o significado por nós atribuído ao novo municipalismo? os anarquistas tradicionais tinham da vida municipal a visão de um parlamentarismo local, cujos fins últimos estavam na política eleitoral. Será assim? Também se poderá argumentar que o sindicalismo, de qualquer tipo, envolve uma adaptação à hierarquia industrial e à racionalização, e conduz em última instância, a uma política de sindicatos burocratizados – um argumento que tem mais história atrás de si, do que a atividade municipal. Nós devemos ser muito honestos conosco mesmos, neste período crucial da história. Se um movimento anarquista nos Estados Unidos não se torna uma coligação livre de indivíduos, comunidades, cooperativas e grupos de afinidade – vitais como são a própria natureza e integridade de um tal movimento – ele não poderá implantar-se numa larga base de desenvolvimento social. E tal desenvolvimento compreende a esmagadora realidade de que a grande maioria dos americanos vive numa ou noutra forma de fixação urbana. Convém realçar que, se um novo municipalismo apenas significar uma política liberal, social-democrática ou mesmo “radical”, confinada à melhoria dos serviços para os pobres, idosos e desprotegidos, então ele será um remendo do reformismo paroquial que, finalmente, fornecerá uma maquiagem ao sistema, em vez de o desafiar. Mas se um novo municipalismo for guiado por um programa radicalmente diferente, ele pode tornar-se numa visão revolucionária praticável e muito necessária que engloba respostas ecológicas, feministas, étnicas, homossexuais e cívicas libertárias – com o caráter fundamental de serem respostas cívicas, ou, mais precisamente, comunitárias.
Os requisitos minimamente indispensáveis para a realização desta visão são:
1- a formação de um movimento anarquista de elevado comprometimento e altamente consciente. Sem o desenvolvimento desse movimento, antes de tudo, o municipalismo degenerará inevitavelmente em reformismo e parlamentarismo;
2- o encorajamento e desenvolvimento de assembleias populares em áreas urbanas e conselhos;
3- e só então, poderia esta visão ser corporizada num movimento consciente largamente apoiado, uma Confederação de Municípios, que interligasse aquelas assembleias com comunidades urbanas mais vastas e, por fim, entre municipalidades que contestassem o estado e o governo nacionais, consciente e radicalmente. As suas reivindicações: a reformulação das cartas cívicas de todas as cidades e vilas, para eleger (com direito a revogação e com rotatividade) os deputados conselhos a partir das assembleias populares, encarregando-os de funções mais administrativas do que políticas. Estas novas cartas, estando em franca contradição com a “Constituição” Federal, dariam às municipalidades o direito de municipalizar a indústria, os solos e o comércio; de determinar as suas necessidades sociais e de satisfaze-las; e finalmente de suplantar as instituições nacionais do estado pelas instituições confederais das comunidades locais.
É nesta base que um novo anarquismo americano se pode e deve fundamentar para adquirir a relevância, a influência e o potencial revolucionário capaz de enfrentar a crise que se lhe deparará. Não perceber que o anarquismo pode orientar a maré de um ódio popular irresistível (não se pode descrevê-lo de outra maneira) contra a centralização, burocratização e interferência governamental em todos os aspectos da vida; não perceber este fato determinante, seria uma incrível miopia e condenaria o anarquismo ao destino de uma mera tendência periférica na orla de uma monumental tempestade social.
Em 19 de Abril de 1871, a Comuna de Paris proclamou no seu Programa Oficial ao Povo de França: “Exigimos a total autonomia da Comuna, extensiva a todo o território de França, assegurando a cada um a plenitude dos seus direitos, e a todos os franceses a livre expressão das suas faculdades como homem, como cidadão e como trabalhador”. Sabendo que estas proclamações foram feitas há um século, podemos pedir menos do que isto?
Para Um Novo Municipalismo – Murray Bookchin