Anarquismo como teoria moral: Práxis, propriedade e o pós-moderno – Randall Amster
Este ensaio explora a perspectiva de alcançar uma moralidade não coercitiva que possa permitir a realização simultânea de liberdade individual máxima e comunidade estável, através da exposição de uma teoria anarquista baseada em uma “consciência-ética” subjetiva, uma tendência inerente à sociabilidade e à “ajuda mútua”, e “usufruto” normativo na propriedade. Parte do projeto envolve o desenvolvimento de uma síntese reflexiva entre os dois fins aparentemente contraditórios de “indivíduo” e “comunidade”, concluindo que apenas uma “ordem social” anarquista que integra o eu, a sociedade e a natureza pode resolver essa tensão aparente. A este respeito, um argumento é avançado aqui para uma materialidade comumente mantida (derivando do “estado de natureza”) que estabelece a estrutura para uma visão normativa de propriedade e posse. O ensaio conclui com uma avaliação da eficácia de um acordo entre a teoria moral anarquista e o pós-estruturalismo.
Introdução: A Persistência do Inquérito Moral
A história humana e o raciocínio moral estão inextricavelmente ligados a tal ponto que é quase impossível discutir o primeiro – seja na avaliação do passado ou na especulação sobre o futuro – sem referência ao segundo. Mesmo teorias proeminentes costumam ser caracterizadas como a-morais, como a previsão de Nietzsche do “advento do niilismo”, seu pronunciamento de que “Deus está morto”, e sua afirmação de que finalmente testemunhamos o “fim da interpretação moral do mundo” (Kaufmann, ed., 1956), requer, no entanto, referência a um arcabouço moral mesmo que apenas como meio de aduzir uma crítica da religião, autoritarismo ou ética forma. Por mais que tentasse, Nietzsche não pode escapar da primazia da moralidade, uma vez que os seres humanos foram e sempre serão inseridos em uma rede de processos morais; De fato, como Piotr Kropotkin, o gentil príncipe, mostrou através de sua extensa pesquisa biológica e zoológica sobre Ética (1992), o impulso moral na natureza precede a existência da vida humana. Os primeiros seres humanos, de acordo com Kropotkin, desenvolveram o desejo moral observando os processos da natureza, “e assim que começaram a trazer alguma ordem para suas observações da natureza e para transmiti-los à posteridade, os animais e sua vida forneciam-lhes os materiais principais para sua enciclopédia não escrita de conhecimento, bem como para sua sabedoria, que expressavam em provérbios e ditos ”(1992: 50). A natureza humana, então, como parte da grande teia da vida natural e seus processos complexos, foi e sempre será imbuída do impulso moral.
Para Kropotkin, as lições morais que os humanos derivam da natureza incluem: socialidade; uma proibição contra matar o próprio tipo; o clã, parentesco ou estrutura tribal; as vantagens do esforço comum; Diversão; e uma noção de reciprocidade na retribuição de atos ilícitos (1992: 51–9). Nesta visão, a tendência geral na natureza para a “ajuda mútua” – e não a competição, como os darwinistas sociais argumentaram – ativou principalmente a sobrevivência de espécies no reino animal, incluindo, é claro, a espécie Homo. Assim, enquanto o caráter preciso das indagações éticas muda com o tempo, com cada desenvolvimento na ciência, tecnologia e controle social trazendo consigo novos e mais difíceis desafios morais, a natureza onipresente da própria investigação moral é constante. Em nosso mundo pós-moderno, mudando a cada minuto à medida que a nanotecnologia e as comunicações globais instantâneas refazem continuamente as paisagens sociais e materiais, enfrentamos uma urgência sem precedentes na esfera do raciocínio moral, muitas vezes manifestada em um senso penetrante de deslocamento individual e ansiedade coletiva. A exortação de Nietzsche a “Viver Perigosamente” capta um pouco da angústia de nossa época e, nessa noção, começamos a compreender a essência da praxis como um meio de lidar com um mundo em constante mudança e como a própria essência da crença de que “a filosofia deve ser vivida” (Kaufmann, ed., 1956: 51). “Praxis”, então, é simplesmente o desenvolvimento consciente de um impulso moral inerente na natureza que antecede até mesmo a nossa própria existência humana.
Deve-se notar, entretanto, que para toda a sua percepção da moralidade natural e dos processos das comunidades biológicas, Kropotkin nunca formulou uma ética que incluísse a própria Terra em seu cálculo, mas em vez disso expressava, como George Woodcock observa, “um uma espécie de otimismo acrítico de que os recursos da Terra são ilimitados ”(em Kropotkin 1993: 125). Hoje nós possuímos uma compreensão mais profunda da interdependência de todos os processos da vida no planeta e da natureza tênue de nossa própria sobrevivência como uma função de desrespeitar essa interconexão natural e, consequentemente, nossas investigações morais atuais devem refletir esse conhecimento ecológico (ver Rogers 1994). Assim, em meio a nossas especulações morais sobre a natureza do governo, lei, sociedade e propriedade, existe um fundamento onipresente que pressupõe a incorporação da humanidade nos processos da “natureza”, manifestada na primazia da sociabilidade e da ajuda mútua entre os seres humanos, também como no reconhecimento de que essas mesmas prioridades se aplicam igualmente às nossas relações com a natureza não humana. E isso, eu acho, é o principal valor do anarquismo para o raciocínio moral: desafiando concepções estabelecidas de autoridade e iluminando a persistência da desigualdade na sociedade civil, o anarquismo permite simultaneamente uma investigação mais profunda sobre como esses mesmos processos hierárquicos “humanos” impactam o equilíbrio da vida no planeta. Sob essa luz, a moralidade humana e a moralidade natural são tidas como coevas, derivadas do mesmo lugar inicial – e com esse entendimento podemos empreender uma análise significativa dos contornos da política, da práxis e da propriedade na era pós-moderna.
Meios e Fins: Confiança, Violência e o Estado Mínimo
No início, muitas vezes me perguntam as questões “políticas” – ostensivamente para propósitos de definição – se “anarquista” e “libertário” são termos intercambiáveis, e se o anarquismo é alguma forma de comunismo. Podemos até encontrar referências aos anarquistas como “comunistas libertários” na literatura (Guerin 1989: 118), apontando as dificuldades inerentes a todas as tentativas de categorização. Não obstante, para fins de análise, os “liberalistas” geralmente favorecem, nas palavras de Robert Nozick (1974), “o estado mínimo”, e colocam grande ênfase na liberdade máxima como o objetivo principal da sociedade civil. O Estado mínimo liberalistaI, no entanto, é perturbador no início se levarmos a sério a crítica anarquista do estatismo. Mas a questão persiste: por que não um Estado mínimo (“vigia noturno”), acusado apenas de proteção e fiscalização? A resposta é tripla. Primeiro, precisamos investigar: proteção e fiscalização de quê? Quando entendemos que o liberalista está concebendo um aparato estatal para proteger os interesses da propriedade privada e fazer valer o mesmo, notamos imediatamente uma divergência da tradição anarquista enunciada por muitos teóricos, incluindo Proudhon, Kropotkin e Emma Goldman.
A segunda resposta a Nozick centra-se na nossa visão da agência humana. A presença de um Estado mínimo que mantenha o monopólio da força de proteção (de pessoa e propriedade) e da execução (de contratos e obrigações) implica que seus súditos não estejam preparados para se regularem; isto é, que os sujeitos do estado mínimo não são considerados moralmente auto-direcionados. Na mesma linha, o liberalista está preocupado principalmente com a liberdade negativa – liberdade de coerção, interferência e obstáculos; enquanto o anarquista está interessado principalmente na liberdade positiva – a liberdade de ser autodeterminante de acordo com uma “vontade” individual. A distinção é importante e, novamente, reflete uma diferença fundamental em como vemos a agência. O liberalista começa com a presunção da necessidade de um Estado social forte (daí uma visão fraca do sujeito), trabalha a partir daí, e fica satisfeito ao atingir o estado mínimo; de fato, os libertários não ousam ir além, se levarem a sério suas raízes lockeanas (proto-liberais).
O anarquista, por outro lado, começa a partir de uma perspectiva de apatridia, o estado mais fraco possível (daí uma visão forte do assunto), e pergunta se precisamos nos erguer.
Esta é uma declaração justa da posição do liberalista? Em Anarquia, Estado e Utopia, Nozick pretende construir “para cima” do estado lockeano (sem Estado) da natureza, através do Estado ultraminimal (proteção apenas para aqueles que pagam por ele), e finalmente se estabelece quando ele atinge o Estado mínimo (1974: 3–25). Da mesma forma, Hobbes, o próprio Locke e até mesmo Rousseau começam a partir de um estado teórico da natureza, constroem e parecem construir-se para o Estado social. Será afirmado aqui, no entanto, que os teóricos do contrato social não estavam tentando mostrar como o Estado naturalmente cresceria de uma condição de apatridia primitiva, mas ao invés disso estavam tentando uma justificação revisionista de um Estado social já existente. A metáfora do estado de natureza, então, vista sob essa luz, é, na melhor das hipóteses, um bom artifício expositivo e, na pior das hipóteses, um ardiloso truque literário destinado a desviar a atenção dos verdadeiros objetivos de seus protagonistas. O liberalista então, e em particular Nozick, parte de um constructo que parece à primeira vista ser a partir do zero, mas na realidade funciona de cima para baixo.
A terceira objeção até mesmo ao Estado mínimo centra-se no que poderíamos chamar de “confiança”. A presença do aparato do Estado, sob qualquer forma, inculcará uma tendência à abdicação em seus súditos, algo semelhante ao que Thoreau descreveu como resignar a consciência de alguém à legislatura (1965: 252). Por exemplo, o Estado mínimo, tal como concebido por Nozick, ocupa os campos de proteção e fiscalização. O provável efeito líquido ao longo do tempo é que os sujeitos de tal Estado se tornarão cada vez mais “confiantes” na provisão estatal desses serviços básicos, e que as habilidades dos sujeitos de proteger e fiscalizar atrofiarão ou nunca se desenvolverão. Como Michael Taylor (1987: 168–69) observa, “quanto mais o Estado intervém … quanto mais ‘necessário’ se torna, porque o altruísmo positivo e o comportamento cooperativo voluntário atrofiam-se na presença do Estado e crescem na sua ausência … Homens que vivem por muito tempo sob o governo e sua burocracia, tribunais e policiais, passam a confiar neles. Eles acham mais fácil (e em alguns casos estão legalmente obrigados) a usar o Estado para a resolução de suas disputas e para a provisão de bens públicos, em vez de organizar essas coisas para eles mesmos”. Da mesma forma, Zygmunt Bauman (1993: 31): “A tentativa de tornar os indivíduos universalmente morais, transferindo suas responsabilidades para os legisladores, falhou, assim como a promessa de tornar todos livres no processo”.
Um objetivo principal da praxis anarquista, então, deve ser a abolição das leis formais e codificadas: “Anarquismo … desde o tempo de Godwin rejeitou todas as leis escritas ”(Kropotkin 1968: 176). Em vez disso, a comunidade seria “regulada por costumes, hábitos e usos” (1968: 201), bem como os impulsos de consciência experimentados por cada um de seus membros. A visão anarquista, mais uma vez, é que a referência às leis escritas externas representa uma abdicação da capacidade de autodireção moral do sujeito – um elemento essencial de uma ordem social sem coerção institucional. Como Kropotkin opina (1968: 197): “Somos tão pervertidos por uma educação que desde a infância procura matar em nós o espírito de revolta e desenvolver a submissão à autoridade; Somos tão pervertidos por esta existência sob a virola de uma lei, que regula todos os eventos da vida – nosso nascimento, nossa educação, nosso desenvolvimento, nosso amor, nossa amizade – que, se esse estado de coisas continuar, perderemos toda a iniciativa, todo o hábito de pensar por nós mesmos”. Além disso, as leis codificadas exigem algum corpo institucional para administração e aplicação, enquanto as normas sociais internalizadas podem servir para cultivar instintos mais profundos para determinar “certo” e “errado”, promovendo acesso mais amplo ao pulso moral da comunidade.
Sob esta luz, torna-se aparente que mesmo o “Estado mínimo” – com suas leis e mecanismos de direitos de propriedade e execução – gerará um momentum que deve ser encarado com profunda desconfiança pelo anarquista. Este ponto fornece ainda uma transição adequada para o desenvolvimento de uma importante distinção entre o marxismo e o anarquismo. Na visão bem conhecida do primeiro, uma série de “revoluções” históricas trará uma eventual ditadura do proletariado, e então esse Estado socialista “murchará”, deixando uma utopia comunista aparentemente apátrida. Há muito que o anarquista gosta no final, conforme predito por Marx; o problema, no entanto, está nos meios. Se o anarquista é meramente suspeito do Estado mínimo liberalista, então o Estado socialista marxista (que é um Estado ainda mais forte do que aquele que suplanta) deveria ser profundamente desconcertante. Por qual mágica o Estado vai desaparecer? O espectro de confiança que leva ao entrincheiramento e à atrofia assombra essa visão do Estado socialista (cf. maio de 1989: 170). Além disso, o marxista está “totalmente preparado para permitir a necessidade de meios duros para alcançar fins nobres”(Lukes 1985: 105). Não é assim que o anarquista, para assumir a visão purista de Emma Goldman, que sustenta que “nenhuma revolução pode ter sucesso como um fator de liberação a menos que os meios usados para promovê-la sejam idênticos em espírito e tendência com os propósitos a serem alcançados” (id., citando Goldman 1925: 261) (ver também Tolstoy 1990: 16). Assim, se a coerção, a dominação, a hierarquia e a violência são evitadas como fins, não devemos respeitá-las como meios, por mais nobre que seja o objetivo.
Consciência, Comunidade e Karma
Relacionado a esta questão de meios e fins, em seguida consideramos a tensão desconfortável no pensamento anarquista entre a prioridade do indivíduo e a necessidade de comunidade (como, por exemplo, no ensaio de Robert Paul Wolff Em Defesa do Anarquismo (1970), no qual ele lida com a tarefa de reconciliar o conflito entre autoridade e autonomia). Alguns escritores até construíram campos dentro da teoria anarquista, dando-nos categorias como “anarquista individualista” ou “egoísmo anarquista” e “anarquismo coletivo” ou “anarquismo comunitário”. Esse enigma da rotulagem aponta uma dificuldade fundamental com a qual os pensadores anarquistas lutaram: como conciliar o individualismo maximamente livre com a necessidade prática da comunidade social. Esse é o “dilema genuíno do anarquismo”, em que frequentemente parece que “a Comunidade se nega, ou, pelo menos, é instável ou obrigada a recorrer a métodos não-anarquistas de controle social” (Condit 1987: 56).
A comunidade é, então, inimiga da liberdade? Ritter nos dá um bom relato da noção anarquista de “censura pública”, intencionada como um meio não autoritário de assegurar o cumprimento das normas da comunidade e inculcar o mesmo (1980: 25–39). Mas mesmo a censura pode ser coercitiva, e pode ter um efeito inibidor sobre a liberdade que é talvez mais tirânico do que o aparato estatal que ela substitui – qualidades decididamente não-anarquistas. Parece que estamos de volta ao dilema. O problema, no entanto, está na direção da coerção: a censura, como a coerção sancionada pelo Estado, opera da comunidade para o indivíduo. Fomos capazes de conceber um mecanismo dirigido para o exterior, algo originário do indivíduo e apenas secundariamente refletido na comunidade, talvez a dificuldade seja resolvida.
A esse respeito, entre alguns escritores anarquistas contemporâneos, observamos formulações que se assemelham a uma estrutura moral kantiana. Stephen Condit, por exemplo, afirma que “Autonomia implica, no mínimo, ações intencionais de uma pessoa com base em uma deliberação racional de seus princípios e objetivos, seu compromisso com os meios necessários a eles e sua justificação moral dos meios em si” (1987: 55). Taylor nos diz que a autonomia compreende a racionalidade e a autenticidade, com ações autênticas definidas como aquelas que “coesas” com o “eu essencial” de uma pessoa, isto é, quando tais ações expressam um caráter que foi criticamente adotado ou afirmado (1982: 148–50). Crowder também sugere um eu “autêntico” como “aquela parte da personalidade que quer a ação moralmente correta”, composta de (a) racionalidade e (b) virtude (1991: 10–11). E Wolff baseia seu “anarquismo filosófico” em uma versão explicitamente kantiana de “autonomia moral” que inclui os encargos de “adquirir conhecimento, refletir sobre motivos, prever resultados, [e] criticar princípios” (1970: 12–18). Deixando de lado suas bases liberais, essas teorias oferecem uma solução potencial para o “dilema genuíno do anarquismo” ao conceber a moralidade como pessoal, subjetiva e não primariamente como produto de coerção ou indução externa. É claro que não precisamos nos limitar apenas às noções kantianas de “autonomia” que assimilam as regras convencionais (ou sociais), mas também considerar a eficácia de um “indivíduo autônomo nietzscheano, aquele que cria e impõe cânones feitos por si mesmos”. (Palmer 1993: 579).
Aplicado ao nosso dilema indivíduo-comunidade, o valor de tal “consciência-ética” é aparente. Podemos agora ser capazes de apreender a possibilidade de uma comunidade de indivíduos autônomos moralmente autodirigidos. É claro que a censura pública ainda será, às vezes, empregada em qualquer comunidade sub-utópica, mas construindo nosso aparato “coercitivo” do indivíduo externo, e não trazidos da comunidade para o indivíduo, podemos assegurar que meios como a censura serão empregados apenas secundariamente, e mesmo assim como exceção e não a regra. Só assim, de baixo para cima, é possível vislumbrar uma verdadeira comunidade de indivíduos livres, moralmente autoguiados. Como Bauman (1993: 61) observa: “Se a solidão marca o começo do ato moral, a união e a comunhão emergem em seu final – como a união do ‘partido moral’, a realização de pessoas morais solitárias que vão além de sua solidão no ato de auto-sacrifício que é tanto o eixo e a expressão de ‘ser para’. Nós não somos graças morais à sociedade; Nós vivemos na sociedade, somos sociedade, graças a ser moral. No coração da sociabilidade está a solidão da pessoa moral. Antes da sociedade, seus legisladores e seus filósofos desceram para soletrar seus princípios éticos, existem seres que foram morais sem o constrangimento da bondade codificada”.
Assim, por exemplo, considere como o conceito de “autoridade” pode ser visto em uma comunidade anarquista. Em Anarquismo Social, Giovanni Baldelli nos fornece um guia pronto: (1) “O poder coercitivo deve ser reduzido ao mínimo e colocar o maior número de mãos possível”; (2) “As reivindicações de autoridade devem ser rejeitadas se forem estabelecidas pela força”; (3) “Cada autoridade deve responder a várias outras que são igualmente responsáveis por várias outras”; (4) “Nenhuma pessoa em seu relacionamento com outro deve ser isenta de julgamento por um terceiro”; (5) “Poder esmagador deve sempre ser com o terceiro”; e (6) “O acesso a um terceiro, disponível a todos, deve ser para muitos terceiros, não para um só” (1971: 86–8). Nesta formulação, a integridade e a prioridade do indivíduo são mantidas ao conceber a autoridade e o poder como difusos e acessíveis a todos os membros, enquanto ainda permite que a comunidade enquanto comunidade funcione como deve.
Além disso, ausente a autoridade central, a cooperação na comunidade provavelmente se desenvolverá e sustentará desde a consciência autônoma, ao ser chamada a considerar o impacto de suas ações, necessariamente explica os interesses dos outros (na verdade, da própria “natureza”) antes de orientar as ações do eu moral. Nesse sentido, pode-se dizer que a consciência-ética incorpora um espírito de mutualidade, uma preocupação com o que Bauman chama de “o Outro”: “Ser uma pessoa moral significa que eu sou o guardião do meu irmão” (1993: 51). Kropotkin, em sua conhecida Mutual Aid (1972), fez grandes esforços para mostrar que a mutualidade é a norma dominante entre as criaturas da Terra, argumentando em resposta à biologia darwiniana que a ajuda mútua e não apenas a competição permitiu que a maioria das espécies avançadas sobrevivesse, e também observou em um trabalho anterior sobre “Moralidade Anarquista” (1993: 139) que “O sentimento de solidariedade é a principal característica de todos os animais que vivem na sociedade”. E Todd May vê o “a priori do anarquismo tradicional: confiança no indivíduo” no sentimento de que “deixados à própria sorte, os indivíduos têm uma habilidade natural – na verdade uma propensão – de criar arranjos sociais que sejam justos e eficientes”(1989: 171).
Eu tentei aqui mostrar que o agente humano na teoria anarquista é ao mesmo tempo individualista e orientado para a comunidade, e que a sociedade composta por tais agentes é igualmente construída reflexivamente. A imagem é uma das camadas, com a “consciência” como a primeira onda de assegurar a conduta moral e a comunidade secundariamente envolvida. Quais são os assuntos “não coagidos” pelo eu ou pelo coletivo? Se a liberdade deve ser levada a sério, isso significa que alguém é livre para cometer genocídio ou se tornar um ditador? A resposta para o anarquista consistente é que a interação das duas primeiras camadas conseguirá cultivar agentes morais auto-direcionados e sujeitos de mentalidade comunitária; aqueles poucos que permanecem sem ser persuadidos pela consciência interna ou encorajamento público (seja na forma de “censura” ou mesmo apenas no desejo de socialidade) e ao invés disso persistem em comportamento predatório e não-anarquista, são consignados a respeitar o karma que se liga à sua conduta. Qualquer outra resposta é mais prejudicial do que a que se pretende evitar.
Assim, construímos uma formulação anarquista tripartida – consciência, comunidade e carma – ao defender a auto-orientação moral. Mas nós fomos longe demais em fazer isso? Já posso ouvir resmungos sobre o universalismo, os fundamentos e a representação surgindo das asas do pós-modernismo. O agente moral autônomo vislumbrado aqui, no entanto, é fundamental apenas no sentido do mecanismo empregado: a consciência. É importante que este ponto seja claramente entendido. O argumento é que existe um aparato comum, algo universalmente inerente à existência e à consciência (como uma função do impulso moral na natureza) que é suficiente para manter unida uma comunidade de indivíduos. Mas não existe um código ético rígido, nenhum privilégio de um conjunto de princípios sobre outro. De fato, de um lugar para outro e em momentos diferentes, os padrões e expectativas da comunidade mudarão; Da mesma forma, de pessoa para pessoa, os impulsos de consciência variam. Nesse sentido, estamos concebendo um imperativo pessoal e subjetivo de moralidade. Que a maioria atingirá as mesmas ou semelhantes conclusões morais, não significa que tenhamos adotado o universalismo; significa apenas que as pessoas são mais parecidas do que diferentes, e que a sociabilidade e a reciprocidade são impulsos morais fundamentais manifestados na “consciência de uma solidariedade humana dominante” (Read 1954: 155). Como Kropotkin observa (1993: 144–45): “Não temos medo de renunciar a juízes e suas sentenças. Nós renunciamos a sanções de todos os tipos, até obrigações à moralidade. Não temos medo de dizer: ‘Faça o que quiser; agir como você quiser; porque estamos persuadidos de que a grande maioria da humanidade, em proporção ao seu grau de iluminação e à completude com a qual se libertam dos grilhões existentes, se comportará e agirá sempre em uma direção útil à sociedade … Tudo o que podemos fazer é dar conselhos”. E, novamente, ao darmos, acrescentamos: “Este conselho não terá valor se a sua própria experiência e observação não levar você a reconhecer que vale a pena seguir”.
Propriedade e Materialidade
Uma questão relacionada frequentemente levantada em objeção ao anarquismo é: Como uma sociedade pode alcançar a produção, distribuição e manutenção de bens públicos, sem uma autoridade central? Em outras palavras: Como indivíduos livres podem ser encorajados a trabalhar e prover a “utilidade pública” sem coerção, seja negativa (punição) ou positiva (ganho pessoal)? O problema com essas consultas é que elas estão invertidas; A verdadeira questão é como uma sociedade baseada na coerção e autoridade central pode produzir, distribuir e manter indivíduos livres. Uma consulta semelhante diz respeito ao problema do “free rider”: como uma sociedade sem estado pode impedir que aqueles que não participam do trabalho compartilhem os bens públicos produzidos por tal trabalho? Mais uma vez, a questão é mal colocada; em vez disso, podemos indagar como uma sociedade estatal pode justificar a exclusão de certos indivíduos do acesso ao gozo de bens públicos. Na sociedade anarquista, todos os bens – materiais e intangíveis – são, em certo sentido, públicos, como consequência da abolição do tipo de propriedade privada que veio a tipificar as sociedades capitalistas liberais. A questão gira, então, em como chegamos a definir propriedade na teoria anarquista, e em como vemos os direitos e responsabilidades do indivíduo na produção e manutenção de bens públicos. Esta seção se esforça para fornecer algumas respostas preliminares.
Um lugar adequado para iniciar uma análise de bens e propriedades públicas é com o “estado de natureza”, um construto metafórico mais proeminentemente empregado nas teorias do “contrato social” de Hobbes, Locke e Rousseau, entre outros. Como observado acima, na Anarquia, o Estado e a Utopia Nozick ostensivamente constroem “para cima” do estado lockeano (sem estado) da natureza, através do “estado ultramoderno” (proteção somente para aqueles que pagam por ele), e finalmente se estabelece quando ele alcança o “Estado mínimo” (1974: 3–25), em paralelo aos modelos dos primeiros contratados sociais que começaram a partir de um construto do estado de natureza e pareciam construir “para cima” ao derivar o Estado social. Tem sido argumentado, no entanto, que os teóricos do contrato social não estavam tentando mostrar como o Estado naturalmente cresceria de uma condição de apatridia primitiva, mas ao invés disso estavam tentando uma justificação revisionista de um Estado social já existente. Os pontos de partida para os contratados sociais na realidade eram (I) um preconceito do sujeito como atomístico e racionalmente autointeressado, e (ii) a existência de um Estado social florescente forte cujo objetivo era galvanizar esses agentes atomísticos sob o guarda-chuva de uma economia de mercado livre crescente. Nozick, então, espelhando o revisionismo dos contratantes sociais, professa estar trabalhando de baixo para cima (isto é, a apatridia primitiva) na construção de seu “Estado mínimo”, quando de fato o oposto é verdadeiro – com o efeito líquido de que Nozick aparece como um mero apologista do Estado neo-conservador do laissez-faire. Como Stephen Condit (1987: 159–63) afirma: “O que ele está especificamente tentando fazer é fornecer razões para a distribuição existente de propriedade e capacidades econômicas … No final, Nozick está falando apenas para aquelas pessoas que já possuem domínios de propriedades efetivas, e que vestem seu interesse ideológico como um raciocínio filosófico”.
Em contraste com Nozick, que começa com a estrutura de Locke, muitos teóricos anarquistas tomam a formulação de Rousseau como seu ponto de partida (por exemplo, Condit 1987), mas mesmo este turno é problemático, já que ele também foi culpado de tal apologia revisionista. Assim, na medida em que invocamos a construção do estado de natureza, não é para justificar as noções preconcebidas de agência e sociedade, mas sim para ilustrar concretamente as raízes naturalistas de nossa concepção de materialidade. A ênfase, então, não está no “estado”, mas na “natureza” e, a partir disso, talvez possamos derivar uma teoria abrangente da propriedade normativa.
Em Um Discurso sobre a Origem da Desigualdade, Rousseau (1973) desenvolve um quadro caprichoso do estado de natureza, um tempo e lugar onde a vida era simples, regular e boa. O que estava faltando, no entanto, e o que finalmente forçou a humanidade a sair deste Éden e entrar nas cadeias do Estado social, foi a imaginação, uma mente pesquisadora, filosofia e reconhecimento; a fisicalidade simples da vida no estado da natureza não era suficiente para saciar os crescentes impulsos intelectuais, emocionais e linguísticos até mesmo de seus habitantes “selvagens”. Assim, partimos desse estado de natureza, abrindo mão de nossa liberdade natural e do direito a qualquer coisa que nos tentasse, em favor de um Estado social que nos concedesse “liberdade civil e o direito legal de propriedade” naquilo que possuímos. A figura que Rousseau desenhou retrata o homem primitivo como distinto de seu ambiente, como atomístico e não-comunal, e como intelectualmente deficiente. Entre muitas culturas “indígenas” ou “primitivas”, no entanto, observamos exatamente o oposto: a natureza é sagrada, a comunidade essencial e a filosofia integral. Assim como Locke antes dele, Rousseau vê a natureza e seus primeiros habitantes através dos olhos de um colonialista. O erro está em como ele concebe a humanidade vis-à-vis a natureza: Um agente atomista estará em desacordo com seu ambiente, uma vez que ameaça sua singularidade; um sujeito interessado em si mesmo adotará necessariamente uma visão de mundo antropocêntrica.
A formulação lockeana adotada por Nozick é ainda mais preocupante, pois, para Locke, “natureza” é vista como algo a ser apropriado, fechado e possuído (poderíamos dizer que Locke transforma a “guerra de todos contra todos” de Hobbes em uma “guerra de todos contra a natureza”). A teoria do direito de Nozick baseia-se na suposição de que, se todas as posses forem justamente mantidas (o que significa que elas foram adquiridas de acordo com uma condição lockeana modificada, e transferido justamente ao longo de sua história), então uma distribuição existente de propriedades é justa (1974: 150–82). Uma falha substancial nesse argumento, como Alasdair MacIntyre observa, é que isso significa que “na verdade, são poucos e, em algumas grandes áreas do mundo, nenhum direito legítimo. Os proprietários do mundo moderno não são os legítimos herdeiros de indivíduos lockeanos que realizaram quase-lockeanos … atos de aquisição original; eles são os herdeiros daqueles que, por exemplo, roubaram e usaram a violência para roubar as terras comuns da Inglaterra das pessoas comuns, vastas extensões da América do Norte do índio americano, grande parte da Irlanda dos irlandeses e da Prússia dos prussianos não alemães originais”(1981: 234). Em outras palavras, percebemos as consequências lógicas – roubo, guerra e até genocídio – de ver a Terra como algo a ser adquirido e possuído, em vez de reverenciados e celebrados.
E assim chegamos ao famoso axioma de Proudhon de que “a propriedade é um roubo”. Proudhon aparentemente não pretendia com isso que todas as propriedades fossem roubo, mas apenas aquilo que deriva da propriedade não adquirida (por exemplo, juros sobre empréstimos; renda de aluguéis) (Crowder 1991: 85). Podemos estender esse argumento para formar nossa própria máxima: “Toda propriedade não normativa é roubo”. Um possível ponto de partida é o conceito de “usufruto”. Originalmente concebido como uma alternativa à propriedade privada de terras em países como a Suíça e a Alemanha, o usufruto garantiu a posse do “direito de construir”; quando os direitos de usufruto eram “vendidos”, não era a terra em si, mas as estruturas erguidas e o capital acumulado na terra que estava sujeita à transferência (Ushakov 1994: 11). Godwin estendeu o conceito a todas as propriedades, afirmando que os indivíduos têm direito apenas à administração dos bens, e estão sob rígidas obrigações de usar tais bens em benefício da felicidade geral (Crowder 1991: 86). Da mesma forma, Proudhon imaginou um “usufrutuário” em oposição a um proprietário, que deveria ser “responsável pela coisa que lhe foi confiada; ele deve usá-lo em conformidade com a utilidade geral, com vistas a sua preservação e desenvolvimento”(in Crowder 1991: 86–7).
Podemos ver as sementes da normatividade se desenvolvendo aqui, culminando na afirmação de Baldelli de que “A principal diferença entre propriedade e usufruto como direitos é que, enquanto o primeiro é irresponsável e incondicionado, este último está sujeito a condições sociais e econômicas e carrega obrigações morais”(1971: 110). Os direitos de propriedade incluem o direito de abusar ou mesmo destruir os bens de uma pessoa; O usufruto proíbe tal ação, a menos que seja de alguma forma para o benefício geral (por exemplo, remover um risco). Usufruto lança um na posse como um mordomo, mantendo o item em confiança para todos os envolvidos, mas ainda capaz de usá-lo e apreciá-lo de qualquer maneira harmoniosa; como Murray Bookchin (1991: 50) observa: “Tais recursos pertencem ao usuário, desde que estejam sendo usados”. Levado adiante, o usufruto logicamente permutado significa que nada me pertence exceto tudo; isto é, tenho obrigações morais em todas as coisas materiais. As coisas que possuo devem ser usadas de modo a comportar-se com o bem-estar da comunidade; as coisas que ninguém possui devem ser mantidas para o uso e desfrute de todos; as coisas possuídas por outros também são motivo de preocupação para mim. Mais uma vez, Bookchin (1991: 50): “A reivindicação coletiva está implícita na primazia do usufruto sobre a propriedade. Assim, mesmo o trabalho realizado em sua própria morada tem uma dimensão coletiva subjacente na disponibilidade potencial de seus produtos para toda a comunidade”. Que outra visão fundamentada podemos ter das boas coisas da terra? A terra não nos pertence, mas nós a ela (Rousseau 1973: 84); abusar ou destruir qualquer parte dela é nos ferir; a existência material é uma dádiva da natureza e, com esse dom, vem a obrigação de preservar a integridade do todo.
Usufruto, então, pode ser visto como uma “norma de regras para a utilização social da realidade material, transcendendo um direito limitado e não especificado de poder sobre as coisas” (Condit 1987: 103); e como Bookchin (1991, p. 54) opina, “Mesmo ‘‘coisas’’ como tal … estão em desacordo com a prática de usufruto da sociedade orgânica”. A esse respeito, chegamos a entender a “propriedade” como a fonte original da desigualdade, promovendo o poder sob a forma de domínio “sobre as coisas” – ou seja, as “coisas” da natureza, com a natureza inclusive nós mesmos. Como Rousseau no ínicio (1973: 84) afirma no Discurso sobre a Desigualdade: “O primeiro homem que, tendo fechado um pedaço de terra, pensou em dizer: ‘Isto é meu’, e encontrou algumas pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras e assassinatos, de quantos horrores e infortúnios podem ninguém salvou a humanidade, puxando as estacas, ou enchendo a vala, e chorando para seus companheiros: ‘Cuidado com a escuta desse impostor; você está desfeito se uma vez esquecer que os frutos da terra pertencem a todos nós e a própria terra a ninguém’”.
Ao rejeitar essa hierarquia original, abrimos um espaço para uma concepção verdadeiramente igualitária do eu, da sociedade e da natureza. Sustentar essa visão requer não menos do que a consciência individual, a ajuda mútua e uma noção de propriedade que contempla a posse de nada, exceto tudo; apenas uma “ordem” anarquista social permite esse usufruto expansivo preservando a integridade do indivíduo.
Um anarquismo pós-moderno?
A ênfase recorrente aqui em conceitos como consciência individual, comunidade inclusiva e propriedade normativa leva o argumento de volta à persistente “investigação moral” observada no topo deste ensaio. Em um aceno para a borda atual do pensamento ético, considere a crítica “pós-moderna” das realidades materiais e relações de poder que trabalham para inibir a realização do eu autônomo. Quais são essas fontes de constrição? David Harvey descreve “a condição da pós-modernidade” como sendo de fragmentação e contingência, na qual a estética triunfa sobre a ética, e onde o capitalismo laissez-faire neoconservador floresce(1990: 340–41). Nessa condição, o crescimento tecnológico explosivo leva à compressão desenfreada do tempo-espaço, causando sentimentos profundos de alienação e deslocamento; Esses sentimentos, por sua vez, ajudam a produzir uma população frenética que prontamente leva a soluções rápidas em massa, que só servem mais para agravar o problema. Como Baldelli (1971: 28) observa: “À medida que a produção se torna progressivamente desumanizada e padronizada … o homem da rua torna-se insensível à espiritualidade das coisas à sua volta, à medida que seu senso de admiração é embotado por condições cada vez mais complexas e artificiais”. Não é necessário ser um filósofo pós-moderno para perceber que algo está muito errado com o mundo tal como está presentemente configurado; o desfile de crime, corrupção e destruição, que é transmitido em nossas casas todas as noites, torna esse ponto evidente até mesmo para o observador mais distante.
O problema é que o “pós-modernismo” nos oferece nenhuma saída, nenhuma “amarração segura” na qual basear uma nova visão moral. O que tentamos construir neste trabalho é uma moralidade subjetiva que escapa aos preconceitos do universalismo sem degenerar em niilismo. Nós fomos bem-sucedidos? Seguindo Zygmunt Bauman, argumentamos que é possível rejeitar códigos éticos totalizantes e ainda ter moralidade, na crença de que “a consciência do eu moral é a única garantia e esperança da humanidade” (1993: 249–50). É importante acreditar que o que fazemos e como vivemos importa; deixar de fazê-lo só pode provocar cataclismo e talvez até extinção. É aí que a resistência tem valor e representa um ponto de convergência entre o pensamento anarquista e o pós-moderno. O anarquista é adverso a todas as formas de poder exercidas por um grupo em detrimento de outro, seja pelo Estado ou por alguma outra instituição; Como corolário, o anarquista tem grande fé no poder do indivíduo autônomo (maio de 1989: 169–71). Da mesma forma, a análise de Foucault das ligações entre conhecimento e poder institucional identifica certas “tecnologias do eu” na forma de “várias estratégias de objetivação que foram usadas para controlar corpos” (Koch 1993: 347).
Naturalmente, Foucault era notoriamente circunspecto sobre a emissão de chamadas específicas para ação; e, ainda assim, quando ele delineia para nós conceitos rígidos como disciplina, documentação, vigilância e panopticismo (ver Rabinow, ed., 1984), nós não podemos deixar de sentir que ele está nos pedindo para concluir por nós mesmos que tais práticas estão sendo explicadas para que elas possam ser resistidas. O que mais pode ser o fim de tal crítica, exceto para fomentar um espírito de resistência com um olho na liberdade? “Se não é em nome do humanismo ou de algum outro fundamento que a crítica ocorre, em que ou de cujo nome é uma crítica?” (Maio de 1989: 177). O pós-estruturalista nos deve uma resposta a essa pergunta; o anarquista já nos deu um: a atualização do eu moral autônomo, como reflexo do impulso moral na natureza, e devidamente liberado de seus fundamentos universalistas. Se quisermos localizar uma base moral no pensamento pós-estruturalista, está na afirmação de Foucault de que “a ética é uma prática; ethos é uma maneira de ser”(Rabinow, ed., 1984: 377). A esse respeito, Todd May adivinhou certos princípios éticos aos quais o pós-estruturalismo está implicitamente comprometido: (1) “práticas em representar os outros para si mesmas – seja em quem são ou naquilo que querem – devem, tanto quanto possível, ser evitadas”; E (2) “práticas alternativas, sendo todas as coisas iguais, devem poder florescer e até ser promovidas” (1994: 130–33). (Pode também notar que “há um sentimento geralmente anticapitalista entre os pós-estruturalistas que é baseado na ética” (1994: 136)).
A implicação desses preceitos éticos é que devemos empreender práticas que evitem a representação e, em vez disso, permitir que os indivíduos se definam e se expressem de maneira única – o que se parece muito com o objetivo anarquista de liberar o eu autêntico, aquele que age o espírito de auto-afirmação e solidariedade social.
Como consequência deste objetivo, no entanto, devemos estar preparados para viver com a proposição de que “a conduta moral não pode ser garantida” (Bauman 1993: 10), enquanto ainda mantém a crença de que “a unidade moral de toda a humanidade é pensável, se é que é, não como o produto final da globalização do domínio dos poderes políticos com pretensões éticas, mas como o horizonte utópico de … a emancipação do eu moral autônomo e a reivindicação de sua responsabilidade moral”(1993: 14–5). Desta forma, chegamos a uma convergência que permite a moralidade sem recorrer ao universalismo, argumentando em vez disso por um universal de “diferença” e uma moralidade natural que não conhece deveres ou obrigações, mas apenas os impulsos inatos da sociabilidade e da ajuda mútua.
Trocamos o uso da terminologia “Libertário”, para “Liberalista”, devido a terminologia “libertário” ser criação e desenvolvimento do comunista-anarquista Joseph Déjacque (1821–1865), e a terminologia “liberalista” se encaixar no aspecto teórico dos ultraliberais (ou como se auto-intitulam de “anarco”-capitalista). Nota do tradutor.

















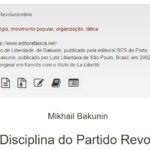








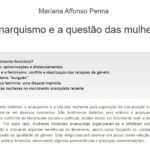
















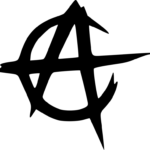







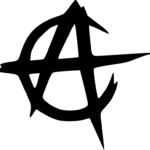



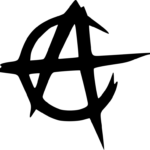



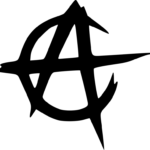
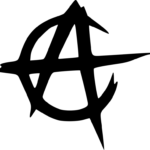















































2 comentários em “Anarquismo como teoria moral: Práxis, propriedade e o pós-moderno – Randall Amster”
Os comentários estão fechados.