Anarquismo e Nacionalismo — Uri Gordon
Introdução
Os anarquistas são contra o nacionalismo; todo mundo sabe disso. Em vez de solidariedade através das fronteiras e antagonismo anti-hierárquico dentro deles, o nacionalismo gera lealdade ao Estado com suas forças armadas e símbolos públicos, encoraja os oprimidos a se identificarem com seus opressores compatriotas, bodes expiatórios, e colocam trabalhadores de diferentes países uns contra os outros na competição econômica ou na guerra aberta. A oposição ao nacionalismo é um ponto de partida quase trivial para a política anarquista, refletida em ações antimilitaristas, antifascismo e solidariedade migrante, para citar alguns. Além disso, se o anarquismo “representa uma ordem social baseada no livre agrupamento de indivíduos” (Goldman 1911a / 2014: 41), então os anarquistas só podem rejeitar a proposição de que os indivíduos devem sua lealdade a um coletivo preexistente de milhões de estranhos em que eles nunca escolheram nascer. Os anarquistas trabalham em prol de uma sociedade que veja o fim das nações e do nacionalismo, juntamente com as classes sociais e todas as formas de dominação.
Tanto para a linha de propaganda. Este capítulo, no entanto, procura elaborar algumas questões filosóficas que surgem, não da oposição anarquista ao chauvinismo nacional como tal, mas do engajamento com a raça e a identidade etnocultural de forma mais ampla. Ao contrário do conceito anarquista da nação como construção do Estado, a ideia de uma identidade de grupo que se estende do parentesco imediato através da ancestralidade comum e mediada pela linguagem e pela cultura sobrevive à crítica do nacionalismo. No entanto, essa ideia ressalta muito agudamente a tensão entre o impulso desconstrutivo do pensamento anarquista e as exigências da solidariedade descolonial no movimento anarquista. Por um lado, enquanto alguns anarquistas adotaram uma compreensão naturalista de “povos” como constituintes da raça humana, outros buscaram explicitamente problematizar a identidade etnocultural – seja descartando-a em favor da classe ou, o que é mais interessante, através da desconstrução de reivindicações à continuidade e afinidade étnica e linguística. O movimento para desconstruir a condição etnocultural, além de suas atrações pós-estruturalistas, continua a ser atraente na crítica das ideologias estatais étnico-nacionalistas e no confronto com a extrema direita.
Por outro lado, a identidade etnocultural é central para movimentos nos quais os anarquistas são participantes ou cúmplices, desde a libertação indígena e negra na América do Norte até os movimentos de libertação nacional em Chiapas, Palestina e Rojava. Neste contexto, o impulso desconstrutivo não corre o risco de atacar os próprios particularismos que fazem reivindicações sobre as solidariedades dos anarquistas? Os apelos à identidade etnocultural estão sujeitos à crítica desconstrutiva seletivamente, em base de um amigo ou inimigo? Ou essa é uma inevitável disjunção de teoria e prática que só pode ser abordada como um registro das antinomias sociais que a fundamentam e resolvidas por meio de sua eventual transformação? Meu argumento central aqui é que o impulso desconstrutivo para a identidade etnocultural (e de gênero e outros) é valioso e deve ser sustentado; no entanto, deve ser aplicado um princípio de subsidiariedade à sua implantação. Isso cria um filtro ético que leva em conta interesses pessoais e assimetrias de poder na prática da filosofia anarquista. Ao estabelecer a discussão nesses termos, estou usando a lente do nacionalismo para ler entre compromissos teóricos e políticos e sugerir um novo ponto de partida para as discussões sobre a solidariedade decolonial.
Começo destacando brevemente a composição transnacional do movimento anarquista e suas diferentes respostas aos movimentos de libertação nacional, como contextos para o debate. Então, começando com a crítica tradicional anarquista da nação como um constructo estatal (em oposição à ideia de povos), identifico três abordagens diferentes para o papel da etnia na identidade coletiva. Estas são a abordagem naturalista (que vê povos específicos como parte de uma família humana); uma abordagem centrada em classe (que descarta a identidade etnocultural) e a abordagem culturalista. Este último, expresso mais plenamente por Rudolf Rocker, aprofunda o ataque ao nacionalismo ao enfraquecer sistematicamente a estabilidade e a significação do parentesco e da linguagem, como fundamentos para a condição de povo que o nacionalismo reivindica possuir. Reviso a crítica decolonial do universalismo aplicada às duas primeiras abordagens, eu argumento que o impulso anti-fundacionalista deste último também pode cair em conflito com os particularismos que aliam o anarquismo nas lutas descoloniais. Se a ética anarquista de reconhecimento implica aceitação prima facie da própria articulação de pessoas e povos oprimidos – de suas identidades e objetivos, então, a desconstrução pode romper o equilíbrio entre a coerência conceitual e as solidariedades políticas. Como proposta de resolução, sugiro uma ética da desconstrução informada pelo princípio da subsidiariedade e pela atenção à posicionalidade. Termino com um comentário sobre descolonização do biorregionalismo.
Nação, Pessoas, Classe e Cultura
Os compromissos anarquistas com o nacionalismo foram influenciados pela própria composição transnacional do movimento e pelo ethos cosmopolita (Levy 2011, Bantman 2013). O anarquismo desenvolveu-se desde o início através das fronteiras, marcado por “conexões supranacionais e fluxos multidirecionais de… ideias, pessoas, finanças e estruturas organizacionais… frequentemente construídas sobre diásporas migratórias e… reforçadas pela imprensa do movimento e pelas viagens dos principais ativistas” (van der Walt e Hirsch 2010: xxxii). Apesar da visão eurocêntrica comum, os anarquistas estavam ativos na Argentina, Cuba e Egito desde a década de 1870, enquanto as duas primeiras décadas do século XX viram movimentos anarquistas sofisticados emergirem das Filipinas, Peru e Japão para a África do Sul, Chile e Turquia (Anderson 2005, Turcato 2007, Shaffer 2009, Khuri-Makdisi 2010, Ramnath 2011). Na Grã-Bretanha e na América do Norte e do Sul, o afluxo de imigrantes judeus, italianos e irlandeses criou comunidades multiculturais da classe trabalhadora nas quais uma perspectiva cosmopolita radical tomou conta, abraçando a diversidade e a solidariedade através de linhas étnicas e culturais (Fishman 1975, Moya 2004, Katz 2011, Zimmer 2015). Esses encontros transnacionais continuam a animar o movimento anarquista hoje (Cuevas Hewitt 2007, Kalicha e Kuhn 2010).
Os anarquistas também eram opositores iniciais e consistentes do racismo e da escravidão. Joseph Déjacque, um antigo anarquista francês ativo em Nova Orleans na década de 1850, esperava uma aliança revolucionária entre escravos negros e proletários brancos e comparou favoravelmente John Brown a Spartacus. Ele esperava que a “monstruosa União Americana, a República Fóssil, desaparecesse” no cataclisma da revolução, criando uma “República Social” onde “negros e brancos, crioulos e felpudos irão fraternizar … e encontrarão uma única raça. Os assassinos de negros e proletários, os anfíbios do liberalismo e os carnívoros do privilégio se retirarão como os caimãos … para as partes mais remotas do rio”(Déjacque 1858/2013). Mais tarde, no auge dos assassinatos de linchamento no sul dos Estados Unidos, o anarquista James F. Morton escreveu um extenso panfleto contra o racismo e seu uso para desumanizar e justificar as atrocidades. “A estupidez cega do preconceito racial é simplesmente insondável”, escreveu ele, “age desatento a todas as considerações lógicas e, quando desafiado, não pode dar conta de si mesmo de forma coerente… pára seus ouvidos com raiva cega” (Morton 1906: 31 Cf. Damiani 1939).
Jean Grave, como parte de sua crítica ao nacionalismo e ao militarismo, menosprezou tanto a irracionalidade das noções de superioridade racial e cultural quanto seu papel insidioso de fazer com que os trabalhadores legitimam sua própria exploração. Em Moribund Society and Anarchy (1899), ele condenou fortemente a colonização como roubo e assassinato em larga escala, despejou escárnio em suas pretensões de ser uma força “civilizadora” e apoiou as revoltas dos povos colonizados. Em um capítulo intitulado “Não há raças inferiores”, ele repudia uma série de argumentos então comuns sobre a inferioridade dos não-europeus e traça um paralelo entre o racismo e a designação burguesa dos pobres como inerentemente inferior.
Outro contexto importante para as respostas anarquistas ao nacionalismo tem sido o envolvimento com os movimentos de libertação nacional. Por um lado, Proudhon e Bakunin opunham-se à insurreição polonesa, que apesar de diferenças significativas de abordagem, ambos viam como um esforço liderado pela elite que contornava a questão social e ameaçava encorajar o expansionismo francês ou prussiano (Kofman 1968). Outros, no entanto, ofereceram apoio às lutas de libertação dos povos sob domínio estrangeiro, no contexto de um projeto revolucionário para abolir a dominação e as instituições que a mantêm. Landauer (1912/2010: 232) apoiou as guerras dos “povos revolucionários” contra a opressão estrangeira, ao mesmo tempo em que construiu “a solidariedade entre todos os povos na luta contra a guerra e o Estado.” Anteriormente, Kropotkin argumentou que a remoção da dominação estrangeira era uma pré-condição para a revolução social e apoiou a libertação nacional dos “armênios na Turquia, os finlandeses e poloneses na Rússia”, bem como “os negros na América”, cuja situação ele considerava. equivalente a ocupação estrangeira (Kropotkin 1897/2014: 140). Para Kropotkin, o internacionalismo genuíno teve que se opor ao imperialismo e “proclamar a completa liberdade de cada nação, por pequena que seja, e seu direito absoluto de se desenvolver nos moldes que desejava”, enquanto os anarquistas que apoiam as lutas de libertação nacional devem procurar “ampliar o sentido de sua revolta, levantar entre eles uma bandeira que representa um ideal superior” (qtd. in Cahm 1978b: 56).

No final do século 20, os anarquistas se distanciaram da defesa frequentemente acrítica dos Estados centralizadores pelos marxistas nas antigas colônias da África e do sul da Ásia. No contexto argelino, “anarquistas franceses como Camus, Joyeux, Guerin e os de Noir et Rouge criticaram abertamente as ações e orientações da FLN, ao mesmo tempo em que apoiavam o princípio do fim do domínio colonial [e] autogestão argelina” (Porter 2011: 487). Mais recentemente, Hakim Bey chamou a atenção para novos movimentos de libertação nacional que são “não hegemônicos e anti-capitalistas”, incluindo movimentos curdos, saharauis, havaianos e porto-riquenhos, aqueles que buscam “máxima autonomia para as nações nativas americanas”, os mexicanos zapatistas e “pelo menos em teoria o movimento regionalista nos EUA” (Hakim Bey 1996: 49).
Em todas essas respostas ao nacionalismo, prevaleceu uma distinção entre “a nação” entendida como uma entidade artificial construída pelo Estado, e termos como “nacionalidades”, “povos”, “pessoas” e “raças”, que foram construídos como entidades factuais ou sujeitos a críticas desestabilizadoras. O nacionalismo, neste contexto, é definido e rejeitado como uma ideologia de lealdade a um estado-nação existente (cf. Goldman 1911b, Tolstoy 1990). O argumento central de Rudolf Rocker no Nationalism and Culture era que o nacionalismo havia substituído a religião na era moderna como a principal ferramenta ideológica de legitimação para as classes dominantes. A nação “não é a causa, mas o resultado do Estado. É o Estado que cria a nação”, que é “o resultado artificial da luta pelo poder político, assim como o nacionalismo nunca foi nada além da religião política do estado moderno”(Rocker 1937: 200–1). Quanto à identidade etnocultural e à personalidade, podemos distinguir entre três abordagens. Eu chamarei estas abordagens naturalista, classista e culturalista.
Uma abordagem naturalista vê as pessoas como entidades factuais enraizadas em características geográficas, culturais, linguísticas e / ou ancestrais comuns. Para Bakunin, a terra natal (pátria) representava uma “maneira de viver e sentir” que “é sempre um resultado incontestável de um longo desenvolvimento histórico”. O amor à pátria entre as “pessoas comuns… é um amor natural e real”, enquanto “patriotismo político, ou amor do Estado, não é [sua] expressão fiel”, mas “distorcido por meio de falsa abstração, sempre em benefício de uma minoria exploradora”(Bakunin 1953/1871: 324; cf. Cahm 1978a). Em seu artigo sobre o crescente nacionalismo finlandês, Kropotkin enfatizou, ao lado do patrimônio e da língua, o papel da “união entre o povo e o território que ele ocupa”, de que território recebe o seu carácter nacional e sobre o qual imprime o seu próprio selo, de modo a tornar um todo indivisível tanto os homens como o território”(Kropotkin 1885). Enquanto se opunha ao nacionalismo promovido pelos estados existentes, Kropotkin continuou a considerar a raça humana como composta por grupos etnoculturais mais ou menos territorialmente definidos, celebrando a diversidade na “família internacional” e buscando “desenvolver características locais e individuais”. (qtd. in Cahm 1978: 53. Cf. Kropotkin 1897/2014). Tal abordagem, ao mesmo tempo em que estimula positivamente a diversidade cultural, estabelece um continuum que vai do indivíduo ao grupo etno-cultural e à espécie humana. Da mesma forma para Jean Grave (1899: 105–110):
Certamente não queremos afirmar que todas as raças são absolutamente idênticas; mas estamos convencidos de que todos têm certas aptidões, certas qualidades morais, intelectuais e físicas, as quais, se pudessem evoluir livremente, teriam permitido que participassem do trabalho da civilização humana.
A abordagem naturalista é, portanto, baseada em uma ética universalista e humanista – a “crença na humanidade compartilhada das pessoas independentemente de pertencerem a diferentes grupos culturais, étnicos e de gênero, e suas afinidades complementares em uma sociedade livre como seres humanos racionais” (Bookchin 1995).
Uma segunda abordagem nega à identidade etnocultural de qualquer validade como ponto de referência política, suplantando-a com classe. Embora não seja muito prevalente na tradição anarquista, foi mais recentemente ouvido de “anarquistas da luta de classes” auto-identificados. Schmidt e van der Walt, que veem a etnicidade (assim como o gênero) como teoricamente subsidiária à classe, colocam o nacionalismo e a identidade etnocultural a par com as “políticas de identidade”, as últimas interpretadas como necessariamente essencialistas e fragmentárias. Em vez disso, eles promovem o potencial unificador da “política de classe” que pode mobilizar “pessoas comuns… através de linhas raciais” (2009: 305). Aqui, raça ou etnia recebem uma função inteiramente negativa, rejeitando as lealdades que elas implicam como falsa consciência e recusando-se a ver as relações de poder que elas codificam como constitutivas. No contexto da Palestina, esta abordagem conduz frequentemente a declarações sobre os “interesses reais” do “proletariado de Gaza e da Cisjordânia”, que não estão em autodeterminação dentro do sistema existente, mas “em combinação com trabalhadores em todos os lugares para acabar com toda a exploração” (The Free Communist 2014; cf. SolFed 2002, McCarthy 2002, Anarchist Communist Initiative 2004). Uma variação mais rarefeita do classismo aparece no ensaio de Alfredo Bonanno sobre a libertação nacional. Bonanno argumenta que “os anarquistas se recusam a participar das frentes de libertação nacional; eles participam de frentes de classe que podem ou não estar envolvidas em lutas de libertação nacional”(1976: 16). Ao fazê-lo, ele adota a premissa da Fronte Libertaire de que “a cultura étnica é cultura de classe e, por essa razão, é a cultura revolucionária” (15). Assim sendo:
A base étnica de hoje consiste em todo o povo explorado que vive em um dado território de uma determinada nação, não havendo base étnica comum entre explorador e explorado. É lógico que esta base de classe seja destruída juntamente com a destruição do estado político, onde o limite étnico deixará de coincidir com os explorados … mas com o conjunto dos homens e mulheres que vivem naquele território que escolheram viver livremente as suas vidas (ibid.).
Bonanno vai além da rejeição da etnia como identidade – o conceito é, ao contrário, absorvido ontologicamente em classe. A lógica prossegue através da aplicação recursiva de uma explicação específica da realização revolucionária às condições pré-revolucionárias. Uma vez que é apenas a consciência de classe que pode definir uma reconstrução pós-capitalista de populações de limites territoriais, o “limite étnico do processo revolucionário de federações livres” corresponde ao de um proletariado no processo de auto-abolição. Além da mistificação flagrante de identificar classe e etnia, essa formulação não pode explicar realidades como as divisões étnicas dentro das populações exploradas, como visto tanto nas circunstâncias coloniais como no norte global multiétnico.
A terceira abordagem culturalista também é crítica, mas, em vez de suplantar a identidade étnica com a classe, desestabiliza os apelos ao parentesco comum, à linguagem e à herança como constitutivos de grupos humanos. O que resta é um conceito efetivamente antifundacionalista de cultura popular, identificado com padrões localizados de interação humana que permanecem em fluxo enquanto transmitem populações, práticas e ideias. Essa abordagem já está presente no relato de Gustav Landauer sobre o povo, que é de fato construído em completo desapego aos significantes etnoculturais. Como Grauer aponta, Landauer percebeu que o povo “não era uma estrutura política ou econômica, e definitivamente não como uma entidade biológica determinada por laços de sangue fixos e inalteráveis … [N]em uma linguagem comum nem uma medida de unidade geográfica” eram características necessárias do espírito popular (1994: 8–9). O povo mítico de Landauer é uma entidade espiritual, “uma igualdade de indivíduos – um sentimento e realidade – que é trazida em espírito livre para a unidade e união” (qtd. In Grauer 1994: 6). Anárquica a priori, esta cultura livre subalterna existe sob e contra as relações sociais hierárquicas. O desdobramento orgânico e livre do espírito entre o povo é contrastado com o estado mecanicista e compulsivo, e posicionado para substituí-lo por voluntarismo e ajuda mútua. A ausência de referências etnoculturais no relato de Landauer sobre o povo é importante para permitir que seu organicismo resista à identificação com o direito do Volkisch. Mas o resultado é um conceito do povo claramente removido de qualquer pressuposto naturalista de uma base etnocultural para as pessoas.
Rudolf Rocker, em Nationalism and Culture (1937), é mais explícito. Na primeira parte do livro ele está preocupado com uma crítica histórica e ideológica do Estado-nação moderno e, nesse contexto, estabelece a distinção entre a nação e o povo em termos naturalistas conhecidos:
Um povo é o resultado natural da união social, uma associação mútua de homens [sic] causada por uma certa similaridade de condições externas de vida, uma linguagem comum e características especiais devido ao clima e ao ambiente geográfico. Dessa maneira, surgem traços comuns, vivos em todos os membros da união, e formando uma parte importante de sua existência social (200–1).
No entanto, essa formulação é enganosa, já que na segunda parte do livro, Rocker reinicia a crítica do nacionalismo, estendendo-a a um ataque à estabilidade e à importância dos laços linguísticos e étnicos. Enquanto o objetivo principal é atacar o nacionalismo em suas premissas básicas, a crítica de Rocker acaba desestabilizando a explicação naturalista da condição de pessoa também. Depois de demonstrar que não há “comunidade de interesse material e identidade de moral, costumes e tradições” (275) dentro das nações existentes, Rocker se volta para a linguagem. Descrever muitos empréstimos e traduções de empréstimos entre as línguas europeias e do oriente médio, e casos de populações mudando sua língua, ele conclui que “a linguagem não é o resultado de uma unidade popular especial. É uma estrutura em constante mudança … sempre em fluxo, proteica em seu inesgotável poder de assumir novas formas”(288). Portanto, “não é uma característica de uma nação: nem sempre é decisiva a adesão a uma nação em particular. Toda língua é permeada por uma massa de elementos da fala estrangeira em que o modo de pensar e a cultura intelectual de outras pessoas vivem”(297).
O próximo capítulo de Rocker sobre raça, escrito à sombra do nazismo, está amplamente preocupado com a falta de fundamento do racismo “científico”. No entanto, ao introduzir essa crítica, ele aponta além da mera rejeição da supremacia racial a um questionamento da distinção etnocultural em si. Não apenas não há conexão entre “qualidades mentais, morais e culturais” e “características físicas reais ou imaginárias de uma raça” (298), mas essas características – como a linguagem – são elas mesmas resultado de populações que se misturam e migram. Como resultado, não há “raças puras”, nem mesmo “entre os chamados povos selvagens”, como “os esquimós ou os habitantes da Terra do Fogo … raça não descreve algo fixo e imutável, mas algo em um estado perpétuo de fluxo, algo continuamente sendo feito”(301).
Voltaremos ao comentário sobre os indígenas mais tarde. Por enquanto, deve-se notar que, com sua ênfase no fluxo e na mudança, Rocker está buscando eliminar quaisquer características étnicas estáveis de seu relato cultural da condição de pessoa. Os povos são, nesse sentido, instantâneos locais de um processo mundial de desdobramento cultural, que ao mesmo tempo exibe “diversidade infinita” e está em toda parte impulsionado por toda parte pela “aspiração por organização mais digna e espírito mais elevado na vida social e individual que está profundamente enraizada no sentimento social do homem” (345). O conceito de cultura de Rocker, portanto, se baseia no oposto de isolamento e autocontenção:
reconstruções culturais e estimulação social sempre ocorrem quando diferentes povos e raças entram em união mais estreita. Cada nova cultura é iniciada por tal fusão de diferentes elementos folclóricos e toma sua forma especial a partir disso … uma cultura nasce ou fertilizada apenas pela circulação de sangue novo nas veias de seus representantes … Em todas as grandes épocas, a cultura marchou de mãos dadas com a união voluntária e a fusão de diferentes grupos humanos (347–350).
Eu gostaria de argumentar que Rocker aborda uma posição anti-fundacionalista em sua desconstrução da linguagem e raça como âncoras para o nacionalismo, e em sua preferência por fluxo e mutabilidade na concepção cultural da condição de pessoa. Ao optar por uma crítica ontológica ao nacionalismo, sua abordagem carrega a marca do impulso negativista, conceitualmente niilista, que perpassa a tradição anarquista, da iconoclasma de Stirner e do “desejo destrutivo” de Bakunin aos apelos de Goldman por uma transvaliação dos costumes sociais. Esse impulso sustentou a vantagem crítica do anarquismo e a abordagem experimental da reconstrução social, e a marca como um precursor do pensamento pós-estruturalista (junho de 2012, Newman 2015). Para ter certeza, Rocker não desconstrói todo o caminho – ele ainda encontra “o essencial e universal que une todos os seres humanos” (436) na aspiração à cultura como tal. No entanto, este é um universalismo muito tênue, que deixa o conteúdo substantivo da articulação cultural aberto e inerentemente mutável. A desconstrução da etnia por Rocker prefigura, assim, críticas mais amplas ao essencialismo ontológico, ao fundacionalismo epistemológico e às construções do sujeito (Rouselle 2012: 215ff).
Desestabilizações Decoloniais
Juntamente com os relatos naturalistas da identidade etnocultural, os anarquistas também questionaram sua estabilidade e importância em suas críticas ao nacionalismo. O que acontece com esses questionamentos, no entanto, no contexto de associação anarquista ou apoio a movimentos cuja identidade coletiva é construída, entre outras coisas, em torno da linguagem comum, herança e descendência como características constitutivas? Eu gostaria de argumentar que as solidariedades anarquistas dentro de uma política descolonial colocam em questão todas as três abordagens analisadas acima.
O pensamento descolonial tem sido descrito como um ato de “desobediência epistêmica” pelo qual as pessoas que compartilham a “ferida colonial” podem realizar uma “desvinculação política e epistêmica” do domínio ocidental e os modos de pensar que ela impõe (Mignolo 2009). As abordagens descoloniais, portanto, colocam o racismo sistêmico no centro da crítica social e no contexto do passado e do presente despojamento dos povos de suas terras através da conquista, escravidão, genocídio e poder corporativo moderno. A estratificação racial tanto nos estados colonialistas como na Europa “multicultural”, bem como no domínio econômico e militar sobre o Sul global, apontam para o significado do colonialismo não apenas como um evento histórico, mas como um conjunto de lógicas que continuam a manter e aprofundar as desigualdades globais. Para os movimentos sociais radicais, uma abordagem descolonial significa que as lutas pela transformação social devem ser realizadas com atenção explícita à dimensão colonial e, portanto, racializada da desigualdade, em vez de reproduzir sem críticas as mesmas fórmulas universalistas ocidentais que mascararam o projeto colonial, e que a descolonização política deveria ser integrada em seu programa de mudança social.
Abordagens naturalistas precisam responder a essa crítica, pelo menos na medida em que elas apelam para o humanismo universalista. Mas coloca os problemas mais sérios para a abordagem classista, especialmente em sua primeira versão acima. O anarquista americano de cor Roger White argumenta que afirmações sobre “a universalidade e a primazia da luta de classes” são “parte do resíduo filosófico do colonialismo anglo-europeu” (White 2004: 16). Isso porque eles negam a subjetividade histórica dos não-brancos como tal, colocando a base étnica de suas lutas ao mesmo tempo em que projetam neles uma concepção eurocêntrica do proletariado. Isso equivale a um projeto de “despojar as massas de suas identidades nacionais e comunais em troca de uma identidade operária” (ibid., Cf. Alston, 1999). Em vez disso, os anarquistas devem manter a raça a par com gênero, classe, idade e outros eixos irredutíveis de dominação. Uma abordagem intersetorial, que evita a concessão de qualquer desses regimes à primazia analítica (Shannon e Rogue 2009), é, portanto, teoricamente mais sólida e politicamente inclusiva do que o reducionismo de classe. O universalismo mais fino das abordagens culturalistas pode escapar dessa crítica específica. No entanto, a maneira pela qual Rocker se move de uma rejeição da nação para uma rejeição da etnia dos povos ainda deixa um caso a ser respondido. Sua tentativa de minar a validade dos grupos étnicos e linguísticos, compreensível no contexto de seu ataque ontológico ao nacionalismo e racismo europeus, também minaria o papel constitutivo da ancestralidade comum e da linguagem nas lutas dos povos indígenas e outros grupos étnicos oprimidos. Indicativo aqui é a instrumentalização de Rocker dos povos indígenas para marcar um ponto contra o racismo. Embora a linguística e a genética populacional possam fornecer várias avaliações do isolamento dos grupos, o argumento efetivamente nega a esses grupos sua herança e leva ao não reconhecimento em suas reivindicações de autodeterminação. No entanto, como Ramnath (2011: 21) argumenta:
Onde a etnicidade é brutalizada e a cultura dizimada, é insensível diminuir o valor do orgulho étnico, afirmando o direito de existir como tal … no contexto colonial, a defesa da identidade étnica e a divergência cultural em relação ao dominante é um componente-chave da resistência.
A crítica culturalista e desconstrutiva de Rocker, dirigida como é para os nacionalismos europeus, não pode ser generalizada sem algum filtro adicional que nos permita explicar a assimetria entre expressões etnoculturais que são apoiadas por estados e aqueles que os Estados buscam reprimir, assimilam ou cooptam enquanto negam a autodeterminação de seus portadores em seus próprios termos. Assim como os anarquistas têm a obrigação de levar em conta sua própria posição em sua relação com os movimentos construídos etnoculturalmente (cf. Barker e Pickerill, 2012), o pensamento anarquista deve encontrar uma maneira de reconciliar o impulso desconstrutivo com sua política de reconhecimento. Gostaria de sugerir uma resposta provisória a esse dilema que, em vez de voltar ao naturalismo, aplica os princípios da subsidiariedade e da liderança à própria tarefa desconstrutiva.
Subsidiariedade é o princípio de que as pessoas devem ter poder sobre uma questão em proporção à sua participação nela. É uma característica básica do pensamento organizacional anarquista, ligada a valores de descentralização e autonomia. Aplicada em um contexto decolonial, a subsidiariedade coloca a liderança em lutas decoloniais nas mãos de grupos indígenas e tem implicações na maneira pela qual os não-nativos ou cidadãos de um Estado ocupante podem oferecer-lhes apoio e solidariedade. Segundo Walia (2012):
Assumir liderança significa ser humilde e honrar as vozes da linha de frente da resistência … oferecendo solidariedade tangível quando necessário e solicitado … tomando iniciativa para a auto-educação … organizando apoio com o claro consentimento e orientação de uma comunidade ou grupo indígena, construir relacionamentos de longo prazo de prestação de contas e nunca assumir ou dar como certo a confiança pessoal e política que os não-nativos podem ganhar dos povos indígenas ao longo do tempo.
Em Israel-Palestina, onde o conflito armado está em andamento e a segregação é a norma, os anarquistas israelenses também desenvolveram princípios para seu envolvimento na luta conjunta com os comitês populares palestinos na Cisjordânia. Segundo Snitz (2013: 57–8):
O primeiro princípio é que, embora a luta seja comum, os palestinos são mais afetados pelas decisões tomadas e, portanto, são os que devem tomar as decisões importantes. Em segundo lugar, os israelenses têm uma responsabilidade especial de respeitar a autodeterminação palestina, incluindo o respeito aos costumes sociais e a manutenção da política interna palestina.
Esta lógica descolonial não é apenas relevante para as sociedades colonizador-coloniais, mas também para a Europa, dada a sua absorção, limitação e securitização da migração de antigas colônias e atuais zonas de conflito. Nesse contexto, os ativistas europeus contra fronteiras e deportações compartilham um ethos de assumir a liderança de movimentos auto-organizados de refugiados e migrantes, e de evitar tanto a mentalidade salvadora quanto a condescendência da tutela revolucionária.
Paralelamente a essas orientações políticas, gostaria de sugerir a ideia da subsidiariedade filosófica como um filtro ético para o empreendimento desconstrutivo, colorindo-a com uma consciência das assimetrias de poder para as quais as críticas descoloniais apontam. Essa abordagem pode permanecer filosoficamente comprometida, em última instância, com uma posição antifundacionalista que nega validade definitiva à etnia (ou a qualquer outro suposto absoluto). No entanto, a crítica é aplicada em vista da própria posição do crítico – não deve “socar”. A tarefa de desconstruir uma identidade pertence àqueles que a suportam ou àqueles que são oprimidos em seu nome. Para membros de grupos que buscam autodeterminação, isso significa “não esquecer que a expressão cultural deve incluir o direito de redefinir as práticas da própria cultura ao longo do tempo… a descolonização da cultura não deveria significar rebobinar uma condição original ‘‘pura’’, mas sim restaurar a capacidade artificial de retardo para crescer e evoluir livremente”(Ramnath, ibid.).
Para personalizar por um momento: como um anarquista judeu israelense assumindo uma posição desconstrutiva em relação à etnicidade, minha estaca reside principalmente em questionar o nacionalismo judaico e a ideia da condição de povo judeu como construída através de instituições religiosas e políticas (e da minha própria educação nacionalista). isto não significa que, e.g. cultura hebraica ou judaica não mais participa da minha identidade. Mas nega o modo como essas características são construídas em relatos religiosos e / ou sionistas hegemônicos sobre a condição de povo judeu. Desde que minha própria posição anti-fundacionalista tenderia a desconstruir as pessoas em geral, eu também estou confortável com as empresas para desconstruir radicalmente a população judaica em particular (cf. Sand 2010). No entanto, não cabe a mim aplicar essa crítica à identidade etnocultural dos palestinos, mesmo que tal aplicação esteja disponível em princípio. Da mesma forma, não é para os ativistas brancos da solidariedade palestina solapar o povo judeu, uma tarefa que é mais apropriadamente realizada em uma parceria direta entre palestinos e judeus.
A subsidiariedade da desconstrução pode ainda estar situada dentro da ética do encontro entre ativistas colonos e indígenas promovida por Abdou et al. (2009). Com base em Levinas, eles sugerem um modo de aliança radical que constrói a solidariedade através da honestidade e da responsabilidade mútua. Nessa ética, o reconhecimento exige que o colono rompa sua (des)orientação colonial com o outro “e adote uma disposição que inclua” aceitação do desconhecido – falta de antecipação da essência do outro; um conhecimento de auto-identidade incorporando uma compreensão de responsabilidade infinita; uma vontade de aceitar a diferença e evitar a tendência de incluir o outro no mesmo; e, finalmente, uma humildade em face do outro, o que implica ter a coragem e a disposição necessárias para aprender do outro (215–216).
Por fim, gostaria de destacar as consequências de uma abordagem decolonial para a ideia de biorregionalismo, com seu modelo alternativo de pertença local. Uma biorregião é comumente definida como uma área geográfica contínua com características naturais únicas em termos de terreno, clima, solo, bacias hidrográficas, vida selvagem e assentamentos e culturas humanas (Andruss et al., 1990). Embora enraizado em preocupações ambientais, o biorregionalismo é atraente para os anarquistas, porque suas implicações políticas olham além do nacionalismo e do Estado-nação na dimensão territorial da organização social. Como as biorregiões não reconhecem fronteiras políticas arbitrárias e são inadequadas para a administração de um centro distante, um modelo biorregional é consistente com uma sociedade sem estado e suas práticas sustentáveis associadas são mais propensas a promover um espírito de cooperação e ajuda mútua na administração de ambientes regionais.
Como alternativa ao nacionalismo, o biorregionalismo oferece um modelo de pertencimento que não está vinculado ao Estado e permanece aberto à interpolação com múltiplas identidades pessoais e coletivas em termos de etnia, linguagem, espiritualidade, gênero, preferência sexual, vocação, estilo de vida etc. No entanto, a discussão acima aponta para um entendimento menos expresso pelos defensores biorregionalistas, ou seja, que qualquer transição para tal modelo exigiria uma descolonização das relações sociais no espaço biorregional. Tal processo, além disso, provavelmente envolverá conflitos sobre a redistribuição de poder e recursos ao longo de linhas raciais (assim como de gênero e outras). Visto através de uma lente descolonial e revolucionária, o biorregionalismo deve, portanto, buscar não apenas descentralização ao longo de linhas ecológicas, mas uma agenda igualitária dentro da biorregião. A partir de tal posição, a discussão poderia progredir em questões relevantes para os esforços atuais de transformação social – por exemplo, como o trabalho em direção à transição ecológica em comunidades mistas pode ser conectado à disputa social, ou como formas populares de encontro podem se tornar a base de agendas radicais.
Conclusão
Os compromissos anarquistas com o nacionalismo tentaram, de diferentes maneiras, eliminar o Estado da ontologia dos laços sociais. Até mesmo o apoio aos movimentos estatais de libertação nacional continua a ocorrer dentro de um programa mais amplo que leva a nenhuma fronteira e nenhuma nação, prevendo formas de organização territorial que são multicamadas e descentralizadas e sobre as quais nenhuma identidade detém o monopólio, assim como as próprias identidades não são mais definidas por e dentro dos sistemas de dominação e escapam das construções binárias e essencialistas. No entanto, esse próprio interesse pela fluidez ontológica, a tendência a corroer as certezas e desestabilizar as fundações, é também, em certos casos, marcada pelo privilégio e pode tornar-se uma ferramenta opressora ou um obstáculo irreflexivo à solidariedade. Neste capítulo, sugeri que é necessária uma ética da subsidiariedade para levar o empreendimento desconstrutivo da política antinacional a lidar com as críticas descoloniais e as posicionalidades que destacam.
A integração de uma abordagem decolonial ao pensamento e prática anarquista está longe de ser completa; no entanto, seus avanços oferecem um lembrete encorajador da vitalidade contínua do anarquismo e da capacidade de se auto-criticamente se transformar em resposta a novos desafios. Ao confrontar abertamente as tensões inerentes ao seu engajamento com o nacionalismo e a identidade etnocultural, os anarquistas podem criar práticas de solidariedade e transformação de identidade que prefiguram uma sociedade que é não só apátrida e sem classes, mas também descolonizada. A recusa em contornar a diferença etnocultural, tentando, em vez disso, abraçar as complexidades que ela suscita ao construir uma prática radical, potencialmente coloca os anarquistas em uma polaridade muito mais produtiva com a extrema direita do que o universalismo ou o reducionismo de classe são capazes. Em um momento em que o nacionalismo estatal está em ascensão em todo o mundo, muitas vezes em formas racistas e religiosas, a articulação de tais abordagens a partir de baixo é mais urgente do que nunca.

















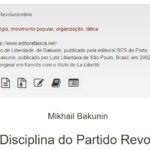








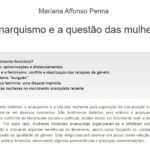
















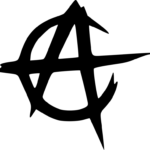







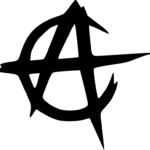



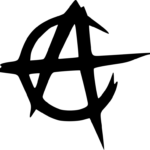



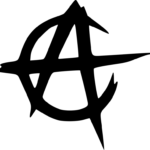
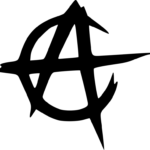















































Um comentário sobre “Anarquismo e Nacionalismo — Uri Gordon”
Os comentários estão fechados.