Sobre a decisão por consenso – Murray Bookchin
O individualismo, da forma como é concebido pelo liberalismo clássico, se apoiava, para começar, numa ficção. Seu próprio pressuposto de uma “legalidade” social mantida pela competição de mercado estava bastante distante de seu mito de um indivíduo “autônomo” totalmente soberano. Com pressupostos ainda menores nos quais se apoiar, a obra aflitivamente sub-teorizada de Max Stirner partilhava de uma disjunção semelhante: a disjunção ideológica entre o ego e a sociedade.
A questão central que revela essa disjunção – aliás, essa contradição – é a questão da democracia. Por democracia, evidentemente, eu não quero dizer qualquer forma de “governo representativo”, mas democracia face a face. No que diz respeito a suas origens na Atenas clássica, democracia, como eu a utilizo, é a ideia da gestão direta da polis pelos seus cidadãos em assembleias populares – o que não deve ocultar que a democracia ateniense era marcada pelo patriarcado, pela escravidão, pelo domínio de classe e pela restrição da cidadania aos homens de origem ateniense reconhecida. Eu estou me referindo a uma tradição evolutiva de estruturas institucionais, não a um “modelo” social. A democracia, genericamente definida, é então a gestão direta da sociedade em assembleias face a face – na qual a política é formulada pelos cidadãos residentes e a administração é executada por conselhos delegados e mandatários.
Os libertários normalmente consideram a democracia, mesmo nesse sentido, como uma forma de “dominação” – uma vez que ao se decidir, a posição da maioria prevalece e portanto “domina” a da minoria. Assim, diz-se que a democracia é inconsistente com um ideal verdadeiramente libertário. Mesmo um historiador tão conhecedor do anarquismo como Peter Marshall observa que, para os anarquistas, “a maioria tem tanto o direito de se impor à minoria, mesmo à minoria de um, quanto a minoria tem o direito de se impor à maioria.” Inúmeros libertários ecoaram essa ideia, várias e várias vezes.
O que surpreende em afirmações como a de Marshall é sua linguagem altamente pejorativa. As minorias, pareceria, nem “decidem”, nem “debatem”: elas são antes “dominadas”, as coisas lhe são “impostas”, são “comandadas”, “coagidas” e coisas do gênero. Numa sociedade livre que não apenas permitisse, mas promovesse o mais amplo grau de dissidência, cujos palcos nas assembleias e cujos meios de comunicação estivessem abertos à expressão mais plena de todas as posições, cujas instituições fossem verdadeiros fóruns de discussão – pode-se fazer a pergunta razoável de se uma tal sociedade “imporia” de fato algo a alguém quando tivesse que chegar a uma decisão que dissesse respeito ao bem estar público.
Como então a sociedade faria decisões coletivas dinâmicas sobre temas públicos, à parte de meros contratos individuais? A única alternativa coletiva que é normalmente apresentada ao voto de maioria como meio de decisão é a prática do consenso. Na verdade, o consenso tem sempre sido mistificado por “anarco-primitivistas” declarados que consideram que a Idade do Gelo e os povos “primitivos” contemporâneos são o apogeu da realização social e psíquica humana. Eu não nego que o consenso possa ser uma forma apropriada de deliberação em pequenos grupos de pessoas que estão completamente familiarizadas umas com as outras. Mas, para examinar o consenso em termos práticos, minha própria experiência me tem mostrado que quando grupos maiores tentam decidir por consenso, isso normalmente os obriga a chegar ao menor denominador intelectual comum em sua decisão: a decisão menos controversa ou mesmo a mais medíocre que uma assembleia relativamente grande consegue obter é adotada – precisamente porque todo mundo deve concordar com ela, ou então se abster de votar naquele tema. Mas o que é mais preocupante é eu ter descoberto que ela permite um autoritarismo traiçoeiro e manipulações gritantes – mesmo quando usada em nome da autonomia ou liberdade.

Para tomar um caso muito surpreendente: o maior movimento baseado em consenso (envolvendo milhares de participantes) em tempos recentes nos Estados Unidos foi a Aliança Clamshell que foi formada para se opor ao reator nuclear de Seabrook em meados dos anos 70 em New Hampshire. Em seu estudo recente sobre o movimento, Barbara Epstein chamou a Clamshell da “primeira tentativa na história americana de basear um movimento de massas na ação direta não violenta”, além do movimento pelos direitos civis nos anos 60. Como resultado desse aparente sucesso organizacional, muitas outras alianças regionais contra reatores nucleares foram formadas nos Estados Unidos.
Eu posso comprovar pessoalmente o fato de que na Aliança Clamshell, o consenso era fomentado por quacres muitas vezes céticos e por membros de uma comuna duvidosamente “anárquica” localizada em Montague, no estado de Massachusetts. Essa facção pequena, fortemente unida, unificada por seu próprio programa secreto, foi capaz de manipular muitos membros da Clamshell, subordinando sua boa vontade e compromissos idealistas a esses programas oportunistas. Os líderes de facto da Clamshell atropelaram os direitos e ideais de inúmeros indivíduos que entraram na aliança e minaram sua moral e sua vontade.
Para que aquela panelinha criasse consenso absoluto numa decisão, a dissidência minoritária era sutilmente persuadida ou psicologicamente coagida a declinar o voto num tema conturbado, porque, afinal, sua dissidência iria basicamente resultar no veto de uma pessoa. Essa prática, chamada de “pôr-se de lado” nos processos de consenso nos Estados Unidos, muito frequentemente envolvia intimidação da dissidência, ao ponto dela se retirar completamente do processo de decisão, ao invés de fazer uma expressão honrada e contínua de seu desacordo pelo voto, mesmo como uma minoria, de acordo com suas posições. Tendo se retirado, os dissidentes deixavam de ser seres políticos – para que a “decisão” pudesse ser tomada. Mais de uma “decisão” na Aliança Clamshell foi tomada pressionando a dissidência a se calar e, por meio de uma cadeia dessas intimidações, o “consenso” era finalmente atingido apenas depois que os membros dissidentes se anulavam como participantes no processo.
Num nível mais teórico, o consenso silenciava o aspecto mais vital de todo diálogo, o dissenso. A dissidência duradoura, o diálogo apaixonado que persiste mesmo após a minoria ceder temporariamente à decisão da maioria, foi substituída na Clamshell por monólogos burros – e o tom abafado e indisputado do consenso. Na decisão por maioria, a minoria derrotada pode decidir inverter a decisão que perdeu – ela é livre para articular aberta e persistentemente desacordos razoáveis e potencialmente persuasivos. O consenso, por outro lado, não respeita minorias, ele as cala em nome da “unidade” metafísica do grupo “consensual”.
O papel criativo da dissidência, valioso como fenômeno democrático persistente, tende a desaparecer na uniformidade cinza exigida pelo consenso. Qualquer corpo libertário de ideias que buscasse dissolver a hierarquia, as classes, a dominação e a exploração permitindo inclusive à “minoria de um” impedir a decisão da maioria de uma comunidade, até de confederações regionais e nacionais, qualquer corpo de ideias assim, transformar-se-ia essencialmente numa “vontade geral” rosseauniana com um mundo sombrio de conformidade intelectual e psíquica. Em tempos mais agitados, poderia facilmente “forçar o povo a ser livre”, como disse Rousseau – e como praticaram os jacobinos em 1793-94.
Os líderes de facto da Clamshell conseguiram escapar com seu comportamento, precisamente porque a Clamshell não era suficientemente organizada e estruturada democraticamente para que pudesse neutralizar a manipulação de uma minoria bem organizada. Os líderes de facto estavam sujeitos a poucas estruturas de controle de suas ações. A facilidade com que eles astuciosamente utilizaram a decisão por consenso para seus próprios fins foi apenas parcialmente contada, mas as práticas consensuais terminaram por afundar essa ampla e interessante organização com sua “república da virtude” rousseauniana. Ela foi também arruinada, devo acrescentar, por um desleixo organizacional que permitia que meros transeuntes participassem das decisões, desestruturando assim a organização ao ponto de se tornar invertebrada. Foi por bons motivos que eu e muitos jovens anarquistas de Vermont, que participamos ativamente na Aliança por alguns anos, passamos a considerar o consenso um sacrilégio.
Se o consenso pudesse ser atingido sem pressão aos dissidentes, um processo que é factível em grupos pequenos, quem poderia opor-se a ele como processo de deliberação? Mas reduzir o ideal libertário ao direito incondicional de uma minoria – até mesmo uma “minoria de um” – abortar a decisão de uma “coleção de indivíduos” é sufocar a dialética de ideias que floresce em oposição, em confronto – decisões com as quais todos não precisam concordar e não devem concordar, ao risco da sociedade se transformar num cemitério ideológico. O que não deve negar à dissidência todas as oportunidades de reverter a decisão da maioria pela discussão e defesa de suas posições sem prejuízo para ela.


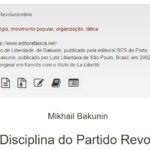



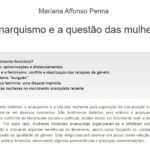






























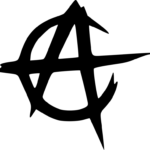







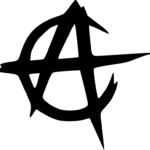



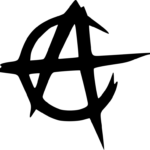



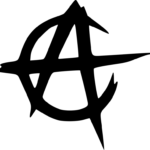
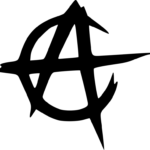















































Um comentário sobre “Sobre a decisão por consenso – Murray Bookchin”
Os comentários estão fechados.