Estratégia de Dividir para Conquistar
As elites vem nos dominando a milênios usando sempre a mesma estratégia:
Dividir e Conquistar
Não tome lados, somos todos UM. Não permita que suas opiniões e percepções da realidade te afastem da família humana.

A estratégia de dividir e conquistar da natureza humana tornou-se beligerante(envolvida com guerras) ao longo da história devido às segregações que ascenderam em todos os campos da sociedade. A partir do momento em que o homem deixou de olhar para dentro, investindo toda a sua energia para o mundo da matéria, iniciaram-se as fragmentações de todas as espécies. Logo, cada ponto de vista tornou-se a “verdade absoluta”, já que o não entendimento profundo de si mesmo fez do homem um ser contraído e concentrado, vendo apenas um ponto do cenário total.
Cada nova criação filosófica, científica ou social tornou-se uma fragmentação. Sendo um ponto de vista isolado, para aqueles que não enxergam uma imagem mais abrangente, cada nova criação adquiriu a condição de inimiga, pois desconstruía a verdade pessoal de cada indivíduo. Deste modo, religiões, filosofias, partidos políticos, escolas de pensamentos, partições científicas, tribos, nações, cores de pele, modos de se vestir, gostos musicais, tudo virou motivo para conflito.
O homem vê um inimigo em tudo, mas não percebe que não existe inimigo algum, se não a si próprio. Porém apenas através do autoconhecimento ele irá descobrir que o inimigo é uma ilusão da própria segregação, sendo então a ilusão de seu próprio eu.
Há novos inimigos surgindo todos os dias para o homem e nos tempos atuais um deles vem ganhando força. Trata-se de algo já antigo, mais velho que a maioria daqueles que visam combatê-lo, cujo principal objetivo é fundamentar a separação do homem para depois liderá-lo em meio à segregação. Esse inimigo não visa união, pois através da engenharia social implantou uma desconstrução agressiva em todas as cabeças da humanidade a fim de surgir como uma solução para o caos quando necessário.
Unificar a humanidade,porque somos uma só vida, a liberdade é uma armadilha, mas só é uma armadilha para quem desconhece a verdade ou seja a maioria! Liberte-se de si mesmo então liberte os outros deles mesmos,esta é a verdadeira unificação!
A Nova Ordem Mundial que tantos combatem não tem relação com um mundo unificado. Ela visa centralizar o poder em um mundo segregado. Há uma grande diferença nisso. Todo o tormento da raça humana está na segregação. Só quando esta se faz presente é que somos capazes de maltratarmos uns aos outros de maneira tão vil. Quando estamos segregados, abdicamos de nossos poderes, gerando situações para que outros decidam por nós o que fazer e o que pensar.
Há pessoas que são contra a Nova Ordem Mundial por motivos equivocados e há outras que são contra sem nem compreenderem o motivo. Ao ouvirem falar em mundo unificado já fazem a relação com o totalitarismo, pois estão descontroladas pelo medo e pelo fascínio que o perigo lhes causa.
Porém, mesmo sob um governo mundial o mundo continuará segregado, portanto não tem relação alguma com a unidade da raça humana. Quem não entende isso está querendo lutar contra um fantasma, uma sombra de sua própria sede de enfrentar um inimigo.
Um mundo unificado é a única solução para nossa civilização sobreviver e evoluir. Enquanto houver barreiras filosóficas, religiosas, territoriais e culturais, sempre haverá segregação e conflito. A sua verdade sempre será maior que a minha, o seu país sempre será melhor que o meu, a sua filosofia sempre será melhor que a minha.
Mas a questão é que para se escolher combater a Nova Ordem Mundial é necessário ter a consciência de se estar lidando apenas com um possível efeito de uma doença mais profunda. Se você não tiver essa consciência, cedo ou tarde vai se encontrar andando em círculos e cheio de dificuldades. Porque qualquer combate gera tensão e mais motivos para se combater.
Logo, não seja contra ela, mas a favor de purificar a raiz do problema. Prefira semear no coração de cada um a importância do autoconhecimento, do amor e da tolerância. Pois um mundo unificado só poderá surgir quando toda a humanidade estiver preparada para isso. Ele não surgirá pelas mãos de terceiros, mas pelas mãos de cada ser humano deste planeta.
Apenas em um mundo segregado é que há chances de um governo totalitário ascender, pois apenas na segregação é que os seres humanos abdicam de seus poderes. Em um mundo unificado, cada um é seu próprio líder. Em um mundo unificado, nunca haverá uma Nova Ordem Mundial.
Trecho do livro Inteligência na Guerra, de John Keegan
1. Conhecimento do inimigo
INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
“É impossível ter sucesso na condução da guerra sem informações recentes e de boa qualidade”, escreveu o grande duque de Marlborough. George Washington concordava: “A necessidade de obter informações de qualidade é evidente e não precisa ser objeto de debate”. Nenhum soldado, marinheiro ou aeronauta discordaria deles. Desde os tempos mais remotos, os líderes militares sempre procuraram obter informações sobre o inimigo, seus pontos fortes, suas debilidades, suas intenções e sua organização bélica. Visitantes estrangeiros vindos de terras que mais tarde Alexandre, o Grande, conquistaria recordam a insistência de suas perguntas a respeito do tamanho da população em seus países, da produtividade do solo, da direção dos rios e estradas que os atravessavam, da localização das cidades, baías e praças fortificadas e da identidade dos cidadãos importantes, feitas no tempo em que, ainda menino, ele reinava na corte da Macedônia na ausência de seu pai, Filipe, em campanha militar no exterior. O jovem Alexandre coletava o que hoje se chamaria inteligência econômica, regional ou estratégica, e o conhecimento que acumulou lhe foi de grande utilidade quando iniciou a invasão do império persa, de enorme extensão e composição altamente diversificada. O motivo do triunfo de Alexandre foi levar ao campo de batalha uma força combatente aguerrida, composta de guerreiros tribais pessoalmente dedicados à monarquia macedônia; mas ele também dividiu o império persa em partes, atacando seus pontos fracos e explorando suas dissensões internas.
A estratégia de dividir para conquistar, geralmente baseada em informações sobre diferentes regiões, explica muitos dos grandes sucessos na constituição dos impérios. Nem todos: os mongóis preferiam o terror, confiando em que a notícia de sua aproximação dissolveria a resistência. Tanto melhor para eles se algumas traições acentuassem sua temível reputação. Em 1258, surgindo do deserto, Hulagu prometeu poupar a vida do califa, líder espiritual do Islã e governante do império muçulmano, se ele entregasse a cidade de Bagdá. Tão logo se rendeu, o califa foi estrangulado, e a horda prosseguiu sua marcha. Povo nômade amplamente disperso, os mongóis possuíam também grande conhecimento e, como todos os nômades, estavam sempre prontos a comerciar quando não se encontravam em campanha militar. Os mercados são os principais centros de troca de informações e de mercadorias, e muitas vezes os saqueadores exigiam permissão para estabelecê-los nas fronteiras de terras habitadas os hunos faziam essa demanda aos romanos, o que também era exigido com freqüência pelos vikings. Era comum que a atividade comercial se transformasse em prelúdio da pilhagem. O comércio pode seguir o pavilhão, como afirmavam confiantemente os vitorianos, mas o oposto ocorre com maior freqüência.
Os impérios em ascensão, para os quais os nômades constituíam mais uma irritação que uma ameaça, adotaram atitude diversa, concedendo ou retirando permissão para comerciar e estabelecer mercados em suas fronteiras com o objetivo de exercer o controle local. Procuravam também adotar políticas “progressistas” e ativas. Os faraós da XII dinastia não apenas construíram um espesso cinturão de fortificações na fronteira entre as povoações do Egito e da Núbia, como criaram um exército de fronteira com instruções permanentes. Sua missão era impedir incursões núbias no vale do Nilo e ao mesmo tempo patrulhar o deserto e fazer relatórios. Um dos relatórios, preservado num papiro em Tebas, diz: “Encontramos rastros de 32 homens e três jumentos”; apesar de ter quase 4 mil anos de idade, esse relatório poderia ter sido escrito ontem.
As fronteiras do antigo Egito eram fáceis de administrar. Como o vale do Nilo é estreito, correndo em meio ao deserto, as medidas de proteção necessárias eram mínimas. O império romano, por sua vez, estava cercado de inimigos por todos os lados, os quais poderiam aproximar-se pelo mar tanto quanto por terra, e precisava ser defendido por fortificações fixas sofisticadas e também por exércitos móveis. No auge de seu poderio, os governantes romanos preferiam a defesa ativa à passiva e mantinham vigorosas forças de ataque em pontos estratégicos, geralmente a certa distância das fronteiras e não sobre suas linhas. Somente depois que seu poderio começou a declinar e os dos estrangeiros a crescer é que as defesas nas fronteiras foram reforçadas.
Tanto no declínio quanto na ascensão, entretanto, Roma dedicava grande atenção à coleta de informações. A conquista da Gália por César decorreu de seu melhor uso das informações e do poderio bélico superior de suas legiões. Ele se dedicou com afinco a reunir dados econômicos e regionais, assim como fizera Alexandre, e foi um analista frio e cínico dos problemas próprios dos gauleses, suas vaidades, volubilidades, falibilidade e falta de capacidade de resistência; com a mesma frieza explorava a vantagem obtida por meio do conhecimento de suas debilidades. Acumulou conhecimentos etnográficos pormenorizados sobre as características e as dissensões tribais de seus adversários, os quais utilizou impiedosamente para derrotá-los. Além dessas informações estratégicas, no entanto, César elaborara um sistema de inteligência tática altamente desenvolvido, usando unidades de batedores de alcance curto e médio para fazer reconhecimentos até trinta quilômetros adiante do corpo principal em marcha, a fim de espionar o território e a disposição militar do inimigo durante o prosseguimento da campanha. Um princípio importante era o acesso imediato e direto a sua pessoa de que gozavam os líderes dessas unidades.
César não foi o inventor do sistema romano de inteligência, resultado de centenas de anos de experiência militar. A prova disso já tinha sido fornecida no tempo das guerras na Gália (século I a.C.), pela existência de numerosos termos que distinguiam as diferentes categorias de tropas de reconhecimento: procursatores, que realizavam reconhecimento próximo, imediatamente à frente do exército; exploratores, batedores de longo alcance; e speculatores, que faziam espionagem nas profundezas do território do adversário. O Exército romano utilizava também informantes locais (indices), prisioneiros de guerra, desertores e civis seqüestrados. Se não foi ele o inventor do sistema, é lícito atribuir a César a sua profissionalização e a institucionalização de algumas de suas características mais importantes, especialmente o direito de acesso direto e pessoal dos batedores ao comandante. Quando necessário, ele fazia inspeções pessoalmente, intervenção perigosa porém muitas vezes essencial. Mais tarde, a crise no século IV passou a exigir a presença quase contínua de um dos imperadores (nos tempos derradeiros houve dois, e às vezes mais) junto ao Exército, contingência que em Adrianópolis, em 378, levou à morte do soberano no campo de batalha, ao desastre progressivo e ao colapso do Império. O imperador Valente estivera em contato direto com seus exploratores na manhã da catástrofe, os quais o informaram corretamente acerca do poderio e da organização do inimigo. O que ocorreu em seguida corrobora uma verdade profunda e duradoura, a de que “a sobrevivência militar e política não depende exclusivamente de uma boa inteligência”.
Mas os sistemas não mudam muito, a menos que mudem as circunstâncias, e houve pouca mudança circunstancial durante os cinco séculos de grandeza do império romano (entre os séculos I a.C. e IV d.C.). Ao longo desse período, o reconhecimento do terreno se fazia de oitiva ou por observação visual, comunicação oral ou despachos escritos, e com uma velocidade de transmissão máxima equivalente à de um cavalo rápido. O que era válido em Roma continuou a ser a regra no mundo durante os 1500 anos seguintes.
O colapso do governo imperial do Ocidente no século V d.C. implicou também o colapso dos serviços organizados de informações e de seus serviços de suporte, como a publicação de guias e a cartografia (embora os mapas romanos nos pareçam estranhos, pois geralmente se apresentavam sob a forma de plantas de caminhos e não como uma figuração bidimensional das características do terreno, seu desaparecimento representou perda considerável para os comandantes em campanha). Muito pior do que isso foi a degradação progressiva e a decadência final e completa do sistema viário. As estradas romanas haviam sido construídas primordialmente com o objetivo de propiciar movimento militar rápido, sob qualquer clima, e sua manutenção era confiada às legiões, que eram unidades tanto de combate quanto de engenharia. A dissolução do Exército romano acarretou rapidamente o estancamento das obras de engenharia em elementos-chave do sistema romano de transportes, como pontes e vaus. Naturalmente, a rede de estradas não existia durante o período das conquistas romanas César atravessou a Gália interrogando mercadores e habitantes locais e improvisando guias, mas foram as estradas que permitiram a Roma defender seu império durante cinco séculos. Com a deterioração de suas superfícies firmes, tornou-se impossível fazer campanhas rápidas em lugares distantes.
Isso não era importante para os chefes bárbaros que suplantaram os romanos, pois nada mais desejavam senão manter uma autoridade local. Quando, entretanto, iniciou-se sob os imperadores carolíngios a tentativa de restabelecer vastos domínios imperiais nos séculos VIII e IX, a ausência de estradas representou grave empecilho à reconquista. A situação se mostrou ainda mais difícil durante a tentativa de penetrar nas regiões germânicas localizadas além das antigas fronteiras romanas. Naqueles lugares selvagens não havia caminhos e tampouco era fácil obter informações.
A experiência dos Cavaleiros Teutônicos em seus esforços para conquistar e cristianizar o litoral do Báltico, no século XVI, fornece um quadro parcial das dificuldades que os condutores das campanhas medievais tinham de enfrentar. A ordem de cruzada dos Cavaleiros Teutônicos, dedicada à conversão dos prussianos e lituanos, era rica e altamente organizada. Operava a partir de uma cadeia de castelos fortificados construídos nas costa do báltico, onde podiam proteger-se de ataques e organizar cruzadas para o interior. Um dos principais terrenos de suas campanhas era um cinturão de terras não colonizadas de cerca de 160 quilômetros de extensão entre a Prússia oriental e a Lituânia propriamente dita, um labirinto de pântanos, lagos, pequenos rios, vegetação densa e florestas em meio ao qual era quase impossível encontrar passagem. Os Cavaleiros recrutaram batedores locais para abrir caminhos e fazer relatórios. As informações por eles recolhidas foram reunidas num guia militar, Die Lithauischen Wegeberichte [Guia de caminhos da Lituânia], compilado entre 1384 e 1402. Esse guia mostra, por exemplo, que os Cavaleiros que pretendessem chegar a Vandziogala partindo da Samogitia, ambas localizadas próximo à moderna Kaunas, na Lituânia, uma distância de cerca de 56 quilômetros nas estradas de hoje, tinham de cruzar inicialmente uma região de vegetação rasteira por uma trilha, depois um grande bosque através do qual teriam de abrir caminho, em seguida um alagadiço e outro mais; na seqüência um bosque “do comprimento de um tiro de flecha, em meio ao qual também será preciso abrir caminho”, e ainda um terceiro alagadiço e mais um bosque. Mais além estendia-se a verdadeira Wiltnisse [terra selvagem]. O Wegeberichte reproduz a carta de um batedor prussiano que a descreveu. Estas são as palavras dele: “Tomai conhecimento em vossa sabedoria de que, pela graça de Deus, Gedutte e sua companhia voltaram sãos e salvos e fizeram tudo o que lhes foi ordenado, demarcando o caminho até cerca de sete quilômetros deste lado do Niemen e ao longo de uma via que cruza o Niemen e leva diretamente ao campo”. O tom desse relatório recorda o de uma patrulha egípcia de fronteira na Núbia, 3 mil anos antes; o terreno descrito é o mesmo que foi utilizado pelo Grupamento Norte do Exército alemão ao avançar sobre Leningrado em 1941, encontrando obstáculos não estranhos aos Cavaleiros Teutônicos.
Curiosamente, os cruzados que se dirigiam à terra santa encontraram muito menos dificuldades para chegar a Jerusalém no século XI. Em 1394, o grão-mestre dos Cavaleiros Teutônicos respondeu à pergunta do duque Filipe de Borgonha sobre a possibilidade de haver uma cruzada báltica no ano seguinte: “É impossível fazer uma previsão das contingências futuras, especialmente porque em nossas expedições somos obrigados a atravessar vastas águas e extensões ermas por caminhos perigosos […] e por essa razão freqüentemente dependemos não só da vontade e dos desígnios de Deus, como também do tempo”. Com palavras diferentes, um agente de informações contemporâneo poderia responder de maneira quase exatamente semelhante. Os cruzados da Terra Santa, por sua vez, haviam encontrado um caminho muito mais fácil para seu avanço, viajando por mar ou pelas estradas romanas remanescentes na Itália ou nos domínios do imperador romano oriental (bizantino) no sul da Europa, onde o governo imperial mantinha as comunicações em bom estado e fornecia suprimentos. Após chegarem a Constantinopla, recebiam guias e escolta e podiam utilizar as grandes estradas militares romanas que levavam às montanhas Tauro. No que hoje é a Turquia oriental, entretanto, então já invadida por migrantes turcos da tribo seljúcida, vindos da Ásia Central, encontraram mal conservados os caminhos, assim como as demais obras que facilitavam a viagem: cisternas destruídas, poços secos, pontes caídas, aldeias abandonadas. Isso demonstrava de que forma um povo nômade a cavalo havia destruído uma civilização rural por meio da rapina e do abandono. Os estágios finais da marcha sobre Jerusalém foram muito mais penosos do que a partida da Europa.
Em suas campanhas dentro da própria Europa Ocidental durante a Idade Média, os comandantes de exércitos se defrontavam com condições que constantemente dificultavam a condução de operações eficazes. O principal problema era a penúria crônica de recursos financeiros numa sociedade que não dispunha de moeda corrente, o que tornava difícil o recrutamento de exércitos e, não raro, quase impossível supri-los de alimentação e equipamentos. A movimentação era laboriosa, devido à ausência de um sistema viário utilizável em todas as estações do ano, mas a falta de informações também afetava os esforços dos governantes para enviar as forças que conseguiam reunir aos lugares em que eram necessárias. A dificuldade se tornou especialmente aguda durante as crises ocasionadas pelas invasões dos vikings no século IX. Os vikings, que haviam logrado uma revolução nas questões de mobilidade ao desenvolver barcos superiormente rápidos e capazes de navegar em alto-mar, apareciam sem aviso prévio, superavam os defensores locais pela ferocidade de seus ataques e, no segundo estágio do terror que espalharam nas terras cristãs, levaram a violência e a pilhagem ao interior mais profundo, ao aprender a capturar grandes quantidades de cavalos no ponto de desembarque. O antídoto a esses ataques teria sido a criação de forças navais, mas os reis medievais não tinham capacidade para fazê-lo. Outro recurso teria sido a manutenção de um sistema de informações dentro da Escandinávia que fornecesse alerta antecipado, contudo tal sofisticação era ainda menos compatível com as possibilidades dos reinos do século IX; além disso, as terras dos vikings eram inóspitas para estrangeiros curiosos, mesmo que trouxessem dinheiro para desatar línguas. As pilhagens proporcionavam maiores ganhos do que a venda de informações, e os vikings gostavam de cortar gargantas.
Por volta do século XIV, as condições da guerra na Europa pós-romana haviam se modificado bastante em favor dos governantes locais. A necessidade imperiosa de debelar a agressão dos assaltantes nômades os vikings no oeste, os sarracenos no sul e os cavaleiros que vinham do leste estimulara a construção de defesas fixas, inclusive barreiras contínuas e cadeias de castelos, que possuíam fronteiras sólidas, pacificavam as regiões limítrofes e restauravam as possibilidades de comércio com efeitos benéficos para a prosperidade geral. Os reis dispunham de dinheiro para pagar seus soldados, comprar informações e remunerar agentes que se movimentavam com razoável facilidade em meio aos mercadores itinerantes ou, pelo menos segundo suspeitavam os governos dos reis, sob o disfarce de ordens religiosas internacionais. Um sinal de quanto a espionagem se tornara trivial durante a Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra é o fato de que os arautos, os árbitros imparciais da conduta adequada nos campos de batalha, faziam grande esforço para defender sua reputação de equanimidade. Assim também faziam os embaixadores, embora tivessem menos credibilidade.
Na metade do século XIV havia extensas redes de agentes ingleses na França setentrional e nos Países Baixos, geralmente estrangeiros que trabalhavam por dinheiro, e o mesmo faziam os franceses na Inglaterra, muitas vezes identificados pela monarquia como monges expatriados ou frades itinerantes, acusação que hoje em dia é difícil comprovar. Também é incerto o valor de suas informações. Mais do que ocorreria em futuras épocas de comunicações aperfeiçoadas, na Idade Média era difícil transmitir mensagens rapidamente. As estradas eram precárias, o aluguel de cavalos era pouco confiável e o mar constituía uma barreira, sobretudo para a transmissão de mensagens da França para a Inglaterra. Os reis ingleses procuraram tornar o caminho mais fácil. O porto de Wissant, no norte da França, o mais próximo a Dover, era ponto de partida costumeiro, em que o preço da travessia era fixado por lei. Do lado inglês do canal da Mancha o rei mantinha cavalos a suas expensas para a transmissão de mensagens oficiais. A julgar pelas evidências disponíveis, esse gasto era compensador. Em 15 de março de 1360, um domingo, o conselho real reunido em Reading recebeu a notícia de que naquele mesmo dia os franceses haviam atacado Winchester, distante 160 quilômetros. Não há evidência, no entanto, de que os serviços de inteligência tivessem fornecido alerta antecipado.
No mundo medieval, a obtenção de informações em tempo real era intrinsecamente difícil, exceto para distâncias muito curtas. Simplesmente não era possível levá-las adiante do avanço das tropas inimigas com velocidade suficiente. Essa situação perduraria duranteperduraria durante os séculos vindouros. Por vezes informações essenciais não eram repassadas nem mesmo no espaço circunscrito do campo de batalha. Em Lützen, por exemplo, em 16 de novembro de 1632, uma das batalhas mais importantes da Guerra dos Trinta Anos, os exércitos imperial (austríaco) e sueco fizeram uma retirada tática simultânea ao fim do dia. O rei da Suécia, Gustavo Adolfo, fora morto, e se Wallenstein, o comandante das tropas imperiais, tivesse renovado o ataque, é provável que os suecos tivessem sido derrotados. Nenhum dos dois lados, porém, estava a par da movimentação do outro. No dia seguinte os suecos retornaram, capturaram a artilharia imperial, que tinha sido abandonada por falta de cavalos para rebocá-la, e transformaram em derrota o que deveria ter sido uma vitória.
Os exércitos europeus do século XVIII já haviam se profissionalizado muito mais do que os da Guerra dos Trinta Anos. Ainda assim, tinham dificuldade em obter informações em tempo real. A campanha de Frederico, o Grande, em Hohenfriedberg em 1745 foi excepcional. O exército imperial (austríaco) iniciara uma concentração ofensiva a fim de recuperar a província da Silésia, que o rei prussiano tomara ilegalmente em 1740. Frederico ficou sabendo da movimentação em linhas gerais, mas precisava colocar-se em posição favorável para resistir ao ataque, fazendo com que o inimigo descesse das colinas que circundavam a planície silesiana. Sua primeira providência foi utilizar um agente duplo, funcionário italiano que havia se infiltrado no quartel-general imperial e que tinha a missão de espalhar a notícia de que os prussianos estavam batendo em retirada. Frederico ocultou então seu exército em terreno acidentado e esperou que os austríacos aparecessem. Estes não fizeram esforços para disfarçar sua movimentação e isso possibilitou a ele utilizar regras de observação (indices) que, segundo se sabia na época, eram capazes de proporcionar informações aproximadas em tempo real quando o inimigo se encontrava à vista. A poeira era uma indicação importante. “Uma nuvem generalizada de poeira geralmente significava a presença de saqueadores inimigos. O mesmo tipo de poeira, sem que se avistassem grupos de pilhadores, indicava que os vivandeiros e as bagagens estavam sendo transferidos para a retaguarda e que o inimigo estava prestes a movimentar-se. Colunas densas e isoladas de pó demonstravam que as hostes já estavam em marcha.” Havia outros sinais. Num dia claro, o reflexo do sol nas espadas e baionetas podia ser interpretado a distâncias de até 1600 metros. O marechal de Saxe, o grande contemporâneo francês de Frederico, escreveu que “se os raios forem perpendiculares, significa que o inimigo avança em nossa direção; quando intermitentes e infreqüentes, indicam retirada”.
Em 3 de junho, Frederico havia tomado posição em um ponto de observação que dominava a planície diante de Hohenfriedberg. Por volta das quatro da tarde, ele avistou uma nuvem de poeira através da qual apareceram gradualmente oito numerosas colunas austríacas que avançavam em direção às posições prussianas iluminadas pelo sol claro. Enquanto caía a noite, Frederico deu ordem para uma marcha noturna. Na manhã seguinte teve início a batalha de Hohenfriedberg.
Apesar de contar com a vantagem da inteligência, o rei não conseguiu uma vitória fácil. Seu exército estava em inferioridade numérica e os austríacos e seus aliados haviam manobrado durante a noite a fim de ameaçar seus flancos. Como muitas vezes acontece na guerra, a capacidade bélica superior foi finalmente vitoriosa; o sucesso inicial de inteligência de Frederico foi em breve sobrepujado. Mas sua rapidez de raciocínio no calor da refrega e a feroz reação de seus soldados acabaram por mudar o destino da batalha.
Coisa semelhante iria ocorrer muitas vezes em guerras posteriores. Em suas guerras fora da Europa, em especial nas florestas norte-americanas, onde índios aliados conheciam intimamente o terreno e eram mestres na arte do reconhecimento e da surpresa, os exércitos europeus sofreriam derrotas surpreendentes nas profundezas dos bosques. O desastre do general Braddock em Monongahela, próximo à atual Pittsburgh, onde uma numerosa força britânica foi dizimada em poucas horas em 1755, resultou inteiramente de uma marcha às cegas para uma emboscada preparada pelos franceses conduzidos por seus aliados indígenas da América numa floresta não mapeada e sem reconhecimento prévio. No que ambos os lados passaram a denominar “guerra ao estilo das Américas”, a inteligência continuou a ser extremamente valiosa e em geral proporcionava a base para a vitória ou a derrota. Nos já conhecidos terrenos europeus de campanha, durante as grandes guerras da Revolução Francesa e do império napoleônico (1792-1815), a inteligência raramente era por si só responsável pela vitória. Isso se comprovou verdadeiro até mesmo durante a Guerra Peninsular britânica contra a França, na Espanha e em Portugal, de 1808 a 1814. As informações, mesmo de boa qualidade, caminhavam com demasiado vagar para que pudessem proporcionar uma vantagem efetiva em tempo real. Com efeito, na península Ibérica Wellington dependia exatamente dos mesmos meios de informação de Cipião em sua campanha contra a Nova Cartago na Espanha, no século III a.C. A forma de coleta de inteligência era idêntica tanto para Wellington quanto para César e Cipião. Sua primeira preocupação era conhecer a topografia do terreno (Wellington era grande colecionador de mapas e almanaques) e as características do inimigo. A coleta de informações táticas quem estaria em que lugar e em que momento, suas intenções e capacidades era feita mensal, semanal e diariamente.
Em Portugal e na Espanha, Wellington tinha a seu lado a população hostil à França invasora e que passou a odiá-la após os excessos de 1808. Por isso não precisava sair em busca de informações, que lhe eram trazidas em abundância. A dificuldade era separar o joio do trigo. Muito mais esclarecedora como exemplo de coleta de informações na era pré-elétrica foi a organização da espionagem durante o tempo de suas campanhas na Índia ainda não conquistada. Wellington (Arthur Wellesley) esteve no comando ativo de exércitos na Índia de 1799 a 1804. Por meio da Companhia das Índias Orientais, a Grã-Bretanha controlava extensos enclaves em Bengala, Bombaim e Madras, mas amplas áreas do subcontinente estavam sob o governo de chefes guerreiros locais ou de hordas que pilhavam à vontade. Com diplomacia, suborno e intervenção direta, os franceses tratavam de aliciar uma maioria de elementos antibritânicos. Operando com pequenos exércitos de composição mista indo-britânica, Wellington preocupou-se sobretudo em dominar alguns independentes como Tipu Sultan e Hyder Ali, vassalos feudais do fraco imperador mongol, que comandavam efetivamente seus próprios exércitos e Estados.
Para sair vitorioso, Wellington necessitava de um fluxo constante de informações atualizadas, tanto de fontes próximas quanto distantes, a fim de prever os movimentos de seus inimigos e antecipadamente ser notificado da ocorrência de mudanças nas alianças, coleta de provisões, recrutamento de soldados ou outros sinais de preparação de ofensivas. O meio convencional de obtê-las era a formação de um corpo de reconhecimento, de soldados já sob comando ou recrutados da população. Na Índia os britânicos recorreram a outro método. Aproveitaram um sistema de informações preexistente e o fizeram seu.
O sistema harkara parece ter sido exclusivo da Índia. Devido à imensa extensão do subcontinente, à existência de dificuldades topográficas e à falta de vias de longa distância, pelo menos até a construção de ferrovias e estradas-tronco do raj britânico, o poder tendia a ser local. Mesmo depois de centralizado sob os conquistadores mongóis do século XVI, o poder permaneceu difuso. Em Delhi os mongóis governavam mediante delegação, tanto por meio de funcionários provinciais poderosos quanto por arranjos com príncipes locais, especialmente no oeste e no sul da Índia. O sistema somente poderia funcionar caso a corte recebesse com regularidade relatórios sobre os acontecimentos nas cortes secundárias. O provimento acabou por ser feito por dois grupos de fornecedores de informações: os escritores, freqüentemente eruditos, de status elevado no sistema de castas da Índia, e os estafetas, que levavam relatórios e mensagens verbais ou escritas através de grandes distâncias e em alta velocidade.


















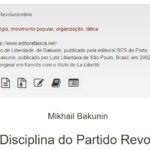








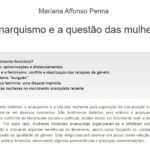















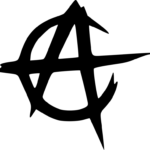







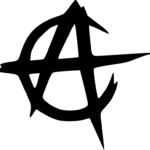



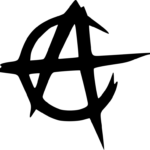



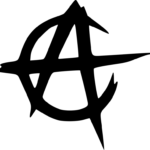
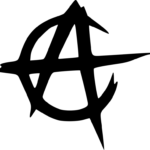















































Otimo artigo.