Como a Não-Violência protege o Estado
Todo texto foi dividido em tópicos, são eles:
A Não Violência é ineficiente
Poderia gastar muito tempo falando sobre as falhas da não violência. Contudo, pode ser mais proveitoso eu falar sobre os sucessos da não violência. Dificilmente o pacifismo seria atrativo aos seus defensores se sua ideologia não tivesse produzido vitórias históricas. Exemplos clássicos são a independência da Índia do governo colonial britânico, alguns esforços contra a corrida das armas nucleares, o movimento dos direitos civis da década de 1960, e o movimento pela paz durante a guerra do Vietnã[1]. Embora ainda não tenham sido proclamados como vitórias, os protestos massivos de 2003 contra a invasão norte-americana no Iraque foram muito aplaudidos pelos ativistas não violentos[2].
Há um padrão na manipulação e deturpação da história que é evidente em cada uma das vitórias reivindicadas pelos ativistas não violentos. A posição pacifista quer que o sucesso seja atribuído somente às táticas pacifistas, enquanto o resto de nós acredita que a mudança vem de todo o espectro de táticas presentes em qualquer situação revolucionária, desde que sejam efetivamente implantadas. Isso acontece porque nenhum grande conflito social possui uma uniformidade de táticas e ideologias, o que significa dizer que todos esses conflitos apresentam táticas pacifistas e definitivamente táticas não pacifistas. Mas os pacifistas precisam apagar a história que não concorda com eles ou, alternativamente, culpar suas falhas pela presença ao mesmo tempo de lutas violentas[3].
Na Índia, a história conta que o povo sob a liderança de Gandhi construiu um movimento massivo não violento durante décadas e envolveu-se em protestos, desobediência civil, boicotes econômicos, exemplares greves de fome e atos de não cooperação para quebrar com o imperialismo britânico. Eles sofreram massacres e responderam com um par de protestos, mas, em sua maioria, o movimento foi não violento e, depois de perseverar durante décadas, o povo indiano ganhou sua independência, fornecendo um marco inegável da vitória pacifista. A história real é um pouco mais complicada, nela pressões violentas também influenciaram a decisão de retirada britânica. Os britânicos perderam a capacidade de manter o poder colonial após perderem milhões de tropas e uma porção de outros recursos durante as duas extremamente violentas guerras mundiais, nas quais a segunda, em especial, devastou a “terra mãe”. As lutas armadas dos militantes árabes e judeus na Palestina de 1945 até 1948 enfraqueceram ainda mais o império britânico, e fizeram com que se constituísse uma ameaça clara, a de que os indianos pudessem, em massa, desistir da desobediência civil e partir para as armas se ignorados por muito tempo; esse fato não pode ser desconsiderado como um fator importante na decisão dos britânicos em abandonar a administração colonial direta.
Nos damos conta que esta ameaça é ainda mais direta quando entendemos que a história do pacifismo do movimento de independência da Índia é uma imagem seletiva e incompleta: a não violência não foi universal na Índia. A resistência ao colonialismo britânico teve tamanha militância que o método Gandhiano pode ser visto mais precisamente como uma forma dentre várias de resistência popular. Como parte de uma padrão universal perturbante, pacifistas apagaram essas outras formas de resistência e ajudaram a propagar a falsa história de que Gandhi e seus discípulos foram o único mastro e leme da resistência indiana. Ignoraram importantes lideranças da militância, como Chandrasekhar Azad[4], quem combateu na luta armada contra os colonialistas britânicos, e revolucionários como Bhagat Singh, quem ganhou um apoio massivo pelas bombas e assassinatos como parte da luta para alcançar a “derrocada tanto do capitalismo estrangeiro, como do indiano”[5]. A história pacifista da luta indiana não pode fazer sentido algum a partir do fato de que Subhas Chandra Bose, o candidato militante, foi duas vezes eleito presidente do Congresso Nacional Indiano, em 1938 e 1939[6]. Enquanto Gandhi foi, talvez, a figura mais singularmente influente e popular da luta pela independência da Índia, a posição de liderança que ele assumiu nem sempre satisfez o apoio consistente das massas. Gandhi perdeu muito apoio dos indianos quando “pediu para cancelar o movimento” em meio aos protestos de 1922. Quando mais tarde foi preso pelos britânicos, “não se levantou qualquer onda de protestos na Índia por sua prisão”[7]. É significativo que a história lembre de Gandhi sobre todos os outros não porque ele representou a voz unânime da Índia, mas por causa de toda a atenção e notoriedade que recebeu da imprensa britânica por ter sido incluído em importantes negociações com o governo colonial britânico. Quando lembramos que a história é escrita pelos vencedores, outro estrato do mito da independência indiana acaba se revelando.
O aspecto mais triste da reivindicação pacifista de que a independência da Índia é uma vitória da não violência é que essa reivindicação atua de forma direta na fabricação histórica realizada pelos interesses da supremacia branca dos Estados imperialistas que colonizaram o sul do mundo. O movimento de libertação da Índia fracassou. Os britânicos não foram forçados a abandonar a Índia. Antes, eles escolheram transferir o território de um controle colonial direto para um controle neocolonial[8]. Que tipo de vitória permite que o lado perdedor dite o tempo e a maneira como o lado vitorioso ascenderá ao governo? Os britânicos redigiram a nova constituição e entregaram o poder aos seus sucessores, escolhidos a dedo. Eles alimentaram as chamas do separatismo étnico e religioso para que a Índia se dividisse contra si mesma, fazendo com que ficasse privada de alcançar paz e prosperidade, e dependesse de ajuda militar e de outros recursos dos estados euro/americanos[9]. A Índia continua sendo explorada pelas corporações euro/americanas (apesar de muitas corporações indianas novas, na maioria subsidiárias, terem se juntado à pilhagem), e continua provendo recursos e mercado para os estados imperialistas. Em vários sentidos a pobreza de seu povo se aprofundou e a exploração se tornou mais eficiente. A independência do controle colonial deu à Índia maior autonomia em algumas áreas, e certamente permitiu que um punhado de indianos se sentasse em algumas cadeiras do poder, mas a exploração e a mercantilização dos bens comuns se aprofundaram. Além disso, a Índia perdeu a oportunidade clara de uma significativa libertação de um opressor estrangeiro facilmente reconhecível. Qualquer movimento de libertação teria agora que lutar contra as dinâmicas confusas do nacionalismo e das rivalidades étnico/religiosas para abolir um capitalismo e um governo que estão muito mais desenvolvidos. Fazendo um balanço geral, o movimento de independência provou ter fracassado.
A reivindicação de uma vitória pacifista na limitação da corrida armamentista nuclear é um pouco bizarra. Novamente, o movimento não foi exclusivamente não violento: incluiu grupos que realizaram uma série de atentados e outros atos de sabotagem ou ainda guerras de guerrilha[10]. E, novamente, a vitória é duvidosa. Os muito ignorados tratados de não proliferação só aconteceram depois da corrida armamentista ter sido ganha, com a incontestável hegemonia dos Estados Unidos na posse de mais armas nucleares do que até mesmo seria prático ou útil. E parece ser claro que a proliferação continua enquanto for preciso, atualmente, na forma de um desenvolvimento tático nuclear e uma nova onda de propostas para instalações nucleares. De fato, a questão parece ter sido posta mais como uma questão de política interna dentro do próprio governo do que como um conflito entre o governo e um movimento social. Chernobyl e a possibilidade de outras tantas catástrofes nos Estados Unidos mostraram que a energia nuclear (um componente necessário para o desenvolvimento de armas nucleares) era algo incômodo, e não é preciso um manifestante para questionar a utilidade, até mesmo para um governo determinado a conquistar o mundo, desviando assombrosos recursos para a proliferação nuclear quando já possuía bombas suficientes para explodir o planeta inteiro, e cada guerra e ação encoberta desde 1945 foi combatida com outras tecnologias.
O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos é um dos mais importantes episódios da história pacifista. Por todo o mundo, pessoas o veem como um exemplo de uma vitória não violenta. Mas, como em outros exemplos que discutimos aqui, não foi nem vitorioso, nem não violento. O movimento foi bem sucedido em acabar com a segregação de direito e com a expansão da minúscula pequena-burguesia negra, mas essas não eram as únicas demandas da maioria dos participantes do movimento[11]. Eles queriam total equidade política e econômica, e muitos também queriam a libertação negra na forma de uma nacionalismo negro, ou intercomunalismo negro, ou alguma outra independência do imperialismo branco. Nenhuma dessas demandas foram atendidas – nem equidade e nem, obviamente, libertação.
Pessoas que não são brancas continuam tendo uma renda média menor, piores acessos à habitação e aos tratamentos de saúde, e uma saúde pior do que as pessoas brancas. Segregação de fato ainda existe[12]. Equidade política é outra coisa que também está faltando. Milhões de votantes, a maioria deles negro, são destituídos do direito de votar quando é conveniente para os interesses reinantes, e só houve quatro senadores negros desde a Reconstrução[13].
Outras raças também ficaram sem os frutos míticos dos direitos civis. Imigrantes latinos e asiáticos são especialmente vulneráveis a abusos, deportação, negação de serviços sociais aos quais eles pagam impostos, e a trabalhos tóxicos e exaustivos em fábricas de trabalho escravo ou ainda como trabalhadores rurais migrantes. Muçulmanos e árabes estão sofrendo o embate da repressão pós-11 de Setembro, enquanto uma sociedade que define a si mesma como “cega-para-cor” nem sequer percebe sua hipocrisia. Nativos são mantidos tão abaixo na ladeira socioeconômica, como se para permanecerem invisíveis, exceto para as ocasionais manifestações simbólicas do multiculturalismo norte-americano – o mascote esportivo estereotipado ou a boneca hula-girl, que obscurece a realidade atual dos povos indígenas.
A projeção comum (primeiramente pelos progressistas brancos, pacifistas, educadores, historiadores, e oficiais do governo) é que o movimento contra a opressão racial nos Estados Unidos foi primariamente não violento. Ao contrário, apesar de grupos pacifistas como a Conferência das Lideranças Critãs Sulinas (SCLC), de Martin Luther King Jr., possuírem considerável influência e poder, o apoio popular dentro do movimento, especialmente entre pessoas negras e pobres, gravitou crescentemente em torno de grupos revolucionários como o Partido dos Panteras Negras (Black Panther Party)[14]. De acordo com uma pesquisa (Harris, 1970), 66% dos afro-americanos disseram que as atividades do Partido dos Panteras Negras lhes deram orgulho, e 43% disse que o partido representava seu próprio ponto de vista[15]. De fato, lutas armadas sempre foram uma parte importante da resistência dos negros contra a supremacia branca. Mumia Abu-Jamal marcadamente documenta essa história em seu livro de 2004, We Want Freedom (Nós Queremos Liberdade). Ele escreve:
As raízes da resistência armada são profundas na história afro-americana. Somente aqueles que ignoram este fato enxergam o Partido dos Panteras Negras de alguma forma estrangeiro a nossa herança histórica em comum.[16]
Na realidade, os segmentos não violentos não podem ser destilados e separados das partes revolucionárias do movimento (apesar de seguidamente existir entre eles, encorajado pelo governo, alienação e animosidade). Os pacifistas, ativistas negros de classe-média, inclusive King, conseguiram muito de seu poder do espectro da resistência negra e da presença de revolucionários negros armados[17].
Na primavera de 1963, a campanha em Birmingham de Martin Luther King Jr. parecia uma repetição da ação funesta e falha de Albany, Georgia (onde uma campanha de 9 meses de desobediência civil, em 1961, demonstrou a fraqueza dos manifestantes não violentos contra um governo, com prisões que pareciam não ter fim, e onde, em 24 de Julho de 1962, tumultos juvenis tomaram quarteirões inteiros durante uma noite e forçaram a polícia a se retirar dos guetos, demonstrando que um ano após a campanha não violenta, a população negra de Albany ainda lutava contra o racismo, mas havia perdido sua preferência pela não violência). No entanto, no dia sete de maio, em Birmingham, após uma violência policial contínua, três mil negros e negras começaram a contra-atacar, jogando garrafas e pedras na polícia. Dois dias depois, Birmingham (alçada até então como um inflexível bastão de segregação) concordou em deixar de segregar as lojas do centro, e o presidente Kennedy apoiou o acordo com garantias federais. No dia seguinte, depois de pessoas da supremacia branca explodirem uma casa e um comércio negros, milhares de negros foram às ruas novamente, dominando uma área de nove quarteirões, destruindo carros de polícia, ferindo diversos policiais (incluindo o inspetor chefe), e queimando comércios de brancos. Um mês e um dia depois, o presidente Kennedy chamou o Congresso para passar o decreto dos Direitos Civis, terminando com uma estratégia de vários anos de retardo do movimento por direitos civis[18]. Talvez a maioria das limitadas, senão vazias, vitórias do movimento por direitos civis veio quando a população negra demonstrou que não ficaria pacífica para sempre. Frente às duas alternativas, a estrutura de poder dos brancos escolheu negociar com os pacifistas, e vimos os resultados.
A afirmação que o movimento pacifista estadunidense acabou com a guerra contra o Vietnã possui o usual conjunto de falhas. As críticas foram bem feitas por Ward Churchill e outros[19], então somente irei resumi-las. Os ativistas pacifistas ignoram, com uma imperdoável hipocrisia, que três a cinco milhões de indochineses morreram na luta contra o exército estadunidense; que milhares de tropas americanas foram mortas e outras milhares feridas; que outras tropas desmoralizadas pelo derramamento de sangue tornaram-se extremamente ineficazes e revoltosas[20]; e que os Estados Unidos estavam perdendo capital político (e tornando-se fiscalmente falidos) a um ponto em que os políticos pró-guerra começaram a pedir por uma retirada estratégica (especialmente depois que a Ofensiva do Tet provou que a guerra era “invencível”, como nas palavras de muitos daquele tempo). O governo dos Estados Unidos não foi forçado a retirar-se pelos protestos pacíficos – ele foi derrotado política e militarmente. Como uma evidência disto, Churchill cita a vitória do republicano Richard Nixon, e a falta de até mesmo um candidato antiguerra no Partido Democrata, em 1968, no auge do movimento antiguerra. Poderia-se acrescentar a isso a reeleição de Nixon em 1972, após quatro anos de intensificação do genocídio, para demonstrar a fraqueza do movimento pacifista em intervir nas decisões do poder[21]. De fato, o movimento pacifista do princípio dissolveu-se junto à retirada das tropas estadunidenses (finalizada em 1973). O movimento foi menos receptivo para aceitar o fato de que a maior campanha de bombardeio jamais vista na história, que mirava civis, se intensificou após a retirada das tropas, ou que continuou a ocupação no Vietnã do Sul através de uma ditadura militar financiada e treinada pelos Estados Unidos. Em outras palavras, o movimento se retirou (e recompensou Nixon com uma reeleição) uma vez que americanos, e não vietnamitas, estavam longe do perigo. O movimento pacifista americano falhou em trazer a paz. O imperialismo norte-americano continuou imbatível, e, apesar de sua estratégia militar ter sido derrotada pelos vietnamitas, os EUA ainda assim cumpriram com seus objetivos políticos gerais em seu devido tempo, precisamente por causa do fracasso do movimento pacifista em realizar qualquer mudança interna.
Alguns pacifistas irão apontar para o enorme número de “objetores de consciência” que se recusaram a lutar, para salvar alguma aparência de vitória à não violência. Mas deveria ser óbvio que a proliferação de objetores e trapaceiros de alistamentos não pode redimir as táticas pacifistas. Especialmente em uma tão militarizada sociedade, a possibilidade de soldados recusarem-se a lutar é proporcional às suas expectativas de enfrentar uma oposição violenta que os pode matar ou mutilar. Sem a resistência violenta dos vietnamitas, não teria havido qualquer necessidade para o alistamento, sem o alistamento, a autoconvencida resistência não violenta na América do Norte teria dificilmente existido. De longe, foi mais significativo do que os passivos “objetores de consciência” foram as crescentes rebeliões, especialmente por negros, latinos, e tropas indígenas, dentro do exército. O plano intencional do governo estadunidense, em resposta às manifestações de negros, de pegar homens negros jovens e desempregados das ruas e colocá-los no exército, saiu pela culatra [22][23].
Os oficiais de Washington que visitaram as bases do exército se apavoraram com o desenvolvimento de uma cultura “militante negra” […] Surpresos, teriam que assistir como os oficiais colonizadores locais (brancos) e seriam forçados a devolver saudações aos Novos Africanos (soldados negros) dando-lhes o símbolo do “Poder” (punho levantado) […] Nixon teve que tirar as tropas do Vietnã rapidamente, ou arriscava perder seu exército.[24]
Fragging[25], sabotagem, recusa ao combate, revoltas nas prisões militares, e ajudas ao inimigo, todas atividades dos soldados norte-americanos, contribuíram significantemente para a decisão do governo dos EUA de retirar as tropas terrestres. Como o Coronel Robert D. Heinl afirmou em Junho de 1971:
A cada indicador concebível, nosso exército que permanece no Vietnã está em um estado que se aproxima do colapso, com unidades individuais evitando ou tendo recusado o combate, matando seus oficiais e sargentos, conduzindo-se às drogas, e desmotivados quando ainda não rebeldes. A situação é quase tão séria no Vietnã como em qualquer outro lugar[26].
O pentágono estima que 3% dos oficiais e sargentos mortos no Vietnã de 1961 a 1972 sofreram fraggings por suas próprias tropas. Essa estimativa nem sequer leva em consideração mortes por tiro ou esfaqueamento. Em muitas instâncias, soldados de uma unidade juntavam seu dinheiro para recompensar o assassinato de um oficial impopular. Matthew Rinaldi identifica no exército uma “classe trabalhadora negra e latina”, que não se identificava com as “táticas-pacíficas-a-qualquer-custo” do movimento pelos direitos civis que havia chegado antes deles, como os maiores atores da resistência militante que mutilou o exército americano durante a Guerra do Vietnã[27].
Embora eles fossem menos significativos politicamente do que a resistência no exército em geral, atentados e outros atos de violência em protesto à guerra nos campi das universidades brancas, inclusive na maioria das universidades de elite, não devem ser ignorados em favor das justificativas pacifistas. No ano escolar de 1969-70 (de setembro a maio), uma estimativa conservadora enumera 174 atentados antiguerra em campi e ao menos 70 atentados fora de campi universitários e outros ataques violentos mirando construções ROTC (Centro de Treinamento de Oficias Reservistas), construções governamentais, e prédios corporativos. Adicionalmente, 230 protestos ocorridos em campi universitários incluíram violência física, e 410 incluíram dano à propriedade.[28]
Concluindo, o que foi uma vitória muito limitada – a retirada das tropas terrestres após muitos anos de guerra – pode ser melhor atribuído a dois fatores: a vitoriosa e continuada resistência violenta vietnamita, a partir da qual os decisores políticos perceberam que não poderiam vencer; e à militante, e frequentemente letal, resistência das tropas terrestres norte-americanas, que foi causada pela desmoralização a partir da violência eficaz de seus inimigos e da difusão da política militante do movimento contemporâneo de libertação dos negros. O movimento interno contra a guerra claramente preocupou os políticos norte-americanos[29], mas certamente não se tornou poderoso o suficiente para que possamos dizer que forçou o governo a fazer qualquer coisa, e, em qualquer caso, seus elementos mais fortes usaram protestos violentos, atentados, e destruição à propriedade.
Talvez confusos por sua própria história falsa do movimento pacifista durante a Guerra do Vietnã, organizadores pacifistas estadunidenses, no século 21, pareciam esperar uma repetição de uma vitória que nunca aconteceu em seus planos de parar a invasão do Iraque. Em 15 de fevereiro de 2003, quando o governo dos EUA movia-se em direção à guerra contra o Iraque, “protestos no fim de semana do mundo inteiro por milhões de ativistas contra a guerra enviaram uma dura repreensão para Washington e seus aliados […] A sem precedentes onda de demonstrações […] embaçou ainda mais os planos de guerra dos EUA”, de acordo com um artigo na página da internet do grupo não violento e antiguerra United for Peace and Justice (Unidos pela Paz e pela Justiça)[30]. O artigo, que se orgulha da “propagação massiva do sentimento pacifista”, continua o projeto e diz que a “Casa Branca […] parece ter ficado chocada com a resistência a seu chamado para uma ação militar rápida”. Foram os maiores protestos da história, excetuando-se algumas brigas menores, eles foram inteiramente não violentos, e os organizadores celebraram extensivamente sua tranquilidade e seu caráter massivo. Alguns grupos, como o United for Peace and Justice, inclusive, sugeriram que os protestos poderiam evitar a guerra. É óbvio que eles estavam totalmente errados, e os protestos foram totalmente ineficazes. A invasão ocorreu como planejado, apesar de que milhares de pessoas nominalmente, pacificamente, e impotentemente opuseram-se a ela. O movimento contra a guerra não fez nada para mudar as relações de poder nos Estados Unidos. Bush recebeu capital político substancial por ter invadido o Iraque, e não se deparou com reação alguma até que o esforço da guerra e da ocupação começaram a aparecer – sinais de fracasso pela eficaz resistência armada do povo iraquiano. A tão chamada oposição nem sequer se manifestou no cenário político oficial. O único candidato antiguerra no Partido Democrata[31], Dennis Kucinich, jamais foi levado a sério como um concorrente, e ele e seus apoiadores eventualmente escondiam suas ideias para juntarem-se à plataforma de apoio do Partido Democrata para a ocupação do Iraque.
Um bom caso de estudo em relação à eficácia dos protestos não violentos pode ser visto no envolvimento da Espanha com a ocupação liderada pelos Estados Unidos. A Espanha, com 1300 tropas, foi uma das maiores sócias subalternas na Coalition of the Willing. Mais de um milhão de espanhóis protestaram contra a invasão, e 80% da população espanhola dizia ser contrária a ela[32], mas seu comprometimento com a paz acabou aí – eles não fizeram nada para efetivamente evitar o apoio militar espanhol à invasão e à ocupação. Porque eles permaneceram passivos e não fizeram nada para desapoderar as lideranças, eles permaneceram tão impotentes quanto qualquer cidadão de qualquer democracia. O primeiro-ministro espanhol Aznar não foi somente autorizado e capaz de ir à guerra, todas as previsões apontavam que ele ganharia a reeleição – antes dos atentados. Em 11 de março de 2004, apenas alguns dias antes da abertura das cabines de votação, múltiplas bombas plantadas por uma célula ligada à Al-Qaeda explodiram nas estações de trem de Madri, matando 191 pessoas e ferindo mais alguns milhares. Diretamente por causa disso, Aznar e seu partido perderam as eleições, e os Socialistas, o maior partido com uma plataforma antiguerra, foram eleitos ao poder[33]. A coalizão liderada pelos Estados Unidos encolheu com a saída das 1300 tropas espanholas, e, de novo, encolheu imediatamente depois que República Dominicana e Honduras também retiraram suas tropas. Enquanto milhões de ativistas pacíficos votavam nas ruas como boas ovelhas, uma pequena dezena de terroristas disposta a abater não combatentes foi capaz de causar a retirada de mais de mil tropas da ocupação.
As declarações e as ações das células afiliadas à Al-Qaeda não sugerem que eles queiram uma paz significativa no Iraque, nem demonstram alguma preocupação com o bem-estar dos iraquianos (os quais muitos foram por eles explodidos em pedaços), mas mostram alguma preocupação por uma visão particular de como a sociedade iraquiana deveria ser organizada: uma visão que é extremamente autoritária, patriarcal, e fundamentalista. E, sem dúvida, o que foi possivelmente uma decisão fácil – de matar e ferir centenas de pessoas desarmadas –, embora tal ação possa ter parecido estrategicamente necessária, está conectada ao seu autoritarismo e brutalidade, e mais ainda à cultura intelectual da qual muitos terroristas derivam (apesar disso ser outro tópico).
A moralidade da situação se torna mais complicada quando comparada à campanha estadunidense massiva de bombardeio que matou, intencionalmente, centenas de milhares de civis na Alemanha e no Japão durante a II Guerra Mundial. Mesmo que essa campanha tenha sido muito mais brutal do que os atentados de Madri, geralmente ela é considerada aceitável. A discrepância que podemos assumir entre condenar as pessoas que colocaram as bombas em Madri (fácil) e condenar os ainda mais sanguinários pilotos americanos (não tão fácil, talvez porque entre eles podemos achar nossos próprios parentes – meu avô, por exemplo) deveria nos fazer questionar se nossa condenação ao terrorismo realmente tem alguma coisa a ver com um respeito pela vida. Como não estamos lutando por um mundo autoritário, ou um em que o sangue é derramado em conformidade com justificativas racionais calculadas, os atentados de Madri não representam um exemplo de ação, mas antes, um paradoxo importante. As pessoas que aderem a táticas pacíficas – que não provaram ser eficazes em terminar a guerra contra o Iraque – estão realmente mais preocupadas com a vida humana do que os terroristas de Madri? Afinal, muito mais do que 191 civis iraquianos foram mortos pelas 1.300 tropas instaladas no país. Se alguém precisa morrer (e a invasão americana faz essa tragédia ser inevitável), cidadãos espanhóis possuem mais culpa do que iraquianos (assim como cidadãos alemães e japoneses têm mais culpa do que outras vítimas da II Guerra Mundial).
Até o momento, nenhuma alternativa ao terrorismo foi desenvolvida dentro – da barriga relativamente vulnerável – da Besta para substancialmente enfraquecer a ocupação. Por isso, a única resistência real está ocorrendo no Iraque, onde os EUA e seus aliados estão mais preparados para se encontrar com ela, ao grande custo das vidas das guerrilhas e dos não combatentes.
Isso para vermos o quanto vale as vitórias do pacifismo.
Também ajudaria a entender os fracassos do alcance dessas ideias um exemplo controverso mas necessário, o do Holocausto[34]. Em grande parte do “devorador” (como é chamado o Holocausto em Roma), a resistência militar não foi totalmente ausente, dessa forma, podemos medir a eficácia da resistência pacifista independentemente. O Holocausto é também um dos poucos fenômenos em que a responsabilização das vítimas é vista corretamente como um suporte ou simpatia ao opressor, assim, as revoltas ocasionais em oposição ao Holocausto não podem ser usadas para justificar a repressão e o genocídio, como acontece em outros lugares quando pacifistas responsabilizam a violência das autoridades pela audácia dos oprimidos em tomar a ação direta militar contra essa autoridade. Alguns pacifistas foram muito ousados ao usar exemplos de resistência aos Nazistas, como a desobediência civil levada pelos dinamarqueses, ao sugerir que a resistência não violenta pode funcionar até mesmo nas piores condições[35]. É realmente necessário apontar que os dinamarqueses, enquanto arianos, enfrentaram uma série de consequências pela resistência um tanto diferentes do que as primeiras vítimas dos nazistas? O Holocausto somente terminou pela combinada e esmagadora violência dos governos Aliados, que destruíram o Estado Nazista. Embora, para ser honesto, eles tenham se preocupado muito mais em redesenhar o mapa da Europa do que salvar vidas de cidadãos de Roma, judeus, gays, esquerdistas, prisioneiros de guerra soviéticos, e outros. Inclusive, soviéticos tenderam a “expurgar” prisioneiros de guerra resgatados, temendo que mesmo que eles não fossem culpados pela deserção ao renderem-se, seu contato com estrangeiros nos campos de concentração os tivesse contaminado ideologicamente.
As vítimas do Holocausto, entretanto, não foram completamente passivas. Um grande número delas agiu para salvar vidas e para sabotar a máquina mortal nazista. Yehuda Bauer, quem lida exclusivamente com as vítimas judias do Holocausto, documenta enfaticamente essa resistência. Até 1942, “rabinos e outras lideranças […] desaconselharam pegar em armas”, mas eles não aconselharam passividade, preferencialmente, “a resistência era não violenta”[36]. Claramente, não diminuiu o genocídio ou enfraqueceu os nazistas de nenhuma forma mensurável. No início de 1942, judeus começaram a resistir violentamente, apesar de ainda terem muitos exemplos de resistência não violenta. Em 1943, pessoas na Dinamarca ajudaram a maioria dos milhares de judeus do país a escapar para a neutra Suécia. De maneira semelhante, no mesmo ano, o governo, a Igreja, e o povo da Bulgária pararam a deportação de judeus de seu país[37]. Em ambos casos, os judeus resgatados foram, no fim das contas, protegidos por forças militares e mantidos seguros pelas fronteiras de um país que não estava sob ocupação direta germânica, em um momento em que a guerra começava a parecer sombria para os nazistas (por causa da violenta investida dos soviéticos, os nazistas temporariamente negligenciaram a pequena frustração de seus planos pela Suécia e pela Bulgária). Em 1941, os habitantes de um gueto em Vilnius, na Lituânia, conduziram uma sentada[38] massiva quando os nazistas e as autoridades locais se preparam para deportá-los[39]. Esse ato de desobediência civil pode ter atrasado um pouco a deportação, mas falhou em salvar qualquer vida.
Alguns líderes dos Judenrats, os Conselhos Judeus estabelecidos pelos nazistas para governarem os guetos em complacência com suas ordens, apoiaram os nazistas em uma tentativa de não mudar o status quo[40], com a esperança de que o maior número possível de judeus ainda estivesse vivo ao final da guerra. (Esse é um bom exemplo porque muitos pacifistas nos EUA hoje também acreditam que se você está abalando o status quo ou causando conflitos, você está fazendo algo errado[41].) Bauer escreve: “Ao final, a estratégia falhou, e aqueles que tentaram usá-la descobriram com horror que eles haviam se tornado cúmplices do plano nazista de assassinatos”[42]. Outros membros dos Conselhos Judeus foram mais ousados, e recusaram abertamente a cooperar com os nazistas. Em Lvov, na Polônia, o primeiro presidente do conselho recusou a cooperar, e foi devidamente morto e substituído. Como Bauer aponta, as substituições eram muito mais complacentes (embora até mesmo a obediência não os salvasse, uma vez que eles eram todos conduzidos aos campos de extermínio; no caso específico de Lvov, o substituto foi morto mesmo assim, apenas pela suspeita de resistência). Em Borszczow, na Polônia, o presidente do conselho se recusou a cumprir ordens nazistas, e foi enviado para o campo de extermínio de Belzec[43].
Outros membros dos conselhos usaram uma diversidade de táticas, e elas foram claramente mais eficientes. Em Kovno, na Lituânia, eles fingiram cumprir as ordens nazistas, mas eram secretamente parte da resistência. Eles, com sucesso, esconderam crianças que seriam deportadas e tiraram jovens dos guetos para que pudessem lutar junto aos partisans. Na França, “ambas seções dos conselhos pertenciam à clandestinidade e estavam em contato constante com a resistência […] e contribuíram significativamente com os salvamentos da maioria dos judeus no país”[44]. Mesmo onde eles não tomaram pessoalmente parte da resistência, eles multiplicaram imensamente sua efetividade ao apoiar aqueles que a faziam.
E também havia as guerrilhas urbanas e os partisans que lutaram violentamente contra os nazistas. Em abril e maio de 1943, judeus no gueto de Varsóvia levantaram-se com armas clandestinas, roubadas e feitas em casa. Setecentos homens e mulheres jovens lutaram por semanas, até a morte, imobilizando milhares de tropas nazistas e outros recursos necessários para o colapso da Frente Oriental. Eles sabiam que seriam mortos sendo pacíficos ou não. Por rebelarem-se violentamente, viveram as últimas semanas de suas vidas em resistência e liberdade, e reduziram a máquina de guerra nazista. Outra rebelião armada eclodiu no gueto de Bialystok, na Polônia, em 16 de agosto de 1943, e continuou por semanas.
Guerrilhas urbanas, como um grupo composto por judeus sionistas e comunistas em Cracóvia, com sucesso, explodiram trens de suprimentos e ferrovias, sabotaram fábricas de guerra, e assassinaram oficiais do governo[45]. Judeus e outros grupos partisans, em toda parte da Polônia, Tchecoslováquia, Belarus, Ucrânia, e dos países bálticos, também realizaram atos de sabotagem às linhas de abastecimento germânicas e lutaram contra as tropas da SS. De acordo com Bauer, “No leste polonês, Lituânia, e na União Soviética ocidental, ao menos 15000 judeus partisans lutaram nas matas, e pelo menos 5000 judeus desarmados lá viveram, protegidos – todo ou parte do tempo – pelos combatentes”[46]. Na Polônia, um grupo de partisans liderado pelos irmãos Belksy salvou mais de 1200 homens, mulheres e crianças judeus, em parte por levar a cabo mortes por vingança contra aqueles que atuaram como delatores ou que indicavam os fugitivos. Grupos semelhantes partisans na França e na Bélgica sabotaram a infraestrutura da guerra, assassinaram oficiais nazistas, e ajudaram pessoas a escapar dos campos de concentração. Um grupo de judeus comunistas na Bélgica descarrilhou um trem que levava pessoas para Auschwitz, e ajudou muitas centenas deles a escapar[47]. Durante a rebelião no campo de concentração de Sobibor, em outubro de 1943, resistentes mataram vários oficiais nazistas e permitiram que 400 dos 600 presos escapassem. A maioria foi rapidamente morta, mas por volta de 60 deles sobreviveram e se juntaram aos partisans. Dois dias depois da revolta, Sobibor foi fechada. Uma rebelião em Treblinka, em agosto de 1943, destruiu aquele campo de concentração, e ele não foi reconstruído. Os participantes de outra insurreição em Auschwitz, em outubro de 1944, destruíram um dos crematórios[48]. Todas esses levantes violentos retardaram o Holocausto. Em comparação, táticas não violentas (e, dito isso, os governos Aliados, cujos bombardeiros poderiam ter facilmente alcançado Auschwitz e outros campos) fracassaram em destruir ou fechar qualquer campo de concentração antes do fim da guerra.
No Holocausto, e em exemplos extremos menores que vão desde a Índia até Birmingham, a não violência fracassou em empoderar suficientemente seus praticantes, enquanto o uso de uma diversidade de táticas obteve resultados. Posto de uma maneira simples: se um movimento não é uma ameaça, não pode mudar um sistema baseado na violência a na coerção centralizada, e se esse movimento não se dá conta nem exercita o poder que o faz ser uma ameaça, ele não pode destruir tal sistema. No mundo de hoje, governos e corporações controlam quase todo o monopólio do poder, do qual um dos aspectos mais importantes é a violência. A menos que mudemos as relações de poder (e, preferencialmente, destruamos a infraestrutura e a cultura de poder centralizado para tornar impossível a subjugação da maioria por uma minoria), aqueles que atualmente se beneficiam da onipresença da estrutura da violência, que controlam o exército, os bancos, as burocracias, e as corporações, continuarão tomando as decisões. A elite não pode ser persuadida por apelos à sua consciência. Indivíduos que mudam suas ideias e encontram uma moralidade melhor serão despedidos, impedidos, substituídos, desaparecidos, mortos.
Uma e outra vez, pessoas lutando não por alguma reforma tosca mas por uma libertação completa – a recuperação do controle de nossas próprias vidas e o poder de negociar nossas próprias relações com as pessoas e com o mundo ao nosso redor – verão que a não violência não funciona, que lidamos com uma estrutura de poder que se autoperpetua e que é imune a apelos à consciência e forte o suficiente para passar por cima dos desobedientes e pouco cooperativos. Precisamos retomar a história da resistência para entender como falhamos no passado e como exatamente alcançamos o limitado sucesso que conseguimos. Precisamos aceitar também que todas as lutas sociais, exceto aquelas levadas a cabo por pessoas completamente pacificadas e, portanto, ineficazes, incluem uma diversidade de táticas. Ao perceber que a não violência nunca realmente produziu vitórias históricas em relação a objetivos revolucionários, se abre a porta para considerar outras sérias falhas da não violência.
A Não Violência é racista
Não pretendo trocar insultos, e só emprego o epíteto “racista” após cuidadosas considerações. No atual contexto, a não violência é uma posição que implica em privilégio. Partindo do fato de que o típico pacifista é, evidentemente, branco e de classe média, está claro que o pacifismo, como ideologia, vem de um contexto de privilegiados. Este ignora que a violência já existe, que a violência é uma parte inevitável e estruturalmente integral das hierarquias sociais existentes; que as pessoas não brancas são as mais afetadas por esta violência. O pacifismo assume que as pessoas brancas que se criam nos bairros abastados, com todas as suas necessidades básicas saciadas, podem aconselhar os oprimidos – muitos deles não brancos – para que sofram esta violência com paciência, esperando que consigam convencer ao Grande Pai Branco[1] sobre as demandas de seu movimento, ou que este movimento consiga se conectar com a lendária massa crítica da qual sempre falam.
Os negros dos guetos dos Estados Unidos não podem se defender da brutalidade policial, ou desapropriar os recursos para a sua sobrevivência, ou ainda se liberar da servidão econômica. Eles devem esperar até terem um número suficiente de pessoas negras com maiores privilégios econômicos (os escravos da casa da análise de Malcom X), e que as pessoas brancas tomem consciência para se unirem aos negros, para que se deem as mãos e cantem canções.
Depois disso, acreditam que seguramente a mudança chegará. Os povos oprimidos da América Latina devem sofrer pacientemente, como verdadeiros mártires, enquanto ativistas brancos, nos Estados Unidos, “dão testemunhos” de suas vivências no Sul e escrevem para o Congresso[2].
A população do Iraque também não deve se defender. Só quem morrer como civil deve ter sua morte contabilizada e chorada pelos ativistas brancos os quais, quando menos se espera, conseguirão levar adiante uma mobilização de protesto grande o suficiente para deter a guerra.
Mesmo os povos indígenas devem esperar, só mais um pouquinho (ou seja, outros 500 anos), sob a sombra do genocídio, morrendo lentamente sem suas terras, marginalizados, até… Bom, não são uma prioridade por hora, então talvez precisem organizar uma ou duas manifestações para chamar a atenção e conseguir a simpatia dos poderosos. Ou de repente poderiam fazer uma greve, comprometidos com a não cooperação gandhiana? Mas espere um pouco, a maioria dos indígenas não possui empregos, não coopera, está totalmente excluída do funcionamento do sistema!
A não violência afirma que os índios americanos poderiam ter lutado contra Colombo, George Washington, e todos os demais carniceiros genocídas através de bloqueios sentados[3]; que Crazy Horse, empregando a resistência violenta, tornou-se parte do ciclo da violência e foi “tão mau quanto” Custer[4].
A não violência afirma que os africanos e africanas poderiam ter detido o comércio escravocrata com greves de fome e petições, e que os que se amotinaram foram tão maus quanto seus raptores; que o motim é uma forma de violência que leva a mais violência, e, deste jeito, a resistência conduz a mais escravidão. A não violência se recusa a reconhecer que estes esquemas só funcionam para as pessoas brancas privilegiadas, que têm um status assegurado pela violência, como perpetuadores e beneficiários desta violência hierárquica.
Pacifistas devem saber, imagino que inconscientemente, que a não violência é uma posição absurdamente privilegiada; através dela, fazem menção frequentemente à temática da raça, removendo os ativistas não brancos de seu contexto e empregando-os de maneira seletiva como porta vozes da não violência. Foi desta forma que Gandhi e Martin Luther King Jr. tornam-se representantes de todas as pessoas não brancas. Nelson Mandela também o era, até que pacifistas brancos descobriram que empregou a não violência seletivamente, e que, de fato, esteve envolvido em atividades de libertação de caráter violento, tais como atentados e a preparação de um levante armado[5]. Mesmo Gandhi e Luther King estiveram de acordo de que era necessário apoiar os movimentos de libertação armada (citando exemplos como a Palestina e o Vietnã, respectivamente) onde ainda não havia uma alternativa não violenta, priorizando claramente os objetivos acima das táticas. Mas a maioria dos pacifistas brancos de hoje apaga esta parte da história e se entrete com a não violência para assegurar seu conforto, mesmo os que se autoproclamam sucessores de Martin Luther King e Gandhi[6]. Tem-se a impressão de que se Martin Luther King Jr. chegasse disfarçado numa destas vigílias pacifistas, não teria a permissão de falar. Como ele mesmo apontou:
Além dos intolerantes e reacionários, [o racismo] parece ser uma doença existente inclusive entre aqueles brancos que gostam de olhar a si mesmos como “iluminados”. Refiro-me especialmente àqueles que aconselham “Esperem!” e aqueles que falam que simpatizam com os nossos objetivos, mas que não concordam com os nossos métodos de ação direta na busca por esses objetivos. Me refiro aos homens que se atrevem a sentir que têm algum direito paternalista de determinar qual é a hora da libertação de outros homens […] Nos últimos anos, devo dizer, tenho me sentido gravemente decepcionado com estes brancos “moderados”. Com frequência, sinto-me inclinado a pensar que eles constituem um maior impedimento para o progresso negro do que um Conselho de Cidadãos Brancos ou a Ku Kux Klan[7].
A de se ter também em conta que as pessoas brancas privilegiadas é que designaram ativistas como Gandhi e Luther King para ocuparem posições de liderança em escala nacional. Entre os ativistas brancos e, não por casualidade, dentro do domínio da elite branca, a Marcha para Washington da era da luta pelos direitos civis está associada em primeiro lugar, e, principalmente, com o discurso I have a dream[8], de Martin Luther King Jr. Sobretudo ausente da consciência branca, mas tão influente quanto (a marcha) entre os negros, foi a perspectiva de Malcom X, articulada no seu discurso crítico sobre a liderança da marcha:
Foram as bases políticas que saíram para a rua o que assustou mortalmente o homem branco; assustou mortalmente a estrutura do poder do branco de Washington DC; eu estava lá. Quando eles descobriram que o rolo compressor negro ia derrubar a capital, chamaram a esses líderes negros da nação, que você respeita e nos quais acredita, para dizer-lhes: “Suspenda as ações”, disse Kennedy, e acrescentou: “Olha, vocês estão deixando isto ir longe demais”. E o Velho Tom falou: “Patrão, não posso pará-las, porque não fui eu quem começou”. Estou falando para vocês o que disseram. Eles disseram: “Nem mesmo estou lá, e muito menos as controlo”. Os brancos então disseram: “Estes negros estão fazendo as coisas por conta própria. Estão se adiantando a nós”. E a velha e astuta raposa falou: “Se vocês não estão lá, nós colocaremos vocês lá. Colocaremos-os na direção desse movimento. Promoveremos vocês, lhes daremos boas-vindas […]
Isto é o que eles fizeram na marcha de Washington. Eles se somaram a ela […] tomaram parte, assumiram-na. E logo que eles assumiram-na ela perdeu seu caráter militante. Deixou de ser um aborrecimento, deixou de ser incendiária, deixou de ser comprometida porque inclusive deixou de ser uma marcha. Tornou-se um piquenique, um circo. Nada mais do que um circo, com palhaços e tudo […]
Não, foi uma traição. Foi uma absorção […] a levaram a rédeas curtas, falaram para esses negros em que momento eles deveriam golpear a cidade, onde deveriam parar, que símbolos levar, que canções cantar, qual discurso poderiam fazer e qual não poderiam, e então falaram para eles que fossem embora antes do anoitecer[9].
O resultado final da marcha foi investir recursos significativos do movimento num momento crítico, em um evento finalmente pacificador. Nas palavras de Bayard Rustin – um dos líderes da marcha – “começam a organizar uma marcha massiva partindo de uma má suposição, e logo se assume que todas as pessoas ali reunidas têm a mentalidade de uma criança de três anos”[10]. Os manifestantes receberam cartazes de protesto pré-fabricados com slogans aprovados pelo governo, os discursos de muitas lideranças da manifestação, incluindo o do presidente do Comitê Estudantil de Coordenação Não Violenta (Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC), John Lewis, foram censurados por fazerem menção à ameaça de luta armada e críticas sobre o projeto do governo de lei dos direitos civis; tal como Malcom X descreveu, no final, toda a multidão foi chamada para ir embora o mais cedo possível.
Mesmo desfrutando comparativamente de pouca atenção nas histórias oficiais (mainstream), Malcom X foi extremamente influente no movimento de libertação negro, e foi reconhecido como tal, não só pelo próprio movimento, mas também pelas forças governamentais encarregadas de destruir este movimento. Num memorando interno, o FBI assinala a necessidade de prevenir a ascensão de um “messias” negro como parte do seu Programa de Contrainteligência. Segundo o FBI, é Malcom X quem “deveria ter sido esse messias; ele é o mártir do movimento hoje em dia”[11]. O fato de Malcom ter sido escolhido pelo FBI como a maior das ameaças, aumenta a possibilidade de veracidade das hipóteses da implicação do Estado em seu assassinato[12]; sem dúvida outros ativistas negros não pacifistas foram, em outros casos, alvos do governo, eliminados por meio do assassinato[13]. Ao mesmo tempo, a Martin Luther King Jr. foram permitidas sua celebridade e influência até que se tornou mais radical, falando de revolução anticapitalista e advogando solidariamente pela luta armada do povo vietnamita.
De fato, o ativismo branco, em particular aquele interessado em minimizar a importância da militância e da luta armada, apoiou o Estado no assassinato de Malcom X (e de outros revolucionários similares). Fizeram a parte menos “suja” do trabalho, fazendo desaparecer sua memória, apagando-o da história[14]. E mesmo com sua desproporcional devoção para com ele (existiram, ao final das contas, muitas pessoas, além de King, no movimento pelos direitos civis), contribuíram de forma similar com o assassinato de Martin Luther King Jr., mesmo que no seu caso tenha sido empregado um método mais orwelliano (assassinar, reformular, e cooptar). Darren Parker, um ativista negro e assessor de grupos de base cujas críticas contribuíram na minha própria compreensão da não violência, escreve:
A quantidade de vezes que as pessoas citam Luther King é muito desagradável para a maioria dos negros, porque eles sabem o quanto sua vida foi focada na luta racial […] E quando se lê de fato Luther King, se pergunta por que as partes onde critica as pessoas brancas – que constitui a maior parte das coisas que disse e escreveu – nunca são citadas[15].
Assim, a crítica mais forte de Luther King ao racismo é evitada (pelas pessoas brancas)[16], e estereotipificam seus comentários do ativismo não violento, repetindo-os ad nauseam, o que permite aos pacifistas brancos que aproveitem-se de um recurso cultural autorizado para confirmar seu ativismo não violento e evitar que se enfatize o racismo inerente a sua própria posição, associando-se ao lado negro visivelmente não controverso.
A revisão pacifista da História, que elimina exemplos militantes de luta contra a supremacia branca, não pode ser desvinculada de um racismo que é inerente à posição não violenta. É impossível reivindicar apoio para as pessoas não brancas, e menos ainda solidarizar-se com suas lutas, quando grupos tão significativos como o Partido dos Panteras Negras (Black Panther Party, BPP), o Movimento Indígena Americano (American Indian Movement, AIM), os Beretas Marrons (Brown Berets), ou Vietcong são ativamente ignorados, privilegiando uma imagem homogênea da luta antirracista, a qual admite apenas elementos que não contradigam sua autocomplacente visão da revolução, favorável principalmente aos ativistas brancos. Reclamar pelo apoio e solidariedade torna-se ainda mais pretensioso quando pacifistas brancos definem as regras das táticas aceitáveis e as impõem ao movimento, negando a importância dos fatores como os contextos raciais e de proveniência de classe, entre outros.
A questão não é se ativistas brancos, com a intenção de serem antirracistas, devam apoiar acriticamente qualquer grupo de resistência asiático, latino, indígena ou negro que apareça. Mas sim, se existe ou não um certo universalismo eurocêntrico na ideia de que todos somos parte da mesma luta homogênea, se os brancos que vivem no coração do império podem ou não dizer às pessoas não brancas e às pessoas vivendo nas (neo)colônias qual é a melhor maneira de resistir. As pessoas mais afetadas por um determinado sistema de opressão deveriam estar na frente de lutas contra ele[17], mesmo que o pacifismo siga produzindo continuamente organizações e movimentos de pessoas brancas, que iluminam e lideram o caminho para salvar pessoas não brancas. O imperativo da não violência anula o respeito básico de confiar que as pessoas se libertem. Sempre que pacifistas brancos preocupam-se com uma causa que afeta os não brancos, e as pessoas não brancas afetadas não se sujeitam àquela definição particular de não violência, esses ativistas se colocam na posição de professores e guias, reproduzindo uma dinâmica que é claramente colonial. Esta é, em grande medida, uma evidente função do privilégio branco (uma visão de mundo socialmente construída, ensinada e difundia entre todas as pessoas identificadas pela sociedade como “brancas”). Os militantes ativistas brancos podem incorrer, e incorrem, em erros semelhantes quando sua falta de respeito alia-se com a cor, ditando qual é o mais apropriado método de luta.
A Weather Underground[18] e outros grupos brancos militantes dos anos 60 e 70 fizeram um péssimo trabalho de ampliação da solidariedade ao movimento de libertação negro, manifestando seu apoio, porém, retendo todo o material que pudesse lhes ajudar. Em parte, isso se deu porque viam a si mesmos como a vanguarda, e aos grupos negros como competidores ideológicos. Outras organizações brancas, tais como o Movimento de Apoio a Libertação (Liberation Support Movement), utilizaram seu auxílio para exercer controle sobre os movimentos anticoloniais de libertação com os quais afirmaram estar atuando em solidariedade[19], isso se deu de modo muito similar à atuação de uma agência de auxílio do Governo.
É interessante que, mesmo entre os militantes ativistas brancos, o racismo fomenta a passividade. Um dos problemas da Weather Underground é que reivindicavam que estavam lutando ao lado das pessoas negras e vietnamitas, mas demonstravam que só era uma postura. Limitaram-se a dirigir uns poucos atentados, inofensivos e simbólicos, e algumas ações que evidentemente não colocavam suas vidas em risco. Hoje, seus veteranos não estão mortos ou presos (exceto três deles, envolvidos num acidente ocorrido durante a confecção de uma bomba, e aqueles que deixaram a Weather para se juntarem ao Exército de Libertação Negro (Black Liberation Army) vivem confortavelmente como acadêmicos e profissionais[20]. Os militantes anarquistas brancos dos Estados Unidos, hoje em dia, apresentam tendências similares. Penso, por exemplo, em boa parte do barulhento desdém que mostram com as atuais lutas de libertação, ao invés de apoiar seus elementos mais antiautoritários, acusam-os de “não serem anarquistas”. O resultado é que estes duros anarquistas (e, ao mesmo tempo, de sofá) não podem encontrar uma resistência verdadeiramente digna de seu apoio, sendo assim aferram-se às posturas militantes e à violência dos seus sofismas ideológicos.
Um sistema de supremacia branca pune a resistência de pessoas não brancas com mais severidade que a resistência de pessoas brancas. Mesmo ativistas brancos que nos tornaram conscientes das dinâmicas do racismo encontram no privilégio disto resultante uma das seguranças garantidas socialmente à qual é difícil renunciar. Por conseguinte, aqueles que diretamente desafiam a supremacia branca pela militância, parecem ameaçá-los. Mumia Abu-Jamal escreve:
Os louvores e aromas da luta negra do final do século XX foram avisados aos veteranos da luta pelos Direitos Civis, cujo epítome foi representado pelo mártir Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., elevado pelas elites brancas e negras ao cume da aceitação social. A mensagem do Dr. King de misericórdia cristã e sua doutrina de oferecer a outra face foram tranquilizantes para psique branca. Para os americanos da geração das commodities, Dr. King foi, acima de tudo, um seguro.
O Partido dos Panteras Negras foi a antítese do Dr. King.
O Partido não era um grupo de Direitos Civis […] mas praticou o direito à autodefesa […] O Partido dos Panteras Negras fez os americanos (brancos) sentirem muitas coisas, mas segurança não foi uma delas[21].
Os pacifistas brancos (e também os pacifistas negros burgueses) têm medo da total abolição do sistema capitalista branco. Pregam a não violência para as pessoas que estão na base da hierarquia racial e econômica, precisamente porque a não violência é ineficiente, e qualquer revolução iniciada por “essas pessoas”, que pretenda continuar não violenta, será incapaz de eliminar posições privilegiadas dos brancos e dos ricos. Mesmo as vertentes da não violência que procuram abolir o Estado, buscam fazê-lo transformando-o (e convertendo as pessoas em poder); portanto, a não violência requer que ativistas tentem influenciar as estruturas de poder, o que requer que se aproximem delas, o que significaria que as pessoas privilegiadas, que têm maior acesso ao poder, terão o controle do movimento e se erguerão como guardiãs e intermediárias que permitirão que às massas dirijam suas vozes ao poder.
Em Novembro do ano 2003, ativistas da Vigia à Escola das Américas (School of the Americas Watch, SOAW) organizaram um debate sobre a opressão durante sua vigília pacífica anual em frente à base militar de Fort Benning (sede da Escola das Américas, SOA, uma escola de treinamento militar implicada em numerosas violações dos direitos humanos e golpes militares na América Latina). Os organizadores do debate tiveram dificuldade ao pedir que os participantes brancos de classe média (grupo dominante na vigília não violenta) focassem sua atenção nas dinâmicas opressivas (tais como o racismo, o classismo, o sexismo e a transfobia) presentes na organização, e entre ativistas associados, com os esforços antimilitaristas da SOAW. Ao invés disso, as pessoas no debate, particularmente as mais velhas, brancas, e autoproclamadas pacifistas, continuavam a retornar às formas de opressão praticadas por forças externas – a polícia estadunidense ou os militares que subjugam a população latino-americana. Ficou evidente que a autocrítica (e melhoria) era uma opção não desejada; preferiam concentrar-se na violência que exercem os demais, enfatizando na sua própria vitimização (e, daí, sua suposta superioridade moral em comparação com as forças do poder do Estado). Na ocasião, alguns ativistas veteranos negros que assistiram ao debate conseguiram chamar a atenção para as várias formas de racismo que acontecem dentro e no entorno da organização, o que era um impedimento para que se conseguisse maior apoio entre a população não privilegiada. Talvez tenham exposto a crítica ao racismo mais importante dirigida às práticas pacifistas da organização. Falaram contra os privilégios pacifistas brancos, de um ativismo acomodado e do entretenimento, uma atitude festiva de manifestação, que põe em dúvida suas pretensões de constituir ações “revolucionárias”, ou mesmo de protesto.
Uma mulher negra ficou particularmente indignada com uma experiência que teve ao pegar um ônibus para a vigília de Fort Benning com outra ativista branca do SOAW. Durante uma conversa, a ativista branca comentou que não apoiava práticas de não violência. Logo em seguida, a branca lhe disse que ela estava “no ônibus errado” e que aquele protesto não era para ela. Quando relatei esta história e as outras críticas feitas pelos negros durante o debate citado, em uma lista de e-mails de ex-presidiários afiliados da SOAW (após cumprirem de forma totalmente voluntária uma sentença de prisão de um máximo de seis meses, otorgaram a si mesmos o título honorífico de “presos de consciência”), uma ativista branca pela paz me respondeu que ficava surpresa que uma mulher negra pudesse ter uma ideologia oposta à não violência, apesar do legado de Martin Luther King Jr., e do legado do movimento pelos direitos civis[22].
Sob o frequente e manipulador uso das pessoas não brancas como as caras visíveis simbólicas e os porta-vozes domesticados do movimento, os pacifistas seguem com seus marcos táticos e ideológicos formulados por teóricos brancos. Ao passo que ativistas revolucionários são pressionados duramente para que citem os teóricos brancos sobre qualquer coisa relevante a dizer em relação aos métodos de luta militante, os expoentes do pacifismo são principalmente brancos (por exemplo: David Dellinger, os Berrigans, George Lakey, Gene Sharp, Dorothy Date e AJ Muste). Um artigo publicado no The Nation, que promove a não violência, usa o nome de Gandhi como bandeira, mas cita primariamente ativistas brancos e universitários por articular uma estratégia mais precisa[23]. Outro artigo sobre a não violência, recomendado por um ativista pacifista anti-SOA, dirigido a ativistas não pacifistas que duvidavam da profundidade da estratégia do pacifismo, cita somente as vozes de brancos[24]. Num livro muito conhecido entre pacifistas norte-americanos, é dito que a “América tem mais frequentemente sido o professor e não o aluno do ideal da não violência”[25].
Os pacifistas também fariam bem em examinar a cor da não violência. Quando mencionamos distúrbios, a quem imaginamos? Ativistas brancos cometendo danos à propriedade como uma forma de desobediência civil que pode forçar, mas normalmente não perde, a cobertura protetora da “não violência”. Os não brancos comprometidos na destruição da propriedade politicamente motivada, a menos que estritamente encaixados na rubrica de um protesto organizado por ativistas brancos, são banidos à esfera da violência, não considerados como ativistas e não retratados como conscientes. O racismo do sistema judiciário, o maior e mais violento componente da nossa sociedade, é algo que os ativistas brancos raramente priorizam nos seus argumentos, e tem um importante impacto na psique estadunidense. “Violência” e “criminalidade” são conceitos quase intercambiáveis (consideremos o quão cômodos estão os pacifistas com o uso da terminologia moral do Estado – por exemplo, “justiça” – como se fosse deles próprios), e o propósito principal de ambos conceitos é estabelecer a culpa. Assim como os criminosos que merecem repressão e castigo, as pessoas que usam a violência merecem suas inevitáveis e kármicas violentas consequências; isso é integral para a posição pacifista. Eles podem negar que acreditam que qualquer um mereça ser alvo de violência, mas um argumento comum entre pacifistas é que revolucionários não deveriam empregar a violência porque o Estado, depois, a utilizará para “justificar” repressões violentas. Bom, para quem estas repressões violentas são justificáveis, e por que aqueles que dizem ser contra a violência não estão tentando injustificá-las? Por que ativistas contra a violência buscam mudar a moralidade da sociedade, em como esta vê a opressão ou a guerra, mas aceitam a moralidade da opressão como natural e intocável?
Esta ideia de consequências repressivas inevitáveis na militância, frequentemente, vai além da hipocrisia que leva a culpar a vítima por completo e aprovar a violência repressiva. Os não brancos, que são cotidianamente oprimidos pela polícia e pela violência estrutural, são aconselhados a não responder com violência porque isto poderia justificar a violência do Estado já mobilizada contra eles. A culpabilização da vítima tem sido um ponto chave do discurso pacifista, inclusive estrategicamente, nos anos 1960 e 1970, quando muitos ativistas brancos ajudaram a justificar certas ações do Estado, neutralizaram ações que poderiam ter se convertido em uma afronta antigoverno, no violento estado de repressão do movimento de libertação negro e outros movimentos de libertação, tais como os assassinatos dos Panteras Negras, Fred Hampton e Mark Clark, por parte da polícia. Longe de apoiar e ajudar os Panteras, os pacifistas brancos acharam mais elegante afirmar terem sido eles que “provocaram a violência” que depois foi “lançada contra eles próprios”[26].
Recentemente, no encontro anarquista citado anteriormente, cobrei que o movimento antiguerra estadunidense merecia compartilhar a culpa da morte de três milhões de vietnamitas por serem tão complacentes com o poder do Estado. Um pacifista, anarquista e cristão, respondeu à minha acusação sustentando que a culpa era (eu esperava que ele falasse que era somente dos militares estadunidenses, mas não!) de Hồ Chí Minh e dos líderes vietnamitas, por praticarem a luta armada[27]. (Ou este pacifista considera os vietnamitas pessoas incapazes de conseguir um grande avanço popular em direção à resistência violenta por si próprios, ou os culpa por isso igualmente.) Tem-se a impressão de que se houvesse um maior número de ciganos, judeus, gays e outros, que tivessem resistido violentamente ao Holocausto, os pacifistas achariam conveniente culpá-los pelo genocídio, e também pela ausência de uma oposição exclusivamente pacifista.
Pregando a não violência, e abandonando nas garras da repressão do Estado todos aqueles que não escutam com obediência, os ativistas brancos que acham estar preocupados com o racismo, estão de fato promulgando uma relação paternalista, desempenhando a função de pacificar o oprimido, tão útil para o poder. Os tão aclamados líderes dos Direitos Civis, incluindo Luther King, tornaram-se um instrumento para a estratégia governamental da “bala e urna”[28], isolando e destruindo ativistas militantes negros e manipulando o resto para que apoie uma agenda pró-governamental muito debilitada, centrada nas eleições. Na verdade, a Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor (National Association for the Advancement of Colored People) e o Conselho Sulista de Liderança Cristã (Southern Christian Ledership) foram pagos pelo governo por seus serviços[29]. (E o Comitê Estudantil de Coordenação Não Violenta (Student Non-violent Coordination Comitee) dependeu em grande parte das doações dos seus endinheirados benfeitores liberais, os quais perderam quando adotou uma postura militante, fator que contribuiu para seu colapso[30].)
Um século antes, uma das principais atividades do Ku Klux Klan nos anos posteriores à Guerra Civil era desarmar toda a população negra do sul, roubando todas as armas que encontrava com negros recentemente “libertados”, muitas vezes com o auxílio da polícia. Na verdade, e em grande medida, o Klan atuou como uma força paramilitar frente ao Estado em tempos de revolta e, tanto a KKK quanto as forças policiais estadunidenses têm suas raízes nas patrulhas escravagistas antebellum, que regularmente aterrorizavam os negros como forma de controle, no que pode ser descrito como política original do perfil racial[31]. Hoje em dia, o Klan tem sido esquecido, a polícia retém suas armas, e os pacifistas que se definem como os aliados dos negros exortam as pessoas negras a não rearmar-se, jogando no ostracismo aqueles que o fazem.
Uma geração após o fracasso do movimento pelos direitos civis, a resistência negra deu origem ao hip-hop, que as forças da cultura dominante – como a indústria discográfica, fábricas de roupa e mídias de fins lucrativos – capitalizaram e compraram. Essas forças capitalistas culturais, que têm sido protegidas pelo desarmamento dos negros, e enriquecidas pelo envolvimento com sua escravidão, fazem agora com que as letras seja “suavizadas”. Os artistas de hip-hop vinculados aos maiores selos discográficos abandonaram a glorificação da violência antissistêmica e substituíram-na por um incremento da mais moderna violência contras as mulheres. A aparência da não violência, no caso dos negros, não armando-se ou advogando pela luta contra a policia é, na verdade, o reflexo do triunfo de uma violência prévia.
A violência massiva do Klan criou uma mudança material que é mantida por uma sistematizada e menos visível violência policial. Ao mesmo tempo, o poder cultural da elites brancas não só se manteve como aumentou frente a todos os tipos de violências econômicas e governamentais utilizados para convencer a cultura negra a fomentar a celebração de algumas das mesmas construções ideológicas que justificaram o sequestro, a escravidão e o linchamento de negros, enquanto a raiva produzida por gerações de abusos canaliza-se em ciclos de violência no interior das comunidades negras, distante de todas aquelas autoridades que a merecem. Na dinâmica do poder descrita neste breve esboço histórico, e em tantas outas histórias de opressão racial, as pessoas que insistem na não violência como método para si e para os oprimidos, se quisessem ter qualquer papel, terminariam fazendo o trabalho da estrutura de poder supremacista branca, quer queiram quer não.
Robert Williams deu uma alternativa a este legado do desarmamento. Infelizmente, sua história foi deixada de fora da narrativa dominante encontrada nos livros e textos escolares permitidos pelo Estado, e, se os proponentes da não violência têm algo a dizer sobre ele, esse algo também é excluído da narrativa interna do movimento, e da compreensão de sua própria História. No início de 1957, Robert Williams criou o núcleo do NAACP em Monroe, na Califórnia do Norte, para repelir os ataques do Ku Klux Klan e da polícia. Williams inspirou a formação de outros grupos armados de autodefesa, incluindo os Diáconos pela Defesa e Justiça (Deacons for Defense and Justice), que chegaram a possuir cinquenta núcleos em todo o sul, protegendo as comunidades negras e aqueles que agiam em favor dos direitos civis[32]. São exatamente estes episódios de empoderamentos que os pacifistas brancos ocultam e ignoram. A não violência nas mãos de pessoas brancas tem sido continuamente uma empresa colonial. As elites brancas instruem os nativos em como dirigir suas economias e governos, enquanto os dissidentes brancos instruem os nativos em como dirigir sua resistência. No dia 20 de abril de 2006, um co-fundador do Comida Não Bombas (Food not Bombs, FNB), grupo antiautoritário majoritariamente branco que proporciona comida grátis em espaços públicos em cem países (a maioria na América do Norte, Austrália e Europa), lançou um chamado de apoio para um novo núcleo do FNB na Nigéria. Em março, o co-fundador do Comida Não Bombas, Keith McHenry, e o voluntário local nigeriano Yinka Dada visitaram as pessoas que sofriam à sombra das refinarias de gasolina da Nigéria.
Enquanto as condições da região continuam sendo terríveis as bombas não serão uma boa maneira de melhorar essas condições. A crise na Nigéria contribuiu para que os preços da gasolina chegassem ao recorde dos 72 dólares por barril. É incompreensível. As pessoas se sentem frustradas, já o lucro dos seus recursos estão enriquecendo companhias estrangeiras, enquanto seu meio ambiente está contaminado e vivem na pobreza. Comida Não Bombas oferece uma solução não violenta[33].
A chamada de apoio do Comida Não Bombas condenou as ações da milícia rebelde, Movimento Pela Emancipação do Delta do Niger (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), que reclamava autonomia para os Ijaw do delta do rio Níger e o fim da destrutiva indústria do petróleo (enquanto o FNB “saúda ao anúncio do presidente nigeriano Olusegun Obasanjo de novas vagas de emprego na delta da região” em refinarias de petróleo). O MEND tinha sequestrado vários empregados estrangeiros das companhias petrolíferas (estadunidenses e europeias) para demandar o fim da repressão governamental e da exploração empresarial (os reféns foram postos em liberdade ilesos). Curiosamente, enquanto condenavam o sequestro, o Comida Não Bombas não mencionou o bombardeio dos militares nigerianos autorizado pelo presidente Obasanjo contra vários povoados Ijaw que acreditavam estar apoiando o MEND. Enquanto não existe nenhuma evidência de que a solução “não violenta” que eles dizem “oferecer” faça algo para libertar os nigerianos da exploração e da opressão que sofrem, se a não violência fosse implementada entre nigerianos isso certamente evitaria a “crise” do governo e abaixaria os preços da gasolina, o que, presumo, faria com que as coisas fossem muito mais pacíficas para a América do Norte.
Dada a repressão total do sistema supremacista branco, a evidente inutilidade do processo político e os vergonhosos esforços de uma elite dissidente em explorar e controlar a raiva dos oprimidos, não é de se surpreender ou gerar qualquer polêmica o fato de que “o homem colonizado encontre sua liberdade através da violência”, empregando as palavras de Frantz Fanon, o médico de Martiníca que escreveu uma das mais importantes obras na luta contra o colonialismo[34]. A maior parte dos brancos goza de suficiente privilégio e permissividade para que confundamos estas generosas e longas cadeias acolchoadas de veludo com a liberdade, de maneira que façamos “campanha” dentro dos confortáveis parâmetros da sociedade democrática (os limites os quais são compostos por forçadas estruturas de violência racial, econômica, sexual e governamental). Alguns de nós erramos ainda mais ao assumir que todas as pessoas enfrentam as mesmas circunstâncias, e esperamos que os não brancos exerçam privilégios dos quais na realidade não gozam. Mas além da necessidade estratégica de atacar o Estado com todos os meios que possamos dispor, não teríamos nos deparado com a diária intimidação, degradação e subordinação policial consideradas efeito empoderador de contra-atacar contundentemente? Frantz Fanon escreve, sobre a psicologia do colonialismo e a violência na procura da libertação: “Ao nível dos indivíduos, a violência (como parte da luta pela libertação) é uma força para a purificação. Liberta os nativos de seu complexo de inferioridade, e de sua passividade e desespero; torna-os destemidos e restaura seu respeito próprio”.[35]
Mas os proponentes da não violência que vêm de áreas privilegiadas, com as comodidades materiais e psicológicas garantidas e protegidas por uma ordem violenta, não crescem com complexos de inferioridade violentamente marcados no seu interior. A arrogância das afirmações dos pacifistas de que podem chegar a ditar quais formas de luta são morais e efetivas para as pessoas que vivem de forma muito diferente, e que encaram circunstâncias muito mais violentas, é espantosa. Os brancos dos subúrbios que omitem às crianças o campo de refugiados de Jenin, ou os campos de extermínio da Colômbia, incidem sobre a resistência de forma similar aos economistas do Banco Mundial que ditam quais são as “boas” práticas agrícolas para os agricultores indianos que têm como herança tradições seculares. E as relações saudáveis das pessoas privilegiadas com o sistema de violência global deveriam levar a questionamentos sérios em relação à sinceridade das pessoas privilegiadas, neste caso, os brancos, que pregam a não violência. Citando de novo Darren Parker, “A aparência, pelo menos, de um espírito não violento é muito mais simples de alcançar quando a pessoa não é receptora direta da injustiça, e pode talvez simplesmente representar uma distância psicológica. Afinal de contas, é muito mais simples ‘amar teu inimigo’ quando este não é, realmente, teu inimigo”.[36]
Sim, não brancos, pobres, e pessoas do hemisfério sul advogaram pela não violência (mesmo que os pacifistas tenham vindo dos estratos mais privilegiados de suas comunidades), entretanto, apenas através de um senso de superioridade pelo qual ativistas brancos julgam e condenam as pessoas oprimidas que não fazem o mesmo. É verdade que, apesar do privilégio, deveríamos ser capazes de confiar em nossas próprias análises, mas quando estas análises fundamentam-se numa duvidosa superioridade moral e numa conveniente e seletiva interpretação do que constitui “a violência”, as oportunidades para a autocrítica ficam muito reduzidas. Quando entendemos que as pessoas privilegiadas obtêm lucros materiais da exploração de pessoas oprimidas, e que isto significa que nos beneficiamos da violência que se emprega para mantê-los por baixo, não podemos, sinceramente, condená-los por rebelar-se violentamente contra a violência estrutural que nos privilegia. (Aqueles que já condenaram a resistência violenta de pessoas que cresceram em circunstâncias mais opressivas do que as próprias deveriam pensar sobre isso na próxima vez que comerem uma banana ou tomarem uma xícara de café.)
Espero que esteja claro que o governo utiliza das mais violentas formas de repressão contra pessoas não brancas em resistência, que contra pessoas brancas. Quando a comunidade indígena de Oglala e o Movimento Indígena Americano levantaram-se contra a reserva de Pine Ridge, nos anos setenta, para declarar uma pequena independência e organizar-se contra o endêmico assédio do “governo tribal” imposto, o Pentágono, o FBI, os xerifes federais e o Departamento de Assuntos Indígenas (Bureau of Indians Affairs) instituíram um completo programa contrainsurgente, que deu lugar a um exercício diário de violência e dúzias de mortes. De acordo com Ward Churchill e Jim Vander Wall, “o princípio de autodefesa armada transformou-se, para os dissidentes, numa necessidade de sobrevivência”[37]
Os únicos partidários da não violência aos quais escutei refutar inclusive a legitimidade de autodefesa foram sempre os brancos, e mesmo que eles tivessem seus “Oscar Romeros”, eles e suas famílias não tiveram pessoalmente que sobreviver sob ameaça constante como resultado do seu ativismo[38]. Tenho dificuldade para acreditar que sua aversão está relacionada a princípios, ao invés de privilégios e ignorância. E, além da mera autodefesa, o fato de que certos indivíduos precisem enfrentar a possibilidade de ter que contra-atacar para sobreviver ou melhorar suas vidas depende em boa parte da cor da sua pele e de sua posição dentro de múltiplas hierarquias de opressão, nacionais e globais. São estas experiências que o pensamento da não violência ignora, ao considerar violência como um tema meramente ético ou uma livre escolha.
A alternativa culturalmente sensível dentro do pacifismo é aquela na qual os ativistas permitem, ou até mesmo apoiam, a resistência militante no hemisfério Sul e, em alguns casos, também nos guetos das cidades da Europa e da América do Norte, e apenas advogam pela não violência com pessoas e populações que possuem uma experiência de privilégio similar. Esta formulação apresenta uma nova forma de racismo, sugerindo que o lutar e morrer seja carregado por pessoas não brancas nos Estados mais claramente opressivos do hemisfério sul, enquanto os cidadãos privilegiados dos centros imperiais podem conter-se mediante formas de resistência mais apropriadas ao contexto, como os bloqueios sentados e as reuniões de protesto.
Uma análise antirracista, por outro lado, exige que as pessoas brancas reconheçam que a violência exercida contra todas aquelas pessoas não brancas que devem defender a si próprias tem origem no “Primeiro Mundo” branco. Assim, a resistência apropriada a um regime que leva adiante guerras contra povos colonizados por todo o globo é trazer a guerra para casa; construir uma cultura antiautoritária, cooperativa e antirracista entre as pessoas brancas; atacar às instituições do Imperialismo; e estender o apoio às pessoas oprimidas em resistência sem debilitar a soberania da sua luta. De qualquer modo, pacifistas não absolutos que assumiram certo relativismo cultural são menos prováveis a apoiar a revolução armada quando a luta fica perto de casa. Os palestinos, por exemplo, podem engajar-se na luta militante porque vivem sob um regime violento, mas se os brutalizados residentes do gueto formassem unidades de guerrilha, isto seria considerado “inapropriado” ou “irresponsável”. Esta é a tendência de “não no quintal de minha casa”, alimentada pelo reconhecimento de que uma revolução lá seria algo emocionante, uma revolução aqui privaria os ativistas pacifistas de suas cômodas posições de privilégio. Também está presente o latente medo da revolta racial, o qual é amenizado só quando ficam subordinados a uma ética não violenta. Pessoas negras marchando é fotogênico. Pessoas negras armadas evocam o informe de crime violento no noticiário da noite. Índios americanos falando numa conferência de imprensa são louváveis. Índios americanos prontos e dispostos, capazes de tomar de volta suas terras é um pouco perturbador. Assim, o apoio de pessoas brancas aos revolucionários não brancos limita-se a mártires inertes – os mortos e os aprisionados.
A contradição no pacifismo ostensivamente revolucionário é a de que a revolução nunca é segura, mas para a grande maioria de seus praticantes e defensores, o pacifismo é sobre estar em segurança, não se ferir, não alienar ninguém, não dar a ninguém pílulas amargas para engolir. Ao fazer a conexão entre pacifismo e autoproteção de ativistas privilegiados, Ward Churchill cita uma ativista pacifista que, durante a era do Vietnã, denunciou as táticas revolucionárias do Partido dos Panteras Negras e do Weather Underground, porque aquelas táticas eram “algo realmente perigoso para todos nós […] trouxeram um risco verdadeiramente real de provocar o mesmo tipo de repressão violenta [como se vê no assassinato policial de Fred Hampton] sobre todos nós”[39]. Ou, para citar David Gilbert, que está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por suas ações como membro da Weather Underground e apoiador do Exército de Libertação Negra: “Os brancos tinham algo a proteger. Foi cômodo estar acima de um movimento por mudança, rodeado de legitimação moral, enquanto pessoas negras sofriam as maiores baixas pela luta”[40].
O desejo pacifista por segurança continua presente hoje. No ano 2003, um ativista não violento tranquilizou um jornal de Seattle sobre o caráter dos protestos planejados. “Não estou falando que não deveríamos apoiar a desobediência civil”, disse Woldt, e acrescentou: “isto faz parte do movimento pela paz no qual pessoas da Igreja engajaram-se; nós não estamos aqui para causar danos à propriedade ou nada que gere consequências negativas para nós”[41].
E numa lista de e-mails para uma campanha ambiental radical em 2004, após solicitar uma discussão aberta sobre as táticas, um estudante de direito e ativista defendeu o fim das referências às táticas não pacifistas, e pediu uma adesão estrita à não violência, no sentido que grupos não pacifistas “sejam aniquilados”[42]. Outra ativista (e casualmente uma outra estudante de direito na lista) concordou com ele, e acrescentou: “Acho que ter uma discussão sobre táticas violentas nesta lista é brincar com fogo e está colocando todos em risco”. Também se preocupava porque “dois de nós estarão cara a cara com a camera stellata do comitê de ética do Bar Association, um dia, num futuro próximo”[43].
Naturalmente, existe uma grande necessidade de cautela no ativismo militante. Quando se discute táticas, especialmente via e-mail, enfrentamos obstáculos no apoio da construção de ações, e é mais provável que sejamos constrangidos ou pressionados, inclusive se a única coisa que fizermos seja discuti-las. De qualquer jeito, neste exemplo, os dois estudantes não falavam que os grupos deveriam discutir unicamente táticas legais ou táticas hipotéticas, mas que os grupos deveriam discutir somente táticas não violentas. Mesmo sob o disfarce de uma discussão dirigida a auxiliar os grupos na criação de bagagem ideológica em comum, em realidade, foi uma forma manipuladora de empregar as ameaças de repressão governamental para evitar que os grupos sequer tomassem em consideração alguma outra filosofia que não fosse a não violenta.
O pacifismo tem impedido alçamentos revolucionários no seu próprio terreno, aos quais tem que acrescentar uma longa história de traições perpetradas por pacifistas brancos, que condenaram e abandonaram numerosos grupos revolucionários devido ao seu emprego da violência.
Longe de “colocarem a si próprios em risco” para proteger os membros dos movimentos de libertação, seja qual for sua cor, os pacifistas ignoraram conscientemente o tratamento brutal, o encarceramento e o assassinato infligido aos Panteras Negras, aos ativistas do Movimento Indígena Americano e a outros. Pior ainda, apoiaram a repressão do Estado e declararam que os revolucionários a mereciam por participarem na resistência militante. (Hoje em dia, afirmam que os últimos fracassos liberacionistas, – com os quais os pacifistas contribuíram -, é uma evidência da ineficiência das suas táticas.) O reverendo pacifista, David Dellinger, admite que “um dos fatores que induz os revolucionários sérios e os habitantes dos guetos a concluir que a não violência é incapaz de se converter num método adequado para suas necessidades é precisamente a tendência dos pacifistas em alinhar-se com o status quo nos momentos de conflito”[44]. David Gilbert conclui que “o fracasso do desenvolvimento dos laços de solidariedade com os negros e com outras lutas de libertação nos Estados Unidos (os nativos americanos, os chicanos ou os porto-riquenhos), é um dos muitos fatores que provocou que nosso movimento fosse excluído em meados dos anos setenta”[45]. Mumia abu-jamal pergunta-se: estiveram os radicais brancos “realmente preparados para embarcar numa revolução que não priorizava os brancos?”[46].
Em primeira instância, a não violência parece uma posição ética clara que tem pouco a ver com a raça. Esta visão está baseada na afirmação simplista de que a não violência é, em primeiro lugar, uma opção que escolhemos. Mas, que pessoas neste mundo têm o privilégio de escolher o uso da violência? E quem vive em circunstâncias violentas, a desejará ou não? Geralmente, a não violência é uma prática que resulta do privilégio, que surge das experiências das pessoas brancas, e nem sempre faz sentido para as pessoas que não desfrutam desse privilégio branco ou para as pessoas brancas que tratam de destruir esse sistema de privilégios e opressões.
Muitos não brancos empregaram também a não violência, que em certas circunstâncias foi a maneira mais efetiva de se manter a salvo da vertente mais violenta da discriminação, enquanto perseguiam reformas limitadas que, em última instância, não mudam a distribuição do poder na sociedade. O uso da não violência pelos não brancos foi um sintoma, geralmente, de um compromisso com a estrutura de poder branca. Reconhecendo que a estrutura de poder branca prefere que os oprimidos sejam não violentos, algumas pessoas escolheram usar táticas não violentas para se protegerem da repressão, do massacre e inclusive do genocídio. Os movimentos das pessoas não brancas que perseguem objetivos revolucionários de modo pacífico tiveram que usar uma forma de não violência que é menos absoluta nos seus termos, e mais polêmica e perigosa que o tipo de violência predominante nos Estados Unidos da atualidade. E, mesmo assim, a prática da não violência é amiúde subvencionada pelos brancos que estão no poder, é usada pelos dissidentes brancos ou os oficiais governamentais para manipular o movimento a favor de sua comodidade, e é habitualmente abandonada por grandes segmentos dos movimentos sociais em favor de táticas mais militantes. O uso da não violência para preservar o privilégio branco, no movimento ou na sociedade em conjunto, é ainda comum hoje em dia.
Resumindo, afirmo que a não violência está claramente implicada em dinâmicas de raça e poder. A raça é essencial para a nossa experiência de opressão e de resistência. Um importante componente do racismo, desde há muito, foi a afirmação de que os europeus, ou os colonos europeus em outros continentes, sabiam o que era melhor para as pessoas que consideravam “menos civilizadas”. As pessoas que lutam contra o racismo devem acabar com essa tradição e reconhecer o imperativo de que cada comunidade é capaz de determinar sua própria forma de resistência, baseando-se nas suas próprias experiências. Este exercício de humildade lança toda prioridade ao pacifismo no esquecimento. Além disso, para aqueles de nós que são brancos, torna-se um dever construir nossa própria cultura militante de resistência, ao invés de assumirmos o papel de professores, que temos historicamente empenhado. Temos muito a aprender com as lutas das pessoas não brancas. Os brancos radicais devem educar o resto das pessoas brancas para que compreendam porque a rebelião violenta dos não brancos é justificada e porque deveríamos, também nós, empregar uma diversidade de táticas para nos libertarmos, lutando em solidariedade com todos aqueles que tenham rejeitado seu lugar como lacaio ou escravo das elites, e acabar assim com os sistemas de opressão e exploração globais.
A Não Violência é estadista
Podemos dizer, resumindo, que a não violência garante o monopólio da violência ao Estado. Os Estados (as burocracias centralizadas, que protegem o capitalismo, preservam a supremacia branca, a ordem patriarcal, e implementam a expansão capitalista) sobrevivem ao assumir o papel de provedor único e legítimo da força violenta em seus territórios. Qualquer luta contra a repressão precisa de um conflito com o Estado. Os pacifistas fazem o trabalho do Estado ao pacificar a oposição[1]. Os Estados, por sua parte, desanimam a militância contida dentro da oposição e incitam a passividade.
Alguns pacifistas negam esta mútua relação de dependência ao afirmar que o governo adoraria que eles abandonassem sua disciplina não violenta e se entregassem à violência, ou que o governo, inclusive, encoraja a violência entre dissidentes e que muitos ativistas que incitam a militância são, de fato, provocadores governamentais[2]. Assim, argumentam que são os ativistas militantes que verdadeiramente atuam como fantoches do Estado. Apesar de que, em alguns casos, o governo dos Estados Unidos usou infiltrados para incitar os grupos de resistência a acumular armas ou planejar ações violentas (por exemplo, nos casos do atentado de Molly Maguires e Jonathan Jackson, durante a greve do judiciário[3]), deve-se estabelecer uma distinção crítica. O governo encoraja a violência quando tem certeza de que tal poderá ser contida e não escapará de suas mãos. No fim, induzir um grupo de militantes de resistência a atuar prematuramente ou a cair numa armadilha elimina o potencial para a violência de tal grupo, ao garantir facilmente uma condenação à prisão perpétua, ou permitir às autoridades esquivar os processos judiciais e acabar mais rapidamente com os radicais. De maneira geral, e em quase todos os outros casos, as autoridades pacificam a população e dissuadem rebeliões violentas.
Existe uma razão clara para isso. Contrariamente às insensatas reivindicações dos pacifistas de que, de alguma maneira, empoderam a si mesmos ao excluir a maior parte de suas opções táticas, governos de toda parte reconhecem que o ativismo revolucionário não constrangido supõe uma das maiores ameaças de mudar a distribuição de poder na sociedade. Apesar do Estado sempre ter se reservado o direito de reprimir quem deseja, os governos modernos “democráticos” tratam os movimentos sociais não violentos com objetivos revolucionários como ameaças potenciais, mais do que como ameaças reais. Espiam estes movimentos para estarem atentos a seu desenvolvimento, e usam a estratégia do “pau e a cenoura”[4], para conduzir esta massa de movimentos a utilizar canais de luta totalmente pacíficos, legais e ineficientes. Os grupos não violentos poderiam estar sujeitos a receber uma surra, mas eles não são alvos a serem eliminados (exceto por governos retrógrados ou enfrentando um período de emergência que ameace sua estabilidade).
Por outro lado, o Estado trata os grupos militantes (aqueles mesmos grupos que os pacifistas consideram ineficientes) como ameaças reais e tenta neutralizá-los com uma contrainsurgência altamente desenvolvida e operações de guerra interna. Centenas de sindicalistas, anarquistas, comunistas e agricultores militantes foram assassinados durante as lutas anticapitalistas do final do século XIX e do início do século XX. Durante as últimas gerações de lutas de libertação, paramilitares apoiados pelo FBI assassinaram sessenta ativistas e partidários do Movimento Indígena Americano (AIM) na reserva Pine Ridge, e o FBI, a polícia local e agentes pagos assassinaram dezenas de membros do Partido Panteras Negras, da República Nova África e do Exército de Libertação Negra, assim como de outros grupos[5].
Vastos recursos foram mobilizados para se infiltrar e destruir organizações revolucionárias militantes durante a era COINTELPRO[6]. Todo indício de organização militante por parte de indígenas, porto-riquenhos e outros incluídos no âmbito territorial dos Estados Unidos incorrem em repressões violentas. Ainda antes do 11 de setembro, o FBI nomeou os sabotadores e incendiários membros do Frente de Libertação da Terra (Earth Liberation Front, ELF) e do Frente de Libertação Animal (Animal Liberation Front, ALF) como as maiores ameaças terroristas internas, apesar destes dois terem matado exatamente zero pessoas. Até mesmo após os atentados do World Trade Center e do Pentágono, o ELF e o ALF continuaram uma prioridade para a repressão estatal, como se viu nas detenções de mais de uma dúzia de supostos membros da ELF/ALF; no acordo de muitos destes prisioneiros de se converter em bodes expiatórios depois que um deles morreu num suicídio suspeito e que todos eles foram ameaçados com sentenças de prisão perpétua; e no encarceramento de vários membros de um grupo de direitos animais por causa de um agressivo boicote a uma empresa de vivissecção, que o governo qualificou como uma “iniciativa de terrorismo animal”[7]! Na mesma época em que a esquerda ficou impressionada porque a polícia e os militares estiveram espiando grupos pacifistas, muito menos atenção se deu à repressão contínua contra o movimento de liberação porto-riquenho, incluindo o assassinato do líder Machetero Filiberto Ojeda Rios, pelo FBI[8].
Mas não precisamos elaborar deduções das opiniões e prioridades do aparato de segurança estatal a partir das ações de seus agentes. Podemos, simplesmente, nos guiar pelas suas palavras. Os documentos COINTELPRO do FBI foram revelados ao público somente porque, em 1971, alguns ativistas entraram num escritório do FBI na Pensilvânia e roubaram estes documentos, demonstrando claramente que um dos maiores objetivos da organização era manter os revolucionários em potencial na passividade. Numa lista de cinco objetivos em relação a grupos nacionalistas e de libertação dos negros, nos anos 60, o FBI incluiu a seguinte reflexão:
Impedir a violência por parte dos grupos nacionalistas negros. Isto é de suma importância, e é, claro, uma das metas da nossa atividade de pesquisa; deveria ser também uma meta do Programa de Contrainteligência [na gíria original do governo, este termo se refere a uma operação específica, das quais haviam centenas, e não ao modelo global de programa]. Através da contraespionagem deve ser possível apontar corretamente quem são os agitadores potenciais e neutralizá-los antes que exerçam sua violência potencial[9].
Ao identificar “neutralizações” bem sucedidas em outros documentos, o FBI usa este termo para se referir a ativistas que foram assassinados, presos, inculpados, desacreditados ou pressionados até que deixaram de ser politicamente ativos. O memorando também aponta para a importância de prever o risco da aparição do “messias” negro. Depois de observar orgulhosamente que Malcom X poderia ter encarnado esse papel, mas que em vez disso foi o mártir do movimento, o memorando nomeia três líderes negros que poderiam encarnar este messias em potencial. Um dos três “poderia ter sido um verdadeiro candidato para esta posição se tivesse abandonado sua suposta ‘obediência’ às ‘doutrinas brancas liberais’(a não violência)” [os parênteses aparecem no original]. O relatório também explica a necessidade de desacreditar a militância negra aos olhos da “comunidade Negra responsável” e da “comunidade branca”. Isto mostra como o Estado pode contar com o reflexo pacifista de condenar a violência, e como os pacifistas fazem, efetivamente, o trabalho sujo do Estado, porque não utilizam sua influência cultural para tornar “respeitável” a resistência militante contra a tirania. No lugar disso, os pacifistas alegam que a militância aliena as pessoas, e não fazem nada para tentar contrapor este fenômeno.
Outro memorando do FBI, desta vez dedicado ao ativista do Movimento Indígena Americano, John Trudell, mostra que a política policial do Estado também entendeu que os pacifistas são uma espécie de dissidência inerte que não representa ainda uma ameaça à ordem estabelecida: “Trudell tem a capacidade de se encontrar com um grupo pacifista e, num período curto de tempo, conseguir que exclamem ‘adiante!’. Portanto, é um agitador extremamente efetivo”[10].
O governo demonstra de forma consistente o fato pouco surpreendente de que prefere enfrentar uma oposição pacífica. Recentemente, um memorando do FBI enviado às autoridades locais competentes no país, que posteriormente vazou na imprensa, pôs em manifesto quem o governo identifica como extremistas e sobre quem prioriza sua neutralização:
No dia 25 de outubro, estão programadas marchas massivas e comícios contra a ocupação do Iraque em Washington DC e em São Francisco, Califórnia […] Existe a possibilidade de que elementos da comunidade ativista tentem empreender ações violentas, destrutivas ou prejudiciais […]
As táticas tradicionais das manifestações, nas quais os manifestantes concentram sua atenção, são marchas, cartazes e formas de resistência “passiva” tais como sentadas [a ênfase é minha]. Os elementos extremistas podem empreender táticas mais agressivas que incluiriam vandalismo, assédio físico contra delegados governamentais, impedimento da passagem, formação de cadeias e escudos humanos, artefatos explosivos lançados contra unidades policiais montadas e o uso de armas (por exemplo, projéteis e bombas caseiras)[11].
O grosso do memorando se centra nesses “elementos extremistas”, claramente identificados como ativistas que aplicam uma diversidade de táticas, em oposição aos ativistas pacifistas, que não são identificados como uma ameaça importante. De acordo com o memorando, os extremistas mostram os seguintes rasgos que os identificam:
Os extremistas podem estar preparados para se defender das forças oficiais da lei no transcurso da manifestação. As máscaras (máscaras de gás, óculos submarinhos, panos, máscaras com filtro e óculos de sol) podem servir para minimizar os efeitos do gás lacrimogêneo e do gás de pimenta, e também para ocultar identidades. Os extremistas também podem usar escudos (tampas de contêiner, lâminas de plexiglás, rodas de caminhão etc.) e equipamentos de proteção corporal (várias camadas de roupas, toucas e capacetes, acessórios esportivos, colete salva-vidas etc.) para se proteger durante a manifestação. Os ativistas também podem usar técnicas de intimidação como filmar e rodear os policiais para impedir prisões de outros manifestantes.
Depois das manifestações, os ativistas normalmente são relutantes em cooperar com as forças oficiais da lei. São raras as vezes que carregam algum tipo de identificação e geralmente se negam a facilitar qualquer informação sobre si mesmos e o resto dos manifestantes […]
As forças oficiais da lei deveriam estar atentas aos possíveis indicadores de protestos ativistas e transmitir à Força Tarefa Conjunta de Terrorismo [Joint Terrorism Task Force] do FBI mais próxima qualquer ação que seja potencialmente ilegal[12].
Não é triste que o indicador mais certeiro de que uma pessoa é “extremista” seja sua boa vontade de se defender dos ataques da polícia? E qual é a responsabilidade que têm os pacifistas criando esta situação? Em qualquer caso, ao negar e, inclusive, denunciar ativistas que usam uma diversidade de táticas, os pacifistas tornam estes extremistas mais vulneráveis à repressão que os agentes policiais claramente querem usar contra eles.
E como se não fosse suficiente para desarticular a militância e para condicionar os dissidentes a praticar a não violência através da violenta repressão dos indisciplinados, o governo também injeta pacifismo nos movimentos rebeldes de maneira mais direta. Dois anos depois de invadir o Iraque, o exército dos Estados Unidos foi pego interferindo uma vez mais nos meios de comunicação iraquianos (a interferência prévia incluiu o bombardeio hostil dos meios de comunicação não alinhados, a retransmissão de histórias falsas e a criação de uma linguagem árabe de organização da mídia completamente nova, como a al-Hurriyah, que foi conduzida pelo Departamento de Defesa como parte de suas operações de manipulação psicológica). Desta vez, o Pentágono pagou para introduzir artigos nos jornais iraquianos apelando para a unidade (contra a insurgência) e a não violência[13]. Os artigos foram escritos como se os autores fossem iraquianos, numa tentativa de frear a resistência militante e manipular os iraquianos para aderir a formas diplomáticas de oposição que poderiam ser mais facilmente cooptadas e controladas.
O uso seletivo do pacifismo no Iraque por parte do Pentágono pode servir como uma parábola das amplas origens da não violência. Ou seja, esta provém do Estado. Toda população conquistada é educada na não violência através de suas relações com uma estrutura de poder que ostenta um monopólio do direito ao uso da violência. É a aceitação, através do desempoderamento, da crença estatal de que as massas devem ser despojadas de suas habilidades naturais para a ação direta – incluindo a propensão à autodefesa e ao uso da força -, ou, se não, irão descender ao caos, numa espiral de violência, oprimindo-se e atacando-se uns aos outros. Esta é a segurança do governo, e a liberdade escravizada. Somente uma pessoa treinada para aceitar ser regulada por uma estrutura violenta de poder pode realmente questionar os direitos de alguém e sua necessidade de se defender de uma maneira contundente da opressão. O pacifismo também é uma forma de impotência aprendida, e, através dele, aqueles que dissentem sustentam a bondade do Estado encarnando a ideia de que não devem usurpar poderes pertencentes exclusivamente a ele (tal como a autodefesa). Desta forma, um pacifista se comporta como um cão domesticado a golpes pelo seu amo: ao invés de morder quem o ataca, esconde o rabo demonstrando-se desarmado, e aguenta as batidas com a esperança de que parem.
Mais diretamente, Franz Fanon descreveu as origens e as funções da não violência no processo de descolonização ao escrever:
A burguesia colonialista introduz esta nova ideia que é, falando com propriedade, uma criação da situação colonial: a não violência. Na sua forma mais simples, a não violência transmite à elite econômica e intelectual do país colonizado que a burguesia tem seus mesmos interesses […]
A não violência é uma tentativa de resolver o problema colonial num tabuleiro, antes que alguma ação lamentável seja realizada […] antes que seja derramado sangue. Mas, se as massas, sem esperar que coloquem cadeiras em volta da mesa de acordos, escutam suas próprias vozes e se deixam levar pelo ultraje, colocando fogo em prédios, a elite e os partidos nacionalistas burgueses se verão em apuros e exclamarão: “isto é muito sério! Não sabemos como acabará, devemos encontrar uma solução, algum tipo de compromisso”[14].
Este alívio produzido pela violência estatal, combinado com o impacto das “atrocidades” da rebelião mais contundente, leva os pacifistas a confiar sua proteção à violência do Estado. Por exemplo, os organizadores pacifistas eximem a polícia dos “códigos de não violência” que são habituais nos protestos hoje em dia; não tentam desarmar a polícia que protege os manifestantes pacíficos dos contramanifestantes bravos e pró-guerra. Na prática, a moral pacifista manifesta que é mais aceitável para os radicais confiar na violência do governo para se proteger do que defender a si mesmos.
É bastante óbvio o porquê de as autoridades quererem que os radicais sigam vulneráveis. Mas por que os pacifistas querem isso? Não é que os partidários da não violência não tenham tido a oportunidade de aprender o que acontece com os radicais quando ficam indefesos. Podemos tomar o exemplo do protesto de 1979 contra a supremacia branca em Greensboro, na Carolina do Norte. Um grupo diverso de trabalhadores negros e brancos, organizadores sindicais e comunistas, aceitando a premissa de que ir desarmados e permitir o monopólio da violência por parte das forças policiais garantiria melhor a paz, estiveram de acordo em não levar armas para sua proteção. O resultado foi um acontecimento conhecido como o Massacre de Greensboro. A polícia e o FBI colaboraram com o Ku Klux Klan e o Partido Nazi local para atacar os manifestantes, que confiaram sua proteção à polícia. Enquanto a polícia estava convenientemente ausente, os supremacistas brancos atacaram a marcha e atiraram em treze pessoas, matando cinco delas. Quando a polícia voltou à cena, bateu e prendeu vários manifestantes e deixou que os racistas escapassem[15].
No caos de qualquer situação revolucionária, os paramilitares de direita, como o Ku Klux Klan, estão mais que contentes ao eliminar radicais. A Legião Americana declarou recentemente a “guerra” ao movimento antiguerra[16]. Aquela história de linchamento de anarquistas sindicais sugere que meios usam quando sua amada bandeira está ameaçada[17].
O debate entre o pacifismo e o uso de uma diversidade de táticas (incluída a autodefesa e o contra-ataque) pode ser resolvido se, em algum momento, o movimento antiautoritário atual chegar ao ponto de representar uma ameaça, quando os agentes policiais entregarem sua lista negra e os paramilitares de direita lincharem a todos “traidores” nos quais eles conseguissem botar suas mãos. Esta situação já se deu no passado, com maior ressonância nos anos 1920, e, em menor grau, em resposta ao movimento pelos direitos civis. Esperemos apenas que, se nosso movimento chegar a representar uma ameaça, não sejamos constrangidos por uma ideologia que nos torna tão perigosamente vulneráveis.
Apesar desta história de repressão, os partidários da não violência frequentemente dependem da violência do Estado, não apenas para protegê-los, mas também para conseguir seus objetivos. Se esta dependência não conduz sempre ao desastre absoluto, como o Massacre de Greensboro, certamente não será graças à posição não violenta. Os pacifistas sustentam que se abster da violência ajudou a não segregar escolas e universidades por todo o Sul, mas, no final, foram as unidades armadas da Guarda Nacional que permitiram que os primeiros estudantes negros entrassem na escola, e os protegeram das tentativas de expulsão pela força e de coisas piores. Se pacifistas não conseguem defender seus próprios ganhos, o que farão quando não tiverem a violência organizada da Guarda Nacional? (Incidentalmente, pacifistas lembrariam da dessegregação como um fracasso para a não violência se famílias negras precisassem chamar os Diáconos para a Defesa (Deacons for Defense), ao invés da Guarda Nacional, para proteger suas crianças ao entrarem nas escolas brancas?) Dessegregação institucional foi considerada favorável à estrutura de poder supremacista branca porque difundiu uma crise, aumentou as possibilidades para cooptar lideranças negras, e simplificou a economia, tudo sem negar a hierarquia racial tão fundamental para a sociedade estadunidense. Assim, a Guarda Nacional foi chamada para ajudar a dessegregar as universidades. Não é tão difícil imaginar um conjunto de objetivos revolucionários que a Guarda Nacional nunca seria chamada para proteger.
Enquanto pacifistas que protestam contra o militarismo estadunidense nunca terão a polícia ou a Guarda Nacional para simplesmente cumprir a lei – desarmando armas proibidas pelos tratados internacionais ou fechando escolas militares que treinam soldados para técnicas de torturas – o governo ainda se beneficia ao permitir essas demonstrações fúteis. Permitir os protestos não violentos melhora a imagem do Estado. Gostem ou não, a dissidência não violenta cumpre o papel de uma oposição leal numa representação que dramatiza a dissenção e cria a ilusão de que o governo democrático não é elitista ou autoritário. Os pacifistas mostram o Estado como benévolo porque lhe dão a oportunidade de tolerar uma crítica que na realidade não ameaça seu funcionamento continuado. Um protesto colorido, consciente e passivo frente a uma base militar só melhora a imagem do RP do exército; é que só um exército justo e humanitário toleraria que fossem feitos protestos na frente de sua porta principal! Um protesto desse tipo é como colocar uma flor no cano de uma pistola. Não impede que a pistola possa disparar.
O que a maioria dos pacifistas parece não compreender é que a liberdade de expressão não nos empodera, e que não é uma liberdade igualitária. A liberdade de expressão é uma privilégio[18] que pode ser (e de fato é) bandeira do governo quando este serve aos seus interesses. O Estado tem o incontestável poder de quitar nossos “direitos”, e a História nos mostra o exercício regular deste poder[19]. Inclusive no nosso cotidiano, podemos tentar falar o que queremos para os nossos chefes, juízes ou oficiais da polícia, e, a menos que sejamos escravos complacentes, uma língua livre e honesta nos conduzirá a funestas consequências. Em situações de emergência social, as limitações da “liberdade de expressão” tornam-se ainda mais pronunciadas. Consideremos, por exemplo, os ativistas encarcerados por pronunciar-se contra as quintas na Primeira Guerra Mundial e as pessoas que foram presas em 2004 por protestar durante os eventos nos quais Bush interviria. A liberdade de expressão só é livre quando não constitui uma ameaça e não tem a possibilidade de desafiar o sistema. Onde gozei de uma maior liberdade de expressão foi no Security Housing Unit (confinamento em solitária de máxima segurança), na prissão federal. Podia gritar tudo o que quisesse, inclusive insultar os guardas, e, a não ser que achasse um jeito muito criativo de provocá-los intencionalmente, deixavam-me tranquilo. Não importava: os muros eram de pedra sólida e minhas palavras só ar quente.
A cooperação com a dissidência pacifista humaniza os políticos responsáveis por ações monstruosas. No protesto massivo contra a Convenção Nacional Republicana (RNC), na cidade de Nova Iorque em 2004, o prefeito nova-iorquino, Bloomberg, distribuiu broches especiais para os ativistas não violentos que haviam proclamado que seriam pacíficos[20]. Bloomerg obteve grande popularidade por mostrar-se “tão” indulgente e estar na moda, inclusive quando sua administração reprimiu contundentemente a dissidência durante a semana dos protestos. Os pacifistas obtiveram um benefício acrescentado: qualquer um que levasse o broche receberia descontos em dezenas de shows da Broadway, hotéis, museus e restaurantes (enfatizando como o desfile passivo da não violência é transformado em um estímulo para a economia e no bastião do status quo). Como o prefeito Bloomberg assinalou: “Não é divertido protestar com o estômago vazio”.
Os protestos anti-RNC em Nova York foram pouco mais que isso: divertimento. Divertimento para os universitários, os representantes democráticos e os ativistas do Partido Verde que passeavam com ingeniosos cartazes progressistas e mostravam-se “compreensivos” e da mesma opinião que o prefeito. Despendeu-se uma enorme quantidade de energia com semanas de antecipação (de parte da esquerda institucional e da polícia) para alienar e excluir do protesto o maior número possível de ativistas militantes. Alguém com muitos recursos distribuiu milhares de panfletos, na semana anterior à convenção, os quais reproduziam a absurda sentença de que a violência (ou seja, um distúrbio) só contribuiria para melhorar a imagem de Bush (quando, na realidade, embora um distúrbio não ajudasse realmente os Democratas, teria maculado a imagem de Bush de “líder carismático”). O panfleto também advertia que qualquer pessoa que advogasse pelas táticas de confrontação seria considerada um agente da polícia. A marcha terminou e as pessoas dispersaram-se até o lugar mais isolado e menos conflituoso possível, numa cidade cheia de prédios do Estado e do Capital: o Grand Lawn do Central Park (apropriadamente, outros manifestantes dirigiram-se em massa ao “Campo de ovelhas”[21]). Dançaram e celebraram a noite, repetindo agradáveis mantras do estilo “somos lindos”.
Entrada a semana, a Marcha das Pessoas Pobres foi atacada repetidamente pela polícia, perpetrando detenções planificadas dos ativistas que levavam máscaras ou aqueles que se negavam a serem registrados. Os participantes da marcha estiveram de acordo em não empregar a violência porque a marcha incluía muitas pessoas de diferente origem, como imigrantes e não brancos, os quais os organizadores, de forma ostensível e consciente, acreditavam ser mais vulneráveis à detenção. Mas quando os ativistas – pacificamente – cercaram os policiais em uma tentativa de desencorajar as prisões, foram obrigados a ignorar as prisões e a continuarem o movimento, com “forças de paz” e policiais da marcha gritando mensagens idênticas à multidão (“Movam-se!” ”Continuem a marcha indicada!”). Obviamente, todas as tentativas de reconciliação e diminuição da tensão fracassaram, a polícia foi em todo momento tão violenta quanto quis.
No dia seguinte, Jamal Holiday, um negro de Nova Iorque oriundo de regiões desfavorecidas, foi preso por se defender da “agressão” de um detetive civil do Departamento da Polícia de Nova Iorque. Foi um dos tantos feridos entre a multidão da Marcha das Pessoas Pobres. Isso aconteceu no final do encontro, quando muitos dos participantes, inclusive aqueles considerados supostamente como mais “vulneráveis”, estavam descontentes com a passividade dos líderes da marcha ante a brutalidade policial. Numa hora, uma multidão de participantes que tinha sido atacada pela polícia começou a gritar com um ativista, que gritava para eles que se afastassem da polícia (não tinham lugar para ir), acusando eles de a “provocarem”. A resposta à prisão de Holiday mostra a hipocrisia ante a violência do Estado, que privilegia a passividade acima, inclusive, do direito das pessoas de se defenderem. Os mesmos segmentos pacifistas do movimento que protestaram energicamente contra os participantes pacíficos detidos em massa no dia 31 de agosto (um dia reservado para os protestos de desobediência civil) permaneceram em silêncio e não apoiaram Holiday enquanto ele suportava a atroz e dilatada violência do sistema penal. Aparentemente, para os pacifistas, proteger um suposto ativista violento de uma violência ainda maior significaria a desfiguração dos seus princípios, erguidos, precisamente, contra a violência.
Os ativistas não violentos vão além de aprovar a violência do Estado com seu silêncio: frequentemente tomam a palavra para justificá-la. Os ativistas pacifistas não perdem a oportunidade de declarar a proibição do uso da “violência” nos seus protestos, porque a violência poderia “justificar” a repressão policial, que se percebe como inevitável, neutra e irrepreensível. Os protestos antiglobalização de 1999, em Seattle, são um típico exemplo. Mesmo que a violência policial (neste caso, o uso de táticas de tortura contra os manifestantes pacíficos que bloqueavam a entrada e a saída do lugar do encontro) tenha precedido a “violenta” destruição da propriedade por parte do Black Bloc, todo o mundo, desde os pacifistas até os meios de comunicação, culparam ao Black Bloc pela carga policial. Talvez, o maior erro consistiu em que a organização anarquista descentralizada e não hierárquica roubou o protagonismo das ONGs de grande orçamento, que precisavam revestir-se dessa aura de autoridade para continuar recebendo doações. A afirmação oficial foi que a violência de alguns manifestantes demonizava o movimento inteiro, mesmo que, inclusive, o próprio presidente, Bill Clinton, tenha declarado de Seattle que uma minoria marginal violenta tinha provocado o caos.[22]. De fato, a violência de Seattle fascinou e atraiu mais pessoas ao movimento do que faria a tranquilidade de qualquer uma das mobilizações massivas posteriores a essa data. Os meios de comunicação não explicaram (e nunca o farão) os motivos dos ativistas, senão a violência, a manifestação visível de paixão e fúria, do comprometimento militante em um, por outro lado, mundo absurdo, que motivou milhares a fazer esta procura por si mesmos. Este é o porquê que se conhece a atemporal Seattle como o “início” ou o “nascimento” do movimento antiglobalização.
De uma maneira parecida, um artigo de apoio à não violência, publicado no The Nation, queixou-se de que a violência em Seattle e Gênova (onde um policial italiano disparou e assassinou o manifestante Carlo Giuliani) “criou uma imagem negativa nos meios de comunicação e deu a desculpa para, inclusive, endurecer a repressão”[23]. Vou parar por aqui por um momento para assinalar que o Estado não é um ente estático. Se quer reprimir um movimento ou uma organização, não espera ter uma justificativa; a inventa. O Movimento Indígena Americano (AIM) não foi uma organização violenta – a maioria de suas práticas era pacífica -, mas praticaram a autodefesa armada e a ocupação pela força de prédios governamentais, frequentemente com excelentes resultados. Para “justificar” a repressão do AIM, o FBI inventou o “Dog Soldier Teletypes”, mensagens que se faziam passar por comunicados do AIM, nos quais se discutia a suposta criação de brigadas de terror para assassinar turistas, fazendeiros e oficiais governamentais[24]. Estes teletipos formaram parte de uma campanha instrumental geral de desinformação conduzida pelo FBI para se proteger (especialmente no caso do governo) e poder prender e assassinar vários dos ativistas e simpatizantes do AIM. O FBI diz, a respeito destas campanhas: “Não importa se existem ou não fatores para sustentar as acusações […] a difusão [através da mídia] pode ser realizada sem fatos que a ampare”[25]. Se, aos olhos do governo, não importa se uma organização considerada ameaçadora para o status quo cometeu ou não uma ação violenta, por que os partidários da não violência continuam insistindo em que a verdade lhes farão livres?
O artigo anteriormente mencionado do Nation pede a aderência estrita do movimento inteiro à não violência, criticando organizações pacíficas que rejeitam abertamente condenar os ativistas que usam uma diversidade de táticas. O autor lamenta que “é impossível controlar todas as ações de todos aqueles que participam numa manifestação, é claro, mas os esforços mais vigorosos para assegurar [sic] à não violência e rever os comportamentos destrutivos são possíveis e necessários. Que 95 por cento dos participantes estejam comprometidos com a não violência não é suficiente”. Sem dúvida, um comprometimento “mais vigoroso” para a não violência significa que os líderes ativistas devem contar mais com a policia como uma força de paz (para prender os alvoraçadores). Esta tática já tem sido aplicada pelos pacifistas. (De fato, a primeira vez que fui atacado em um protesto não foi pela polícia, mas por um “Peace Officer”[26], que tratou de me empurrar para a valeta enquanto eu e outros cortávamos uma estrada para evitar que a polícia separasse a marcha para poder realizar detenções massivas no segmento menos numeroso. Neste caso, resisti aos empurrões do Peace Officer que tentava me apartar e me deixar sozinho frente à polícia, a qual estava supervisionando o trabalho destes lacaios, e tive que me submergir de novo na multidão para evitar ser detido ou agredido.)
Pode alguém imaginar os ativistas revolucionários reivindicando que devem ser mais vigorosos e garantindo que cada participante de um evento bata num policial ou jogue um tijolo contra uma janela? Pelo contrário, a maioria dos anarquistas e outros militantes rebaixou sua postura, trabalhando com pacifistas e assegurando que, nas manifestações conjuntas, as pessoas que se opõem ao confronto, assustados pela brutalidade policial ou especialmente vulneráveis às sanções legais, possam ter um “espaço de segurança”. O pacifismo trabalha com os esforços por centralizar e controlar o movimento. O conceito resulta essencialmente autoritário e incompatível com o anarquismo, porque nega às pessoas o direito à autodeterminação direta de suas próprias lutas[27]. A dependência pacifista para a centralização e o controle (com uma liderança que pode realizar “vigorosos esforços” para prevenir um comportamento destrutivo) preserva a figura do Estado dentro do movimento, e preserva as estruturas hierárquicas para assistir às negociações do Estado (e à repressão estatal).
A história nos mostra que, se um movimento carece de um líder, o Estado inventará um. O Estado eliminou violentamente os sindicatos anti-hierárquicos dos começos do século XX, enquanto subornou e negociou com a liderança do sindicato hierárquico. Os regimes coloniais nomearam os “chefes” para as sociedades sem Estado que não os tinham, para impor o controle político na África ou negociar enganosas ameaças na América do Norte. Além disso, os movimentos sociais sem líder são especialmente difíceis de reprimir. As tendências do pacifismo para a negociação e a centralização facilitam os esforços do Estado para manipular e cooptar os movimentos sociais rebeldes; também facilitam ao Estado reprimir os movimentos, se decidem que existe a possibilidade de fazê-lo.
A visão pacifista da mudança social provém de uma posição vantajosa e privilegiada, onde a repressão completa por parte do Estado não constitui um medo real. Um ensaio sobre a estratégia não violenta, que recomendam alguns pacifistas, inclui um diagrama: os ativistas não violentos de esquerda, seus oponentes – presumivelmente reacionários – são de direita, e um indeciso terceiro partido é do centro[28]. Os três segmentos são agrupados equitativamente ao redor de uma decisão autoritária aparentemente neutra. Esta é uma visão completamente ingênua e privilegiada do governo democrático, no qual todas as decisões são tomadas pela maioria, com, no pior dos casos, uma limitada violência praticada só fora do conservadorismo obstinado e apático para mudar o status quo. O diagrama supõe uma sociedade sem hierarquias raciais, classicistas (e patriarcais), sem privilégios, poder e elites violentas, sem meios de comunicação controlados pelos interesses do Estado e do capital, preparados para dirigir as percepções da cidadania. Não existe uma sociedade como esta em nenhuma das democracias industriais e capitalistas.
Dentro deste modelo de poder social, a revolução é um jogo de tipo moral, uma campanha de apoio que pode ser ganho mediante “a habilidade de dignificar o sofrimento [por exemplo, os estudantes antissegregação que sentavam nos lugares “somente para brancos” enquanto eram atacados verbal e fisicamente para atrair a simpatia e o apoio político”[29]. Em primeiro lugar, este modelo supõe uma análise do Estado substancialmente caritativa e parecida a como o Estado descreve a si mesmo nos livros didáticos nas escolas públicas. Nesta análise, o Estado é um órgão que toma decisões neutras e passivas que respondem às pressões públicas. É, no melhor dos casos, imparcial, e no pior dos casos está empapado de uma cultura conservadora e ignorante. Mas isso não é estruturalmente opressivo. Segundo, este modelo coloca os pacifistas na posição de quem pressiona e negocia com esse órgão de tomada de decisões que, na verdade, está conscientemente limitado pelos seus próprios interesses, e está disposto a romper qualquer lei que lhe seja inconveniente, e é estruturalmente integrado e dependente de um sistema de poder e opressão que busca neutralizar os movimentos sociais antes de tudo.
Os governos modernos, que estudaram em profundidade os métodos de controle social, não vêem mais a paz como condição social padrão, que só é interrompida pelos agitadores externos. Agora entendem que a condição natural do mundo (o mundo que criaram, temos que esclarecer) é a do conflito: a rebelião contra suas normas é constante e inevitável[30].
A habilidade política tem se convertido na arte de dirigir o conflito, de forma permanente. Na medida em que os rebeldes continuem se armando com galhos de oliveiras e tendo uma visão ingênua da luta, o Estado sabe que está a salvo. Mas os mesmos governos cujos representantes falam educadamente ou, pelo contrário, despacham grosseiramente alguém em greve de fome, também espiam constantemente a resistência e treinam agentes com técnicas para a guerra contrainsurgente – extraídas das guerras de extermínio que se declararam para subjugar rebeldes, desde a Irlanda até a Argélia. O Estado está preparado para usar esses métodos contra nós.
Quando estamos inseridos num tipo de repressão exterminadora, dignificar o sofrimento simplesmente deixa de ser divertido, e aqueles pacifistas que não dedicaram completamente seu futuro à revolução declarando guerra ao status quo, nesse contexto, perdem a clareza de sua convicção (talvez fizeram algo de alguma maneira que “provocou” ou “mereceu” repressão?) e se retiram. Consideremos os protestos de Seattle em 1999 e as sucessivas mobilizações de massas do movimento antiglobalização: os ativistas em Seattle foram tratados brutalmente, mas se mantiveram de pé, contra-atacando, e muitos se empoderaram a partir dessa experiência. O mesmo aconteceu nas manifestações de Québec contra a Área de Livre Comércio das Américas (FTAA, por sua sigla em inglês). Em outro extremo, a repressão policial nos protestos anti-FTAA em 2003, em Miami, foram totalmente injustas, inclusive para os padrões legalistas[31]. Os participantes do protesto não se sentiram mais empoderados ou dignificados pela violência unidirecional que sofreram; foram tratados brutalmente, e muita gente evitou uma maior participação por essa brutalidade, que incluiu o episódio de que alguns ativistas foram agredidos sexualmente pela polícia enquanto estavam presos. Em protestos ainda mais passivos, como em Washington DC – as manifestações anuais contra o Banco Mundial, por exemplo –, a resistência não violenta, que consiste num ocasional e orquestrado círculo de reclusão, detenção, prisão e liberação, não foram tão empoderadoras, e sim tediosas e marcadas por cifras de participação em constante diminuição. Certamente foram menos exitosas na hora de ganhar atenção mediática ou influenciar as pessoas com o espetáculo do sofrimento dignificado, apesar de que o critério usado pelos organizadores pacifistas para afirmar a vitória foi uma combinação do número de participantes e da ausência de confrontação violenta com autoridades ou propriedades.
Em última análise, o Estado pode utilizar a não violência para vender inclusive um movimento revolucionário que tenha se tornado suficientemente poderoso para ter sucesso. Na Albânia, em 1997, a corrupção do governo e o colapso econômico levaram a que várias famílias perdessem todas suas poupanças. Em resposta, o “Partido Socialista convocou uma manifestação na capital, esperando alçar-se como líder de um movimento de protesto pacífico”[32]. Mas a resistência se estendeu muito além do controle de qualquer partido político. As pessoas começaram a se armar, queimaram ou atentaram contra bancos, delegacias, edifícios governamentais e escritórios dos serviços secretos e liberaram prisioneiros. “Muitos dos militares desertaram, ou unindo-se aos insurgentes, ou voando até a Grécia”. Os albaneses tiveram a lucidez de derrubar o sistema que os estava oprimindo, o que lhes deu a oportunidade para criar novas organizações sociais para si. “Em meados de março, o governo, incluindo a polícia secreta, foi forçado a abandonar a capital.” Pouco depois, várias centenas de tropas da União Europeia ocuparam a Albânia para reinstalar a autoridade central. Os partidos da oposição, que antes negociaram com o governo para encontrar um conjunto de condições que induzissem os rebeldes a abandonar as armas e convencer o partido dirigente a se retirar (para favorecer sua ascensão), foram centrais na hora de permitir a ocupação e pacificar os rebeldes, conduzir às eleições e reinstalar o Estado.
De maneira similar, Frantz Fanon descreve os partidos de oposição que denunciaram a rebelião violenta nas colônias através de um desejo de controle do movimento: “Depois dos primeiros enfrentamentos, os líderes oficiais se desarticularam rapidamente” a ação militante, que “qualificaram de infantilidade”. Então, “os elementos revolucionários que se rebelaram foram rapidamente isolados. Os líderes oficiais, protegidos pelos seus anos de experiência, renegaram implacavelmente estes ‘aventureiros e anarquistas’”. Como Fanon explica, em particular em relação à Argélia e às lutas anticoloniais em geral: “a máquina do partido mostra a si mesma oposta a qualquer inovação” e os líderes “estão amedrontados e preocupados com a ideia de que possam ser apagados por um furacão cuja natureza, força e direção eles não podem imaginar”[33]. Apesar de que estes líderes políticos da oposição, na Albânia, Argélia ou em qualquer outro lugar, geralmente não se identificam como pacifistas, é interessante dar-se conta de como jogam um papel similar. Por sua parte, os genuínos pacifistas são mais capazes em aceitar os enganosos galhos de oliveira dos políticos pacificadores do que em oferecer sua solidariedade aos revolucionários armados. A aliança e a fraternidade padrão entre pacifistas e líderes políticos progressistas (que aconselham moderação) servem para fraturar e controlar os movimentos revolucionários. É na ausência de penetração pacifista significativa dentro dos movimentos populares que os líderes políticos fracassam na hora de controlar tais movimentos, e somente então são rejeitados e amputados como os sanguessugas elitistas que são. É quando a violência é tolerada pelos movimentos populares que tais movimentos ficam tolhidos.
Em última instância, os ativistas não violentos dependem da violência do Estado para proteger seus “ganhos”, e não opõem resistência à esta violência quando é usada contra os militantes (inclusive, várias vezes a animam). Negociam e cooperam com a polícia armada em suas manifestações. E, mesmo que os pacifistas honrem seus “presos de consciência”, sei por experiência que tendem a ignorar a violência do sistema penitenciário nos casos em que quem está preso tenha cometido um ato de resistência violenta ou de vandalismo (para não mencionar um delito apolítico). Quando eu estava cumprindo uma sentença de prisão de seis meses por um ato de desobediência civil, choveu apoio dos pacifistas de todo o país. Mas, em conjunto, mostraram uma falta de preocupação incrível em relação à violência institucionalizada que enjaulou os 2,2 milhões de casos da Guerra Contra o Crime[34] do governo. Parece que a única forma de violência à qual se opõem de uma maneira consistente é a rebelião contra o Estado.
O próprio sinal de paz é uma metáfora perfeita para sua função. Em vez de alçar o punho, os pacifistas alçam seus dedos indicadores e o anular em forma de V. Este V significa vitória e é o símbolo dos patriotas que se regozijam na paz que segue ao triunfo de uma guerra. Em conclusão, a paz que os pacifistas defendem é a dos militares vencedores, a de um Estado sem oposição que conquistou toda resistência e monopolizou a violência até o ponto em que a violência não precisa mais ser visível. Esta é a Pax Americana.
A Não Violência é patriarcal
O patriarcado é uma forma de organização social que produz o que comumente reconhecemos como sexismo. Porém, vai mais além do preconceito individual ou sistêmico contra as mulheres. Em primeiro lugar, consiste na falsa divisão das pessoas em duas categorias rígidas (homem e mulher) que são afirmadas como sendo tanto naturais como morais. (Muita gente perfeitamente sadia não se encaixa em nenhuma destas categorias fisiológicas, e muitas culturas não ocidentais reconheciam – e ainda o fazem, se ainda não foram destruídas – mais de dois sexos e gêneros.) O patriarcado insiste em definir papéis claros (econômicos, sociais, emocionais e políticos) para homens e mulheres, afirmando (falsamente), que estes papéis são naturais e morais. O patriarcado tenta destruir, social e, inclusive, fisicamente, qualquer um que não se encaixe em uma destas categorias ou que recuse este “binarismo de gênero”. Sob o patriarcado, as pessoas que não se encaixam ou que recusam estes papéis de gênero são neutralizadas por meio da violência e do ostracismo. Fazem-lhes parecer e sentir feios, sujos, temíveis, depreciáveis e inúteis.
O patriarcado é danoso para todos, e é reproduzido por qualquer um que nele viva. De acordo com seu nome, coloca os homens em uma posição dominante e as mulheres numa posição submissa. As atividades e características que estão tradicionalmente associadas ao “poder”, ou ao menos ao privilégio, pertencem majoritariamente aos homens[1]. O patriarcado outorga tanto a habilidade, quanto o direito ao uso da violência quase exclusivamente aos homens. Com o gênero, assim como em relação à raça, a não violência é inerentemente uma posição privilegiada. A não violência assume que, ao invés de nos defendermos da violência, podemos sofrê-la pacientemente até que uma parte considerável da sociedade se mobilize para se opor pacificamente a ela (ou que podemos esperar e “transformar” individualmente qualquer agressão que nos ameace). Muitos proponentes da não violência a apresentam não apenas como uma prática política meramente demarcada, mas como uma filosofia que merece penetrar no tecido social e dele desenraizar a violência em todas suas manifestações. Mas parece que os pacifistas não levam a violência do patriarcado em consideração. Depois de tudo, nas guerras, nas revoluções sociais e na vida diária, as mulheres e as pessoas transgênero são, dentro da sociedade patriarcal, as receptoras primárias da violência.
Se retirarmos esta filosofia da arena política impessoal e a colocarmos num contexto mais real, a não violência implica na crença de que é imoral que uma mulher se defenda de um agressor ou que aprenda autodefesa. A não violência assume que para uma mulher maltratada seria melhor partir, ao invés de se mobilizar em um grupo de mulheres e dar uma surra no marido agressor, escurraçando-o de casa[2]. A não violência afirma que é melhor ser estuprada do que tirar uma caneta do bolso e afundá-la na jugular do agressor (porque fazê-lo seria supostamente alimentar um ciclo de violência e fomentar futuras violações). O pacifismo simplesmente não tem ressonância nas realidades diárias das pessoas, a menos que estas pessoas vivam em um extravagante mar de tranquilidade, em que toda forma de violência civil, reativa e pandêmica, tenha sido expulsa pela violência sistêmica menos visível da polícia e das forças militares.
Por outro ângulo, a não violência cabe muito bem ao patriarcado. Depois de tudo, a abolição do patriarcado requer formas de resistência que enfatizem a cura e a reconciliação[3]. A concepção ocidental de justiça, baseada na lei e no castigo, é totalmente patriarcal. Já nos primeiros códigos legais as mulheres eram definidas como propriedades, e as leis foram escritas para e por homens proprietários, que por sua vez eram educados para não demonstrarem emoções; os “delitos” eram corrigidos através de castigos, ao invés de reconciliações. E mais, o patriarcado não se sustenta com base em uma elite poderosa que deva defendê-lo pela força, mas é sustentado por todo mundo.
Uma vez que a distribuição do poder dentro do patriarcado é muito mais difusa que no Estado ou no capitalismo, lutar contra os poderosos ou máximos responsáveis é um papel muito menor. Um general que, por exemplo, assessora uma empresa armamentista possui poder significativo dentro do Estado e do capitalismo, mas não extrai especificamente do patriarcado muito mais poder que qualquer outro homem, exceto talvez o de representar um modelo de virilidade. Devemos construir uma cultura que nos permita ter uma identidade própria em termos de gênero e que apoie a construção de relações saudáveis e a recuperação de gerações de violência e trauma. Isto é perfeitamente compatível com o treinamento em autodefesa para mulheres e pessoas transgênero, e combate às instituições econômicas, culturais e políticas exemplarmente patriarcais que são especialmente responsáveis por suas formas mais brutais. Matar um policial que estupra travestis e prostitutas sem casa, por fogo no escritório de uma revista que conscientemente publica um padrão de beleza que conduz à anorexia e à bulimia, ou sequestrar o presidente de uma empresa que trafica mulheres – nenhuma dessas ações vai de encontro com a construção de uma cultura de liberdade. Mas são aqueles com poder, que conscientemente tiram proveito do patriarcado, os mais ativos opositores do desenvolvimento desta cultura. Valorizar relações mais livres complementa-se com uma oposição militante às instituições que propagam relações exploradoras e violentas. Atacar os exemplos mais visíveis e provavelmente incorrigíveis do patriarcado é uma maneira de educar as pessoas sobre a necessidade de uma alternativa. A maior parte do trabalho necessário para superar o patriarcado provavelmente será pacífico, focado na construção de alternativas e de reabilitação das feridas provocadas por ele. Mas uma prática pacifista que esquece o uso de qualquer outra tática deixa sem opção as pessoas que necessitam proteger-se da violência aqui e agora.
No caso do estupro e de outras formas de violência contra mulheres, a não violência implica nas mesmas lições que o patriarcado nos ensinou durante milênios: glorificar a passividade – “dar a outra face” e “dignificar o sofrimento” – frente à opressão. Todas as histórias, mandamentos, parábolas e leis contidas no Antigo Testamento, um dos textos mais lúcidos que define como conservar e pôr em prática o patriarcado, aconselham às mulheres sofrer pacientemente a injustiça e rezar para que a divina Autoridade intervenha. (Esta prescrição é parecida com a crença existente no pacifismo de que, sempre que os meios de comunicação disseminam imagens do sofrimento dignificado, as autoridades se sentem motivadas a realizar a justiça.) Dado que o patriarcado prescreve claramente uma violência masculina unilateral, as mulheres estariam interrompendo esta dinâmica de poder não reforçando-a, senão reapropriando-se de sua capacidade de exercer violência[4]. Neste sentido, o fato das mulheres reclamarem para si a habilidade e o direito do uso da força não põe fim por si só ao patriarcado, mas é uma condição necessária para a libertação de gênero, assim como uma forma útil de empoderamento e de proteção a curto prazo.
As pacifistas e feministas reformistas têm apontado muitas vezes que são as pessoas que praticam o ativismo militante as que são sexistas. Em muitos casos específicos, essa acusação tem sido válida. Mas a crítica frequentemente se estende para sugerir que o uso ativista da violência é sexista em si mesmo, masculino, ou, ao menos, previlegiado[5]. Como Laina Tanglewood explica: “Algumas ‘feministas’recentes criticam que o anarquismo condenou a militância a ser sexista e a não incluir as mulheres […] Esta ideia é em realidade mais sexista”[6]. Outras anarquistas assinalam que “na verdade, a masculinização da violência, com sua velada concomitância sexista e a feminização da passividade, realmente se deve mais àquelas pessoas cuja noção de mudança inclui a revolução ou a aniquilação do Estado”[7].
Da mesma forma, para quem a noção de liberdade não inclui a capacidade das mulheres de defenderem a si mesmas? Respondendo à suposição de que as mulheres somente podem ser protegidas por amplas estruturas sociais, a ativista Sue Daniels recorda-nos: “uma mulher pode livrar-se de um agressor por si mesma […] a questão central não é de quem é fisicamente mais forte; é uma questão de treinamento”[8]. The Will to Win!Women and Self-Defense (O direito de ganhar! Mulheres e autodefesa), um panfleto anônimo, agrega o seguinte:
É ridículo que existam tantas organizações de apoio e orientação para mulheres que tenham sido violentadas, atacadas ou maltratadas, e nenhuma que trabalhe para preparar e prevenir que estas coisas aconteçam. Devemos rechaçar sermos vítimas e desfazer a ideia de que devemos nos submeter a nossos agressores para nos mantermos distanciadas de uma violência ainda mais extrema. Na realidade, submeter-se a nossos agressores só contribuirá para uma futura violência contra outras[9].
A ideia de que a violência é masculina, ou que o ativismo revolucionário exclui necessariamente as mulheres, travestis e pessoas trans está, como outras premissas da não violência, baseada em um esquecimento histórico[10]. Ignoram as mulheres nigerianas ocupadas em sabotar as jazidas de petróleo; as mulheres mártires da intifada palestina; as guerreiras travestis e transgênero da Stonewall Rebellion; as milhares de mulheres que lutaram com o Vietcong; as mulheres líderes da resistência Nativa ao genocídio europeu e norte-americano; Mujeres Creando, um grupo de anarco-feministas na Bolívia; as sufragistas britânicas que geraram distúrbios e lutaram contra os policiais. Se esquecem também das mulheres que ocuparam os mais altos níveis de liderança à frente do Partido dos Panteras Negras, as zapatistas, as Weather Underground, e outros grupos militantes. A ideia de que defender-se de algum modo exclui as mulheres é absurdo. Nem sequer a história do branco e pacificado “primeiro mundo” o afirma, porque nem o patriarcado mais efetivo que pudéssemos imaginar, em momento algum, seria capaz de impedir que todas as pessoas transgênero e todas as mulheres lutassem de maneira militante contra a opressão.
As pessoas partidárias da não violência, que fazem uma limitada exceção com a autodefesa porque reconhecem até que ponto é errôneo dizer que as pessoas oprimidas não podem ou devem proteger a si mesmas, não têm estratégias viáveis para tratar com a violência sistêmica. A autodefesa serve para defender-se de um marido maltratador, mas não para fazer voar ao ar uma fábrica emissora de dióxido que intoxica seu leite materno? O que existe sobre uma campanha mais coordenada para destruir a empresa que pertence à fábrica e ao responsável de liberar os contaminantes? É autodefesa matar o general que envia soldados que violam mulheres em uma zona de guerra? Ou os pacifistas devem permanecer na defensiva, somente respondendo aos ataques individuais e submetendo a si mesmos à inevitabilidade de tais ataques até que a tática não violenta faça mudar de alguma forma o general ou provoque o fechamento da fábrica, em um futuro incerto?
Além de proteger o patriarcado da oposição militante, a não violência também ajuda a preservar as dinâmicas patriarcais dentro do movimento. Uma das maiores premissas do atual ativismo antiopressão (nascido do desejo comum de promover movimentos mais livres e empoderadores e de evitar o corpo a corpo amplamente contido por dinâmicas de opressão e de descuido que invalidaram as lutas de libertação das gerações anteriores) é que as hierarquias sociais opressivas existem e reproduzem a si mesmas no comportamento de toda pessoa, e devem ser superadas tanto interna como externamente. Mas o pacifismo prospera evitando a autocrítica[11]. A maioria de nós está familiarizada com o esteriótipo parcialmente justificado da autocomplacência, a autocelebração de ativistas não violentos que “personificam a mudança que desejariam ver no mundo”[12] até tal ponto de, em suas mentes, personificarem todo o belo e correto. Um seguidor de uma organização pacifista exclamou, em resposta a críticas sobre o privilégio, que o líder de raça branca e de gênero masculino participante do grupo, possivelmente, não podia exercer um privilégio por ser branco e ser homem já que se tratava de uma boa pessoa, como se a supremacia branca e o patriarcado fossem associações inteiramente voluntárias[13]. Em tal contexto, com que facilidade poderia um grupo com uma liderança predominantemente masculina, entendido como a personificação do ideal não violento, resultante de sua participação em um impressionante número de greves de fome e protestos, ser mobilizado contra comportamentos opressivos, contra a transfobia ou contra o abuso sexual?
A tendência do pacifismo de evitar a autocrítica não é somente típica, é funcional. Quando sua estratégia para vencer provém de “capturar e manter a superioridade moral como vantagem diante de nossos oponentes”[14], é necessário reproduzir a si mesmo como moral e a seu inimigo como imoral. Não cobrir fanatismos e dinâmicas opressivas diante líderes e membros do grupo é simplesmente contraproducente para a estratégia escolhida. Quantas pessoas sabem que Martin Luther King Jr. tratou Ella Becker [que foi a responsável geral da construção da Conferência de Liderança Cristã do Sul (Southern Christian Leadership Conference, SCLC), enquanto King era ainda inexperiente como organizador] como sua secretária; riu da cara de algumas mulheres da organização quando sugeriram que o poder e a liderança deveriam ser compartilhados; disse também que o papel natural das mulheres era a maternidade, e que elas, sem sorte, se viam “forçadas” a ocupar as posições de “mestre” e “líder”[15]; e expulsou Bayard Rustin de sua organização porque Rustin era gay [16]? Mas, então, porque estes fatores, amplamente disponíveis quando transformamos King em um ícone, levariam a encobrir tais faltas retratando-o como um santo? Para o ativismo revolucionário, de qualquer maneira, a vitória chegará através do empoderamento e do uso de melhores estratégias para combater o Estado e sobreviver à repressão. Tal caminho requer constante avaliação e autocrítica[17].
É frequente a pré-existência de suposições sexistas que pintam os grupos militantes mais sexistas do que em realidade o são. Por exemplo, as mulheres eram, efetivamente, excluídas das posições de liderança no SCLC[18] de King, quando, ao contrário, as mulheres (por exemplo, Elaine Brown), às vezes, alcançavam as mais altas posições no Partido dos Panteras Negras (Black Panther Party, BPP). Ainda assim, é o BBP, e não o SCLC, que se elevou como o paradigma do machismo. Kathleen Cleaver contestou quando disse: “Em 1970, o BPP tomou uma posição formal na libertação da mulher. O Congresso dos Estados Unidos fez a mínima declaração sobre a libertação da mulher?[19]”. Frankye Malika Adams, outra Pantera, disse: “As mulheres organizaram bastante a BPP. Não sei como conseguiram ser um partido de homens ou pensaram como se fossem”[20]. Ressuscitando uma história mais rigorosa do Partido dos Panteras Negras, Mumia Abu-Jamal documenta que foi, de alguma maneira, “um partido de mulheres”[21].
Apesar disso, o sexismo persistiu entre os Panteras, como persistiu em qualquer ambiente revolucionário, e em qualquer outro segmento da sociedade patriarcal de hoje em dia. O patriarcado não pode ser destruído da noite para o dia, mas pode ser gradualmente vencido por grupos que trabalham para destruí-lo. O ativismo deve reconhecer o patriarcado como o principal inimigo e abrir espaço nos movimentos revolucionários para mulheres, travestis e transgêneros para constituir-se como forças criativas no momento de dirigir, assessorar e reformular a luta (enquanto também apoia os esforços dos homens para entender e neutralizar nossa própria socialização). Uma avaliação honesta mostra que não importam nossa intenções, resta muito trabalho para fazer para libertar o movimento do controle das mãos dos homens e para encontrar formas mais saudáveis e reconfortantes para tratar com padrões de abuso em relações, sociais ou sexoafetivas, entre membros do movimento.
Sejam militantes ou pacifistas, quase todas as discussões táticas ou estratégicas nas quais participei foram assistidas e dominadas constrangidamente por homens. Longe de afirmar que as mulheres e as pessoas transgêneros são de alguma forma incapazes de participar de uma ampla gama de opções táticas (ou mesmo discuti-las), faríamos bem em lembrar as vozes daquelas que lutaram, violentamente, de maneira desafiante, efetivamente como revolucionárias. Por exemplo, as Mujeres Creando, um grupo anarco-feminista da Bolívia. Suas integrantes se dedicaram a campanhas de grafites e campanhas antipobreza, e protegeram as pessoas da violência policial durante as manifestações. Em sua ação mais dramática, se armaram com coquetéis molotov e cartuchos de dinamite e ajudaram um grupo de agricultores indígenas a tomar um banco para reivindicar que fosse perdoada uma dívida que estava matando de fome a todos eles e às suas famílias. Em uma entrevista, Julieta Paredes, membra fundadora, explica as origens do grupo:
Mujeres Creando é uma “loucura” iniciada por três mulheres [Julieta Paredes, María Galindo e Monica Mendoza] a partir da arrogante, homofóbica e totalitária Bolívia dos anos oitenta […] A diferença entre nós e aqueles que falam sobre a derrubada do capitalismo é que todas as propostas para uma nova sociedade provêm do patriarcado de esquerda. Como feministas, em Mujeres Creando queremos revolução, uma mudança real do sistema […] Eu disse antes e repito que não somos anarquistas por Bakunin ou pela CNT, mas sim por nossas avós, e esta é uma bela escola do anarquismo[22].
Sylvia Rivera, uma drag-queen porto-riquense, falou sobre sua participação na rebelião de Stonewall em 1969, provocada depois da batida policial, no Stonewall Bar en Greenwich Village da cidade de Nova Iorque, com a finalidade de perseguir a clientela trans e travesti:
Não aceitaremos mais merdas como essa. Temos feito muito por outros coletivos. Chegou o momento. Na primeira linha estavam os gays das ruas de Village e as pessoas sem teto que viviam no parque de Sheridan Square em frente ao bar, depois as drag-queens e todo mundo atrás de nós […] Estou encantada de ter estado nos distúrbios de Stonewall. Lembro que quando alguém lançou um coquetel molotov, pensei: ”Meu deus, a revolução finalmente está aqui!” Sempre acreditei que teríamos que nos defender. Tinha certeza de que nos defenderíamos. Só que não sabia que ia ser naquela noite. Se tivesse perdido esse momento, iria me sentir de alguma maneira dolorida porque foi quando vi como mudava o mundo para mim e para minha gente. Ainda que, claro, resta diante de nós um longo caminho por seguir[23].
Ann Hansen, uma revolucionária canadense, cumpriu sete anos de condenação em prisão por estar envolvida em 1980 nos grupos clandestinos Direct Action e Wimmin’s Fire Brigade, que, entre outras ações, colocaram uma bomba na fábrica de Litton Systems (fabricante de componentes para mísseis navais) e lançaram bombas incendiárias em uma cadeia de lojas de pornografia que vendia vídeos reproduzindo violações. De acordo com Hansen:
Existem muitas formas diferentes de ação direta, algumas mais efetivas que outras em diferentes momentos da história, mas em conjunto com outras formas de protesto a ação direta pode fazer o movimento mais efetivo pela mudança abrindo caminhos de resistência que não são nem facilmente absorvidos nem facilmente controláveis pelo estado. Infelizmente, as pessoas de dentro do movimento debilitam suas próprias ações quando fracassam no entendimento e no apoio das diversas táticas disponíveis […] Nos transformamos em pacíficos[24].
Nascida na Rússia, Emma Goldman – a anarquista americana mais famosa – participou na tentativa de assassinato do empresário do aço Henry Clay Frick em 1892; partidária da Revolução Russa e uma das primeiras críticas do governo leninista, escreve o seguinte sobre a emancipação das mulheres: “A história nos conta que toda classe oprimida ganha a verdadeira libertação de seus amos através de seus próprios esforços. É necessário que a mulher aprenda esta lição, que perceba que não alcançará sua liberdade até que alcance o poder para realizá-la[25].
Mollie Steimer foi outra imigrante anarquista russa na América. Desde muito jovem, Steimer trabalhou com Frayhayt, um periódico anarquista em yiddish de Nova York. Na capa do mesmo aparece este lema: “A única guerra justa é a revolução social”. De 1918 em diante, Steimer foi detida e presa repetidamente por falar claramente contra a Primeira Guerra Mundial ou em apoio da Revolução Russa, que, naquele tempo, antes da consolidação leninista e dos exílios, tinha um componente significativamente anarquista. Em um julgamento declarou: “Para o cumprimento desta ideia [o anarquismo], consagrarei toda minha energia e, se necessário, darei minha vida por isso”[26]. Steimer foi deportada para a Rússia e depois presa pelos Sovietes por seu apoio aos anarquistas prisioneiros lá.
Anna Mae Pictou-Aquash foi uma mulher Mi’kmaq e uma ativista do Movimento Indígena Americano (American Indian Movement, AIM). Depois de ensinar e orientar a juventude Nativa, e “trabalhar com as Boston’s African American e Native American Communities”[27], uniu-se ao AIM e se envolveu na ocupação de 71 dias do Wounded Knee na reserva de Pine Ridge em 1973. Em 1975, em relação a um período de brutal repressão, durante o qual pelo menos 60 membros e partidários do AIM foram assassinados por paramilitares equipados pelo FBI, Pictou-Aquash esteve presente em um tiroteio no qual dois agentes do FBI foram assassinados. Em novembro de 1975, foi declarada fugitiva por faltar a uma audiência de acusação de posse de explosivos. Em fevereiro de 1976, foi encontrada morta com um disparo na nuca; o legista apontou como causa de morte “hipotermia”. Por trás de seu falecimento, se supôs que o FBI a ameaçou de morte por não delatar outros ativistas do AIM. Durante toda sua vida, Pictou-Aquash foi uma ativista e revolucionária muito comprometida.
Essa gente branca pensa que o país pertence a elas – não percebem que, se agora estão no lugar certo é só porque eles são mais numerosos. O país inteiro mudou com só um punhado de peregrinos maltrapilhos que vieram aqui em 1500. É possível conseguir um punhado de índios maltrapilhos para fazer o mesmo; eu tentei ser um desses índios[28].
Rote Zora (RZ) foi um grupo alemão de guerrilha urbana de feministas anti-imperialistas. Junto às aliadas Células Revolucionárias, levaram a cabo mais de duzentos ataques, a maioria colocando bombas, durante os anos 70 e 80. Apontaram contra pornógrafos; empresas exploradoras; edifícios governamentais; companhias que traficavam mulheres para serem esposas, escravas sexuais e trabalhadoras domésticas; entre outras coisas. Em uma entrevista anônima, integrantes do Rote Zora explicaram: “As mulheres do RZ começaram em 1974 colocando uma bomba no Supremo Tribunal de Karlsruhe porque queríamos a abolição total da ‘218’ (a lei do aborto)”[29]. À pergunta de se a violência prejudica o movimento tanto como suas bombas, responderam:
Zora 1: Para prejudicar o movimento – você fala da instalação da repressão. As ações não prejudicam o movimento! Tudo ao contrário, podem e devem apoiá-lo de uma forma direta. Nosso ataque contra os traficantes de mulheres, por exemplo, ajudou a expor à luz pública seus negócios, a ameaçá-los, e agora eles têm que antecipar-se à resistência das mulheres se querem seguir adiante com seus negócios. Estes “cavalheiros” sabem que têm que prever a resistência. A isso chamamos o fortalecimento de nosso movimento.
Zora 2: Faz já muito tempo que a estratégia da contrarrevolução começou a dividir totalmente a ala radical do resto do movimento ilhando-se para debilitar o movimento inteiro. Nos anos 70, tivemos a experiência do que significa que setores da esquerda adotem a propaganda do estado, quando começam a apresentar aqueles que lutam de maneira autônoma[30] como os responsáveis do estado de perseguição, destruição e repressão. Não só confundem a causa com o efeito, como implicitamente justificam o estado de terror. Portanto, são eles mesmos quem debilitam suas próprias posições. Eles estreitam o marco dos protestos e as resistências […]
A entrevista prosseguiu desenvolvendo a seguinte questão: como mulheres não autônomas e não radicais podem entender o que vocês querem? Ações armadas para o efeito de assustar.
Zora 2: Talvez seja temível que a realidade do dia a dia seja questionada. As mulheres, que desde pequenas têm martelado em suas cabeças a ideia de que são vítimas, se transformam em inseguras se têm que enfrentar o fato de que as mulheres não são vítimas e nem pacíficas. Isso constitui uma provocação. Aquelas mulheres que experimentam sua falta de poder com raiva podem identificar-se com nossas ações. Dado que cada ato de violência contra uma mulher cria uma atmosfera de ameaça contra todas as outras, nossas ações contribuem – mesmo que só apontem o responsável individual – para o desenvolvimento de uma atmosfera de “A resistência é possível!”[31].
Há, no entanto, muita literatura feminista que anula os efeitos empoderadores (e historicamente importantes) da luta militante do movimento de mulheres e outros movimentos, oferecendo em seu lugar um feminismo pacifista. As feministas pacifistas apontam o sexismo e o machismo de certas organizações militantes de libertação as quais deveríamos tomar conhecimento. O argumentar contra da não violência e a favor de uma diversidade de táticas não deveria implicar absolutamente em um acordo com as estratégias ou culturas de grupos militantes do passado (por exemplo, a postura machista do Weather Underground ou o antifeminismo das Brigatte Rosse)[32]. Mas o fato de tomarmos seriamente estas críticas não impede que sinalizemos a hipocrisia das feministas que de boa vontade censuram o comportamento sexista dos militantes, mas encobrem quando são pacifistas os que o cometem, por exemplo, deleitando-se com o conto de que Gandhi aprendeu de sua mulher a não violência, ignorando os preocupantes aspectos patriarcais de sua relação[33].
Algumas feministas vão além das críticas específicas e tentam forjar uma ligação metafísica entre o feminismo e a não violência: esta é “a feminilização da passividade” antes mencionada. Em um artigo publicado no jornal de Berkeley Peace Power, Carol Flinders cita um estudo realizado por cientistas da Universidade da Califórnia (UCLA), alegando que as mulheres são hormonalmente programadas para responder ao perigo não com o mecanismo de “atacar ou correr”, que é atribuído aos homens, mas com o mecanismo de “cuidar ou tentar aproximação”. De acordo com esses cientistas, as mulheres, em um estado de ameaça, “acalmam as crianças, alimentam a todos, disseminam a tensão e se conectam com outras mulheres”[34]. Esse tipo de ciência sensacionalista tem sido uma ferramenta favorável para reconstituir o patriarcado mediante a suposta prova da existência de diferenças naturais entre homens e mulheres; as pessoas estão pré-dispostas a esquecer princípios matemáticos básicos com tal força a ponto de se entregarem a um mundo tão bem sistematizado. Ou seja, dividindo-se arbitrariamente a humanidade em duas partes (macho e fêmea) com base em um número muito limitado de características, invariavelmente, serão produzidos diferentes resultados que servem de cânone para cada parte. As pessoas que não sabem que o resultado extraído de tal operação aritmética não expressa, mas obscurece, a diversidade dentro de um conjunto declaram animadas que as partes são categorias naturais e continuam fazendo as pessoas se sentirem como antinaturais e anormais se não se encaixam no cânone de sua parte (não queira Deus que se encaixem com o resultado oposto. Façamos uma pausa para comemorar a imparcialidade da Ciência!).
Mas Flinders não para por aí, com o estudo implicitamente transfóbico e essencializador do gênero[35] da Universidade de Califórnia. Continua investigando em “nosso remoto passado pré-humano. Entre os chimpanzés, nossas relações mais próximas, os machos patrulham o território no qual as fêmeas alimentam as crias […] As fêmeas raramente estão nessas frentes, elas se dedicam mais ao cuidado típico de descendentes”. Flinders diz que isso mostra que “entrar em combate direto nunca foi uma característica particularmente adaptativa para as mulheres” e “as mulheres tendem a aproximar-se da não violência a partir de diferentes frentes e até mesmo viver a não violência de forma bastante diferente”[36]. Flinders está outra vez equivocada em nome da ciência, além de assumir um tom extremamente sexista.
Primeiramente, o determinismo evolutivo que usa nem é escrupuloso e tampouco se pode provar; sua popularidade provém de criar uma desculpa para as estruturas sociais historicamente opressivas. Inclusive neste contexto incerto, Flinders é imprecisa em suas suposições. Os não humanos evoluíram a partir de chimpanzés, mas ambas espécies evoluíram a partir de um antecessor comum. Os chimpanzés são tão modernos quanto os humanos e ambas as espécies tiveram a oportunidade de desenvolver adaptações no comportamento que divergem de um ancestral comum. Nós estamos mais atados às divisões de gênero do que os chimpanzés, do que eles estão a nossa propensão para desenvolver enormes listas de palavras para obscurecer a verdade do mundo à nossa volta. Segundo, através do mesmo caminho que a levou a afirmar a tendência feminina para não violência, Flinders encontrou uma afirmação de que o papel natural das mulheres é confortar as crianças e alimentar a todo mundo longe da linha de frente. Flinders mostrou, ainda que marcada por acidente, que o mesmo sistema de crenças que diz que as mulheres são pacíficas, também diz que o papel da mulheres é cozinhar e criar crianças. O nome para este sistema de crença é patriarcado.
Outro artigo de uma feminista acadêmica se torna essencialista em menos de um piscar de olhos. No segundo parágrafo de Feminism and Nonviolence: A Relational Model(Feminismo e Não Violência: Um Modelo relacional), Patrizia Longo escreve:
Anos de pesquisa […] sugerem que apesar dos problemas potenciais que se supõe, as mulheres têm participado de forma consistente na ação não violenta. No entanto, as mulheres escolhem a não violência não por querer melhorar a si mesmas através de um sofrimento adicional, mas porque a estratégia se encaixa com seus valores e recursos.[37]
Constrangendo as mulheres à não violência, parece que as feministas pacifistas devem também restringir nossa definição de “valores e recursos” das mulheres; definem quais traços são essencialmente femininos confinando as mulheres em um papel falsamente identificado como natural, e deixando de fora aquelas que não se encaixam nele.
É difícil quantificar o número de feministas que aceitam atualmente as premissas do essencialismo, mas parece que um grande número de feministas de base não aceitam a ideia de que o feminismo e a não violência estão ou devem estar intrinsecamente ligados. Em um fórum de discussão online, dezenas de mulheres que se definem como feministas responderam à pergunta: “Existe uma ligação entre a não violência e feminismo?” A maioria das presentes, algumas pacifistas, outras não, expressou a crença de que as feministas não precisam apoiar a não violência. Uma mensagem resumiu a discussão da seguinte maneira: “Há uma pressão substancial dentro do feminismo, que vincula as mulheres a não violência. Mas há um grande número de feministas lá fora, entre as quais eu mesma me incluo, que não querem se ver automaticamente incluídas em uma postura (isso é, a não violência), simplesmente por nossos órgãos genitais ou por nosso feminismo”.
A Não Violência é tática e estrategicamente inferior
Ativistas da não-violência, tentando parecer estratégicos, frequentemente evitam qualquer elaboração de estratégias reais com simples afirmações, como: “a violência é a carta mais forte do Estado. Temos que seguir o caminho da resistência mínima, e atingi-los onde são mais fracos”[1]. Já é hora de distinguir entre elaborar estratégias e elaborar slogans, e de ficar um pouco mais sofisticado.
Para começar temos que definir algumas coisas. (O uso que vou fazer dos termos a seguir não são universais, porém, se os usarmos de maneira consistente eles se tornarão mais do que adequadas para os nossos propósitos.) Uma estratégia não é um objetivo, nem um slogan, nem uma ação. A violência não é uma estratégia, e também não o é a não-violência.
Estes dois termos (violência e não-violência) são fronteiras que se situam ao redor de uma diversidade de táticas. Uma diversidade limitada de táticas constrangerá as opções disponíveis para gerar estratégias, quando na realidade as táticas devem fluir sempre a partir de estratégias, e estas, por sua vez, devem fluir a partir de um objetivo. Infelizmente, hoje em dia as pessoas frequentemente parecem fazer o contrário, ao promover táticas que ficam fora das respostas habituais ou ao pensar táticas dentro de uma estratégia, sem ter mais do que uma vaga consciência do objetivo.
O objetivo é o destino. É a condição que denota a vitória. É claro, existem objetivos imediatos e objetivos finais. Pode ser mais realista evitar uma aproximação linear e visualizar os objetivos finais como um horizonte, como o destino mais longe que podemos imaginar, o qual se transformará quando os passos que, antes distantes, se tornarem mais claros, novos objetivos emergirem, e um Estado utópico ou estático jamais é alcançado. Para os anarquistas, aqueles que desejam um mundo sem hierarquias coercitivas, o objetivo final de hoje parece ser a abolição de uma série entrelaçada de sistemas que incluem o Estado, o capitalismo, o patriarcado, a supremacia branca e as formas de civilização ecocidas. Esse objetivo final está muito longe – tão longe que muitos de nós evita pensar sobre isso, porque podemos descobrir que não acreditamos que seja possível. Nos concentrarmos nas realidades imediatas é vital, mas ignorar o destino implica que jamais consigamos alcançá-lo.
A estratégia é o caminho, o plano de jogo para alcançar o objetivo. É a sinfonia coordenada de movimentos que guia até o xeque-mate. Os revolucionários em potencial dos EUA, e provavelmente de qualquer outro lugar, são normalmente negligentes quando o assunto é estratégia. Eles têm uma ideia tosca do objetivo, e estão intensamente envolvidos em táticas, mas muitas vezes renunciam completamente à criação e implementação de estratégias que sejam viáveis. De um certo modo, os ativistas não-violentos têm, normalmente, uma certa vantagem sobre os ativistas revolucionários, já que muitas vezes têm estratégias bem desenvolvidas para a busca de objetivos de curto prazo. A troca tende a ser uma total anulação dos objetivos de médio e longo prazo, provavelmente porque os objetivos de curto prazo e as estratégias pacifistas os encaminham a becos sem saída que seriam extremamente desmoralizantes se fossem percebidos.
Finalmente, temos as táticas, que são as ações ou tipos de ações que produzem determinados resultados. Idealmente, esses resultados têm um efeito composto, construindo o momento ou concentrando força ao longo das linhas traçadas pela estratégia. Escrever cartas é uma tática. Lançar um tijolo contra uma janela é uma tática. É frustrante que toda a controvérsia entre “violência” e “não-violência” desenvolva-se, simplesmente, pela discussão de táticas, quando a maioria das pessoas nem sequer questionou-se se os nossos objetivos são compatíveis, e se nossas estratégias são complementares ou contraproducentes. Face ao genocídio, à extinção, à prisão e a um legado de milênios de dominação e degradação, será que traímos nossos aliados ou negamos a participação na luta por aspectos triviais como quebrar janelas ou usar armas? Isso ferve o sangue!
Voltando a nossa razoável e fundamentada análise do tema: não vale nada que objetivos, estratégias e táticas se relacionem em um plano comum, mas um mesmo elemento pode ser visto como um objetivo, uma estratégia ou uma tática, dependendo do escopo de observação. Há múltiplos níveis de intensidade, e a relação entre os elementos de uma cadeia particular de objetivos-estratégias-táticas está presente em cada um dos níveis. Um objetivo de curto prazo poderia ser uma tática de longo prazo. Imagine que no próximo ano queremos construir uma clínica gratuita: esse é o nosso objetivo. Decidimos por uma estratégia ilegal (baseada no pensamento de que podemos forçar os poderes locais a nos concederem uma certa autonomia, ou que podemos nos situar embaixo de seu radar e ocupar bolhas de autonomia já existentes), e as táticas que escolhemos poderiam incluir a ocupação de um prédio, a captação informal de recursos, e nos treinar para a assistência (de forma não profissional) médica. Agora imagine que, em nossas vidas, queremos derrubar o Estado. O nosso plano de ataque poderia ser a construção de um movimento popular militante que seja sustentado por instituições autônomas e que as pessoas se identificassem com ele e lutassem para se proteger da inevitável repressão governamental. Neste nível, construir clínicas gratuitas é apenas uma tática, uma de tantas ações que constroem poder pelas linhas traçadas por estratégias, e que pressupõe planejar o caminho para alcançar a meta de libertação do Estado.
Tendo já criticado a tendência pacifista de unificar a partir de uma base de táticas comuns, ao invés de unificar sobre objetivos mútuos, deixarei de lado os pacifistas liberais pró-sistema e assumirei uma tosca semelhança de objetivos entre os ativistas não-violentos e os revolucionários. Vamos fingir que todos nós desejamos a libertação completa. Isso evidencia uma diferenciação de estratégias e de táticas. Claramente, a soma total de táticas disponíveis para os ativistas não-violentos é inferior, pois apenas podem usar a metade das opções que se abrem para os ativistas revolucionários. Em termos de táticas, a não-violência não é mais do que uma severa limitação da totalidade de opções que temos. Para que a não-violência seja mais efetiva que o ativismo revolucionário, a diferença deve estar nas estratégias; numa combinação particular de táticas que alcancem uma potência incomparável, enquanto eliminam todas aquelas táticas que podem se definir como “violentas”.
Os quatro tipos mais importantes de estratégia pacifista são: o jogo moral, a abordagem de lobby, a criação de alternativas e a desobediência generalizada. As distinções são arbitrárias, e de certo modo, as estratégias pacifistas combinam elementos de dois ou mais desses tipos. Mostrarei que nenhuma dessas estratégias conferem uma vantagem aos ativistas não violentos; de fato, todas elas são fracas e míopes.
O jogo da moralidade procura criar a transformação trabalhando nas opiniões das pessoas. Como tal, essa estratégia perde completamente o objetivo. Dependendo da variação específica – educando ou ocupando uma posição de superioridade moral – as diferentes táticas revelam-se úteis, embora, como veremos, não dirigem-nos a lugar nenhum.
Uma encarnação dessa estratégia é educar as pessoas, disseminar informação e propaganda, mudar as opiniões e ganhar o apoio popular em uma campanha. Isso pode significar educar as pessoas sobre a pobreza e as influenciar para se oporem ao fechamento de um abrigo para moradores de rua, ou pode significar educar as pessoas sobre as opressões do governo e as influenciar para apoiarem a anarquia. ( É importante salientar o que se entende por “apoio” nesses dois exemplos: apoio verbal e mental. A educação pode influenciar as pessoas para que doem dinheiro ou participem de um protesto, mas raramente encorajam as pessoas a mudarem suas prioridades de vida ou para assumirem riscos substanciais). As táticas usadas por essa estratégia pedagógica poderiam incluir a organização de palestras e fóruns, a distribuição de panfletos e outros textos informativos, a utilização dos meios alternativos e corporativos de comunicação para centrar e difundir informações sobre o tema, e a realização de protestos e marchas para captar a atenção das pessoas e abrir espaços de discussão sobre o tema. A maioria de nós já está familiarizada com essas táticas, já que é uma estratégia comum para alcançar a transformação. Somos ensinados que a informação é a base da democracia, e sem uma análise do verdadeiro significado deste princípio, pensamos que isso significa que podemos criar a mudança fazendo circular ideias sustentadas por fatos. A estratégia pode ser um pouco efetiva na hora de alcançar vitórias fugazes e menores, mas ela leva para várias barreiras fatais que impedem avanços sérios na busca por objetivos de longo prazo.
A primeira barreira é um controle elitista de um sistema altamente desenvolvido de propaganda que pode diminuir qualquer outro sistema de propaganda concorrente que os ativistas não-violentos possam criar. O pacifismo não pode nem se proteger de ser cooptado e diluído – como os pacifistas esperam se expandir e recrutar novos membros? A não-violência concentra-se em mudar os corações e as mentes, mas subestima a indústria cultural e o controle de pensamento dos meios de comunicação.
A manipulação consciente e inteligente das opiniões e dos hábitos organizados das massas é um elemento importante de uma sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade formam um governo invisível, que é o verdadeiro poder dominante em nosso país [2].
O trecho acima, escrito em 1928, pertence a um importante livro de Edward Bernays: Propaganda. Bernays não foi nenhum teórico marginal da conspiração; de fato, foi muito mais uma parte desse governo invisível que ele descreve.
Os clientes de Bernays incluíam a General Motors; United Fruit; Thomas Edison; Henry Ford; os Ministérios da Saúde e do Comércio dos Estados Unidos; Samuel Goldwyn; Eleanor Roosevelt; a American Tobacco Company; e Procter & Gamble. Ele dirigiu programas de relações públicas para cada um dos presidentes dos Estados Unidos desde Calvin Coolidge, em 1925, até Dwight Eisenhower no final dos anos 50. [3]. Desde então, a indústria das relações públicas que Barneys ajudou a construir só cresceu.
Se contra a campanha de movimentos locais ou lutas mais amplas por revoluções, a máquina da propaganda pode se mobilizar para contrariar, desacreditar, faccionalizar, ou afogar qualquer ameaça ideológica. Consideramos a recente invasão do Iraque. Ela deveria ter sido um modelo para o sucesso dessa estratégia. As informações estavam lá: os fatos desmascarando as mentiras sobre as armas de destruição em massa e a conexão entre Sadam Hussein e a Al-Qaeda estavam disponíveis ao grande público meses antes do começo da invasão. As pessoas estavam lá: os protestos anteriores à invasão foram muitos, embora o envolvimento dos participantes nos protestos raramente foi além de falas e simbolismos, como já poderíamos esperar de uma estratégia pedagógica. A mídia alternativa estava lá: graças à internet as informações chegaram a um grande número de americanos. Ainda que a maior parte da opinião pública dos Estados Unidos (o que é aquilo que a estratégia pedagógica busca capturar) não se posicionou contra a guerra, até a mídia corporativa começou regularmente a liberar informações sobre a falsidade das razões para ir à guerra, e mais ainda, sobre os enormes custos da ocupação. E, na concordância plena com a sua natureza, a mídia corporativa não liberou essa informação até que certos grupos significativos da elite começaram, eles mesmos, a se opor à guerra – e não porque a guerra estava errada, ou porque tiveram sido educados e iluminados, mas porque perceberam que era contraproducente para o poder e para os interesses dos Estados Unidos [4]. Mesmos nessas circunstâncias ideais, os ativistas não-violentos não conseguiram superar a mídia corporativa usando uma estratégia educacional.
O que pode ser melhor descrito como um ambiente social chocante, a interminável repetição e o quase total controle das informações feitos pela mídia corporativa, é muito mais poderoso do que sólido, argumentos bem estudados pelos fatos. Espero que todos os pacifistas entendam que os meios de comunicação são, como poucos, agentes da autoridade, ao igual que é a polícia ou as forças militares.
Em contraposição, muitos ativistas concentram-se na mídia alternativa. Embora difundir e radicalizar a mídia alternativa seja uma importante tarefa, não pode ser a base de uma estratégia. É fácil concluir que enquanto a mídia alternativa pode ser uma ferramenta efetiva em certas circunstâncias, ela não pode ir frente e frente com a mídia corporativa, primeiramente porque existem de fato evidentes desigualdades de escala. Os meios alternativos são controlados por vários mercados coercitivos e fatores legais. Conseguir levar informação a milhões de pessoas é algo caro, e os patrocínios não existem para financiar a imprensa revolucionária em massa. O beco sem saída[5] consiste em que não haverá leitores fiéis para se inscrever e para subsidiar um verdadeiro meio de massa radical enquanto a população em geral for doutrinada para se afastar de novas fontes radicais, e sedada por uma cultura da complacência. Além das pressões do mercado existe o problema da fiscalização e intervenção governamental. As ondas aéreas são domínio do Estado, que pode, e de fato censura e mina as emissoras de rádio radicais que tentam encontrar financiamentos [6]. Os governos ao redor do mundo, (liderados é claro pelos Estados Unidos) tornaram um hábito a repressão de páginas radicais da web, ora aprisionando quem gestiona a página, acusando-o de fraude, ora embargando equipamentos e encerrando servidores sob a justificativa de estarem realizando uma investigação sobre terrorismo.[7]
A segunda barreira à maneira de educar as pessoas com fins revolucionários, é a reforçada desigualdade estrutural do acesso das pessoas à educação. A maioria das pessoas não têm a capacidade de analisar e sintetizar alguma informação que desafie mitologias inteiras nas quais estão suas identidades e visões de mundo estão baseadas. Isso, é uma verdade que trespassara as classes sociais. Pessoas que possuem famílias pobres são mais propensos a sofrerem uma “deseducação”: são mantidas em um ambiente mental que desencoraja o desenvolvimento de seus vocabulários e habilidades analíticas. A “sobre-educação” das pessoas de famílias ricas as convertem em macacos treinados; eles são intensamente treinados a usarem a análise somente para defender ou aprimorar o sistema existente, enquanto são incrédulos irremediáveis e ridículos em relação a ideais revolucionários ou sugestões que o atual sistema está podre até seu cerne.
Independentemente da classe econômica, a maioria da população dos Estados Unidos responderá à informação e à análise radical com silogismos, moralismos e polêmicas. Serão mais suscetíveis aos especialistas argumentando sabedorias convencionais com slogans familiares, do que a pessoas apresentando análises e fatos desafiadores. Por isso, os ativistas que assumem uma estratégia educativa tendem a emburrecer a mensagem de um jeito que também podem ganhar vantagens do poder dos clichês e dos lugares comuns. Os exemplos incluem ativistas anti-guerra que declaram que “a paz é patriota”, já que seria muito difícil explicar os problemas do patriotismo no atual terreno semiótico (não se preocupe em dinamitar o terreno) e estereótipos culturais tentando capturar as verdades “menos” radicais. [8]
Uma terceira barreira é a falsa convicção sobre o poder das ideias. A aproximação pedagógica parece assumir que a luta revolucionária é uma “competição” de ideias, que há algo poderoso numa ideia cujo tempo chegou. Na sua base há um jogo moral, e ignora o fato de que, especialmente nos Estado Unidos, uma grande quantidade de pessoas que estão do lado da autoridade sabem muito bem o que eles estão fazendo. Por causa da hipocrisia de nossos tempos, as pessoas que se beneficiam do patriarcado, da supremacia branca, do capitalismo ou do imperialismo (em geral toda a população do hemisfério norte) gostam de justificar sua cumplicidade com os sistemas de dominação e opressão com mentiras altruístas. Mas um interlocutor ou interlocutora esperto descobrirá que a maioria dessas pessoas, quando encurraladas, não entrarão em epifania – elas reagirão com uma básica defesa dos males que esses privilégios os dão. É típico, as pessoas brancas vão reivindicar crédito pelas maravilhas da civilização, e insistirão que sua ingenuidade as dá direito aos benefícios do legado da escravidão e do genocídio; pessoas ricas reivindicarão que possuem mais direito em possuir uma fábrica ou uma centena de hectares de fazenda do que uma pessoas pobre de ter comida ou abrigo; os homens brincarão de ser o sexo forte e de ter um direito historicamente garantido para estuprar; os cidadãos dos Estados Unidos defenderão com agressividade que o petróleo é seu por direito, as bananas, ou ao trabalho, de outras pessoas, ainda depois de não conseguirem ofuscar a natureza das relações econômicas globais. Esquecemos que para manter as estruturas de poder, um grande número de técnicos, sejam acadêmicos, assessores comerciais, ou planejadores governamentais, precisam ficar criando estratégias constantemente para continuar incrementando seu poder e efetividade. As ilusões democráticas só podem ocorrer mais profundamente, e, ao final, a pedagogia fará que apenas poucas pessoas privilegiadas realmente apóiem a revolução. De um certo modo, as pessoas privilegiadas já sabem o que eles estão fazendo e quais são os seus interesses. As contradições internas emergirão na medida em que a luta fica mais próxima de casa, desafiando os privilégios em que estão baseadas suas visões de mundo e experiências vitais, e ameaçando a possibilidade de uma revolução confortável e iluminada. As pessoas precisam mais do que uma educação para se comprometer com uma luta dolorosa e prolongada que destruirá as estruturas de poder que têm encapsulado suas identidades.
Uma pedagogia não fará, necessariamente, que as pessoas apóiem a revolução, e ainda se fizera, não construirá o poder. Ao contrário da máxima da era da informação, a informação não é poder. Lembremos que scientia est potentia (conhecimento é poder), é a bandeira daqueles que já estão com o leme do Estado. A informação em si mesma, é inerte, mas guia o uso efetivo do poder; ela tem o que os estrategistas militares chamariam de um “efeito multiplicador de força”. Se para começar tivéssemos um movimento social de força zero, podemos multiplicar essa força quantas vezes quisermos, e ainda assim continuaremos tendo um zero bem grande e gordo. Uma boa educação pode guiar os esforços de um movimento social forte, tal como guias de informação útil guiam as estratégias dos governos, mas a informação em si mesma não mudará nada. Fazer circular ociosamente informação subversiva no contexto atual serve apenas para dar ao governo oportunidades para afinar sua propaganda e suas estratégias. As pessoas que tentam educar seus caminhos para a revolução, estão jogando gasolina em um campo em chamas, e esperam que o tipo certo de combustível irá parar o fogo antes de que eles mesmos sejam queimados.
Por outro lado, a educação pode ser extremamente efetiva quando integrada com outras estratégias. De fato muitas formas de educação são necessárias para a construção de um movimento militante e para mudar os valores sociais hierárquicos que normalmente estão no caminho para um mundo livre e cooperativo. Movimentos militantes precisam conduzir muito trabalho pedagógico para explicar porque estão lutando energicamente pela revolução, e porque abandonaram as vias legais. Mas as táticas militantes abrem possibilidades para a educação que a não-violência nunca poderá tapar. Por causa desses princípios imperativos, os meios de comunicação comerciais não podem ignorar um atentado tão fácil, tal qual fazem com protestos pacíficos [9].
E ainda que a mídia vá difamar essas ações, quanto mais imagens de resistência enérgica as pessoas recebam através da mídia, mais interrompida estará a ilusão narcótica da paz social. As pessoas irão começar a perceber que o sistema é instável e que a mudança é uma realidade possível, e assim, superar o maior obstáculo criado pelos capitalistas: as democracias dirigidas pelos meios de comunicação. Os distúrbios e as insurreições são ainda mais exitosos quando criam rupturas nessa narrativa dominante da tranquilidade. É claro, é preciso muito mais que isso para educar as pessoas. Ao final, devemos destruir os meios de comunicação comerciais, e substituí-los por mídias inteiramente populares. As pessoas que usam uma diversidade de táticas podem ser muito mais efetivas nisso, usando meios inovadores para sabotar jornais comerciais e emissoras de radio e televisão; sequestrar os meios de comunicação corporativos, e lançar uma transmissão anticapitalista; defender os meios de comunicação populares e punir as agências responsáveis pela sua repressão; ou expropriar o dinheiro necessário para financiar e incrementar consideravelmente as capacidades de transmissão dos meios de comunicação populares[10].
Manter a superioridade moral, que é a variação mais notoriamente moralista desse tipo de estratégia, tem algumas fraquezas ligeiramente diferentes, mas avança para o mesmo beco sem saída. Em curto prazo, ocupar uma posição de superioridade moral pode ser efetivo, e fácil de fazer quando os teus oponentes são políticos supremacistas brancos, chauvinistas e capitalistas. Os ativistas podem utilizar as manifestações, as concentrações e as várias formas de denúncia e sacrifício próprio para evidenciar a imoralidade do governo, em particular ou em geral, e apresentarem-se como a alternativa correta. Com frequência, os ativistas anti-guerra utilizam essa abordagem.[11]
Como um tipo de estratégia para a transformação social, ocupar uma posição de superioridade moral é enfraquecido pelo problema crítico da obscuridade desses grupos, coisa que é difícil de superar pelas barreiras criadas pela mídia corporativa conforme discutimos anteriormente. E, nas democracias dirigidas pela mídia, aquelas que tornam grande parte da política numa concorrência por popularidade, as pessoas provavelmente não gostam de ver um grupo minúsculo e obscuro como ético ou como um modelo. Ainda assim, a abordagem que busca alcançar uma moral superior, contorna o desafio de educar uma população mal-educada ao apoiar-se sob valores morais pre-establecidos e reduz assim, a luta revolucionária em uma busca zelosa por alguns poucos princípios morais.
Um grupo que esteja concentrado em manter uma moral superior também atrai recrutas potenciais com uma coisa que a mídia corporativa não pode oferecer: uma clareza existencial e um sentido de pertencer a alguma coisa. Os pacifistas e os participantes das greves de fome contra a guerra, são com frequência, membros desses grupos. Ainda assim, a mídia corporativa não é a única instituição produtora de conformismo social. Igrejas, clubes privados, e tropas de escoteiros, todos também ocupam esses nichos, e, dada a ênfase que grupos moralmente mais elevados dão em render-se a seus valores e culturas, há pouco discurso crítico ou alguma avaliação das moralidades envolvidas; assim, possuir uma moralidade mais realista e justa confere pouca vantagem real. O que está em jogo é a exaltação de uma posição moral considerada superior, e essas instituições éticas dominantes são de longe mais fortes do que os grupos pacifistas em termos de acesso a recursos – em outras palavras, eles são superiores e mais visíveis para a sociedade, ganhando assim facilmente a competição por novos “recrutas”. Por causa da atomização e alienação da vida moderna, existem muitos buracos deixados vazios por essas instituições morais, e muitos suburbanos e suburbanas solitários ainda estão ávidos por um sentimento de pertença, mas o pacifistas radicais nunca irão conseguir ganhar mais do que uma minoria dessas pessoas.
Aqueles que os pacifistas conseguem convencer, estarão mais empoderados do que os membros de um movimento que simplesmente busca educar as pessoas. As pessoas percorrerão grandes distâncias para lutar por uma causa que acreditam, para defender um lider ou um ideal. Mas um movimento baseado na moral, possui mais potencial para se empoderar e se converter em algo perigoso, do que um movimento baseado na educação (isto é, se abandonar eventualmente o pacifismo). Um movimento desse tipo, desenvolverá um autoritarismo e uma ortodoxia de massa, e será particularmente propenso ao faccionalismo. Também será facilmente manipulável. Não há, talvez, melhor exemplo do que o Cristianismo, que evoluiu de um movimento de oposição para um potente arma do Império Romano, de um culto pacífico para a mais patologicamente violenta e autoritaria religião que a humanidade jamais conheceu.
Ambas variantes estratégicas que se movimentam no jogo da moral, têm como propósito induzir a maioria da sociedade a participar ou apoiar o movimento. (Podemos deixar de lado a cômica pretensão de iluminar ou envergonhar as autoridades para apoiarem a revolução). Ambas variantes enfrentam probabilidades finais na procura por essa maioria, por causa dos controles estruturais efetivos sobre a cultura nas sociedades modernas. Na improvável chance de que essas probabilidades sejam superadas, nenhuma dessas variantes seria funcionalmente capaz de ganhar mais do que uma maioria. Mesmo se a educação se converta em uma ferramenta mais efetiva com pessoas mais privilegiadas, não funcionará contra a elite e as classes mais fortes, as quais recebem fortes incentivos e estão culturalmente “blindandas” pelo sistema; e ao ocupar uma posição de superioridade moral implica necessariamente a existência de um “Outro” inferior para se opor.
Da melhor maneira possível, as estratégias desse tipo irão levar a uma opositora mas passiva maioria, a qual a história mostrou ser fácil para uma minoria armada controlar (o colonialismo, por exemplo). Tal maioria poderia sempre mudar para outro tipo de estratégia que implique lutar e ganhar. Contudo, sem contar com nenhuma experiência ou mesmo com qualquer familiaridade com uma resistência real – a transição seria muito mais difícil. Enquanto isso, o governo teria recursos para explorar os defeitos enraizados no jogo moral, e um movimento revolucionário ostentoso se veria obrigado a uma batalha temivelmente incompatível; tentando ganhar os corações e mentes sem destruir a estrutura que envenenanaram os mesmos corações e mentes.
Educar e construir um ethos, um sistema de valores libertador, é necessário para erradicar completamente as relações sociais hierárquicas, mas existem instituições concretas como as leis, as escolas públicas, os campos de treinamento militar e empresas de relações públicas, que são estruturalmente imunes a “mudanças do coração”, e que atuam diretamente na sociedade para doutrinar as pessoas nas morais que mantém as relações sociais hierárquicas e o consumo e a produção capitalista. A negação das vias não-pacifistas para o fortalecimento do movimento e para debilitar ou sabotar essas estruturas nos coloca num barco que vai afundar, com um balde pequeno para tirar a água que entra por um buraco de 5 metros, pretendendo assim que rapidamente estaremos o suficientemente na superfícia para poder navegar até o nosso objetivo. Isso parece que vai chover tortas do céu e não deveria ser qualificado enquanto “uma estratégia”. Em um campanha de curta duração para lutar contra a abertura de uma nova mina de carvão ou de uma incineradora de lixo na vizinhança, é possivel levar adiante uma estratégia que assuma as restrições pacifistas (especialmente se a campanha educativa inclui informações de como a mina pode afetar a classe privilegiada da área). Mas na busca por mudanças duradouras, as estratégias desse tipo normalmente não conseguem chegar com sucesso aos objetivos que elas inevitavelmente criam.
Revolucionários em potencial exemplificam a ineficácia da não-violência ao construir poder através desse jogo moral que recém descrevi, e também quando assumem a abordagem de lobby. Lobbies foram construídos no processo político realizado por instituições que já possuiam um poder significativo (por exemplo, as corporações). Ativistas podem construir seu poder ao promover protestos e demonstrando a existência de um eleitorado (bancados pelos lobbistas), mas esse método de canalizar o poder de lobbies é muito mais fraco, centavo por centavo, do que o frio e difícil dinheiro das corporações. Além disso, os lobbies “revolucionários” são impotentes comparados a lobbies opositores ao status quo. Funcionar como um lobby também leva a um movimento hierárquico e desempoderado. A grande maioria deles são, simplesmente, ovelhas que assinam petições, levantam fundos, ou seguram cartaz em protestos, enquanto uma minoria educada e bem vestida solicita audências com os políticos e outras elites que reúnem nas suas mãos todo o poder político real. Os lobbistas as vezes identificam-se mais com as autoridades do que com seus companheiros; com o poder judicial por exemplo, com o qual estão apaixionados, e é assim que se mantém a traição. Se os políticos caem numa falha de tipo ético, os lobbistas não se comprometem, eles simplesmente irão negar sua relação com tal lobbista em uma audiência para evitar problemas, deixando-o fora de sua organização.
Os ativistas não-violentos empregam a estratégia do lobby tentando dispor de uma realpolitik[12] passiva, cuja meta seria exercer influência. Mas a única forma de exercer influência contra o Estado e almejar interesses diametralmente opostos aos do Estado, ameaçaria a própria existência do Estado. Somente esta ameaça pode fazer com que o Estado reconsidere esses outros interesses, porque o interesse principal do Estado é a sua auto-perpetuação. Em sua interpretação histórica da Revolução Mexicana e da redistribuição das terras, John Tutino assinala: “Apenas os rebeldes mais persistentes e muitas vezes violentos, como os Zapatistas, receberam terras dos novos líderes de México, o recado era claro: Só aqueles que ameaçaram o regime tiveram terras; assim, aqueles que solicitam a terra devem ameaçar ao regime” [13]. Isto se deu na relação com um governo supostamente aliado dos revolucionários mexicanos não-urbanos. O que os pacifistas pensam que podem conseguir de um governo que desde sua constituição é manifestamente comprometido com os empreendimentos oligárquicos? Franz Fanon expressou o mesmo sentimento de maneira similar em relação à Argélia:
«Quando em 1956….A Frente de Libertação Nacional, em um famoso panfleto, afirmou que o colonialismo só perde seu domínio quando sente uma faca em seu pescoço, nenhum argelino considerou esta afirmação violenta demais. O panfleto apenas expressava o que qualquer argelino sentia em seu coração, que o colonialismo não é uma máquina pensante, tampouco um corpo com faculdades racionais. Ele é violência no seu estado natural e apenas ser rende quando se confronta com uma violência ainda maior.[14]»
As lições aprendidas na Argélia e na revolução Mexicana podem ser aplicadas ao longo da história. A luta contra a autoridade será violenta porque a autoridade por si só é violenta e a repressão inevitável é uma escalada dessa violência. Mesmo o “bom governo” não vai redistribuir o poder com os que estão abaixo dele a menos que entenda que todo seu poder está ameaçado. Praticar o lobby buscando mudanças sociais significa uma perda dos recursos escassos que possuímos nos movimentos radicais. Imagine se todos os milhões de dólares e as centenas de milhares de horas de trabalho voluntário, dos progressistas e também dos radicais, limitados ao lobby contra determinada legislação ou, para evitar a reeleição de algum político, ao invés disso, tivessem sido dedicadas para fundar centros sociais engajados, clínicas livres, grupos de suporte à detentos, escolas livres e centros comunitários de resolução de conflitos?! Deveríamos, de fato, buscar fundar um movimento revolucionário sério. Mas, ao contrário, vemos grande quantidade de esforço desperdiçada.
Além disto, os ativistas que assumem o lobby como ação, não percebem que levar demandas às autoridades é uma estratégia ruim. Os ativistas não-violentos colocam toda sua energia em obrigar as autoridades a ouvirem suas demandas, quando poderiam usar essa mesma energia para construir poder, para criar bases para fazer a guerra. Se alcançassem êxito, o que teriam alcançado? Como muito o governo sussurraria uma breve desculpa, perdendo um pouco de sua boa imagem, e confrontaria a demanda através de um papel (ainda que eles apenas se dediquem a fazer malabarismo com as coisas a sua volta com a intenção de negar a existência dos problemas) após isso, os ativistas terão perdido o momento e a iniciativa, estarão na defensiva, mudando de direção e reajustando sua campanha para enfatizar que trata-se se uma reforma fraudulenta. Entre membros de sua organização, os que se desencantam pulam fora, e o público em geral perceberá a organização como uma entidade impotente e incapaz de alcançar sua meta. (Não nos surpreende que tantas organizações ativistas que possuem o lobby como orientação, afirmem ter vitória até mesmo frente à mais vazia das metas!).
Considere por exemplo, o Vigia da Escola Das Américas (SOAW). Durante mais de doze anos, a organização utilizou de manifestações passivas anuais, documentários e campanhas de educação com o objetivo de construir um poder como lobby capaz de convencer os políticos a apoiar um programa para o encerramento da Escola das Américas (SOA), uma organização militar que treina milhares de oficiais e soldados latino-americanos que tomaram parte na maioria dos piores abusos e atrocidades cometidas contra os direitos humanos que ocorreram em seus respectivos países. Em 2001, a SOAW quase obteve apoio suficiente no congresso para aprovar um programa para isolar a SOA. Antevendo a ameaça, o Pentágono, introduziu uma singela alternativa no programa que “fechou” a Escola das Américas, ao mesmo tempo em que reabria a mesma organização com outro nome. Nos anos seguintes, o SOAW não conseguiu o apoio de uma grande quantidade de políticos que declararam que queriam esperar e comprovar se a escola “nova” apresentava alguma melhoria. Ainda assim, se o SOAW tivesse tido sucesso na hora de fechar a escola, os militares podiam simplesmente estender suas operações de treino da tortura em outras bases militares e programas disseminados por todo o país, ou transferir a maior parte do trabalho para assessores militares no estrangeiro. Se isso ocorrera, a SOAW estaria sem nenhuma estratégia viável e sem ter produzido efeito nenhum no militarismo dos Estados Unidos [15]. Alguma vez o governo dos Estado Unidos fez uma lei que fora contra os seus intereses ou tem deixado de fazer aquilo que exatamente queria fazer?
Pelo contrário, se os radicais mudam sua posição para combater diretamente o militarismo de Estados Unidos, e se puderam se constituir como uma ameaça real, mas sem nunca se aproximar de uma mesa negociadora, os temerosos oficiais do governo começariam desenhar compromissos e legislar reformas em um esforço para prevenir a revolução. A Descolonização, a legislação sobre os direitos civis e qualquer outra reforma que seja importante, tem sido ganha sempre deste modo. Rejeitando ser mitigados por este tipo de pratica como os lobbys, os revolucionarios sustentam a mais dura das reclamações que tem que ser abordadas. Ainda quando perdem, os movimentos militares tendem a provocar reformas. As Brigatte Rosse na Itália, foram, em última instância, falhas, mas geraram uma grande ameaça que provocou uma série de golpes de efeito de grande alcance, repercutindo no estado social do bem-estar, assim como medidas culturalmente progressistas (por exemplo, expanssão da educação pública e o orçamento social, descentralizando algumas funções do governo, a integração do Partido Comunista no governo, e legalizando o controle da natalidade e do aborto), tudo num esforço por drenar o apoio das bases militares através do reformismo. [16]
O planejamento de uma construção alternativa implica um importante componente de estratégia revolucionária, mas subestima a existência de uma complementariedade entre os outros componentes necessários para o sucesso. A ideia é que ao criar instituições alternativas podemos nos prover de uma sociedade autônoma e demostra assim que o capitalismo e o estado não são desejáveis.[17] Na atualidade enquanto são construidas estas alternativas, é de vital importância criar um movimento revolucionário e deixar o trabalho de base para as sociedades libertadas que virão depois da revolução; é completamente absurdo pensar que o governo permanecerá impávido enquanto nós construimos experimentos sociais que implicam sua desaparição.
Os eventos na Argentina decorrentes do colapso econômico de 2001 (por exemplo as fábricas tomadas) têm sido grandes inspirações para pessoas anti-autoritárias. Os anarquistas não-violentos (muitos deles acadêmicos) que são a favor da estratégia pacífica de criar instituições alternativas usam uma interpretação diluída dos eventos na Argentina para injetar algo de vida na suas estratégias, que de outro modo se veriam muito frouxas. Mas as fábricas ocupadas na Argentina sobreviveram por uma de duas razões: ou serem legalmente reconhecidas e inseridas novamente na economia capitalista simplesmente em forma de uma empresa participativa; ou montando barricadas naquele momento – para lutar contra a intenção de despejo policial, combatendo com paus e estilingues, assim como construindo alianças com assembléias militantes vizinhas, para que as autoridades temessem uma extenção do conflito no caso de aumentar as suas táticas repressivas. O movimento operário está na defensiva. Suas prácticas e sua teoria estão em conflito, porque em geral não estão se conduzindo rumo ao objetivo de substituir o capitalismo ao espalhar alternativas de controle por parte dos trabalhadores. A principal fraqueza do movimento radical de trabalhadores tem sido a incapacidade de de expandir o movimento através da expropriação de fábricas nas quais os chefes ainda estão no cargo.[18] Essa rota os colocaria num conflito com o Estado maior do que estão atualmente preparados para assumir. Certamente eles estão dandoum exemplo importante e inspirador, mas enquanto eles só forem capazes de tomar fábricas que já foram abandonadas, não criaram um modelo para realmente substituir o capitalismo.
Na Convergência Anarquista Norte-americana [19] de 2004, na palestra de abertura, Howard Ehrlich aconselhou aos anarquistas de hoje a agirem como se penssassem que a revolução já estivesse aqui, e a construir o mundo que gostaríamos para ver. Deixando de lado a falta de sentido deste conselho para pessoas que estão na prisão, indígenas que enfrentaram o genocídio, iraquianos que tentam sobreviver sob a ocupação, africanos que morrem de diarreia simplesmente porque têm sido privados de água limpa, e a grande maioria das pessoas do mundo, esta declaração faz eu me preguntar como Elhrich pode esquecer a longa história de repressão governamental aos espaços autônomos dos movimentos revolucionários.
Em Harrisonburg, Virginia, construimos um centro para a comunidade anarquista, aberto para os moradores de rua poderem dormir no inverno, e também distribuiamos comida e roupas fora desse espaço. No prazo de seis meses os policiais fecharam o espaço, usando uma criativa coleção de leis sobre horários e regulamentos da construção.[20] Nos anos 60, a polícia mostrou um ativo interesse em sabotar o programa do Black Panther que oferecia café da manhã grátis para as crianças.
Como exatamente se supõe que vamos construir instituições alternativas se somos impotentes na hora de protegê-las da repressão? Como vamos encontar terras onde construir estas estruturas alternativas quando tudo nesta sociedade tem um proprietário? E como podemos nos esquecer de que o capitalismo não é eterno, que alguma vez tudo foi “alternativo” e que seu paradigma desenvolveu-se e expandiu-se através precisamente da sua habilidade para conquistar e consumir essas alternativas?
Ehrlich tem razão quando diz que precisamos construir instituições alternativas hoje, mas está errado quando tira a ênfase do importante trabalho de destruir as instituições existentes e defender a nós mesmos e nossos espaços autônomos nesse processo. Mesmo quando misturada com métodos não-violentos mais agressivos, uma estratégia baseada na construção de alternativas que se constrange aos limites do pacifismo nunca será o suficientemente forte para resistir à zelosa violência que as sociedades capitalistas empregam quando consquistam e absorvem sociedades autônomas. Finalmente temos a aproximação estratégica não-violenta de desobediência generalizada. Ela tende a ser a mais permissiva das estratégias não-violentas, muitas vezes concordando com a destruição da propiedade e a resistência física simbólica, embora as “disciplinadas” campanhas não-violentas e a desobedência também se encaixem dentro desta tipologia. O filme recente A Quarta Guerra Mundial[21] situa-se na margem mais militante deste conceito de revolução, destacando as lutas de resistência – desde a Palestina até Chiapas-, enquanto oculta a existência de significativos segmentos de ditos movimentos que estão implicados na luta armada, provavelmente pensando no conforto da audiência estadounidense. As estratégias de desobediência tentam mudar o sistema atavés de greves, bloqueios, boicotes e outras formas de desobediência e rejeição. Mesmo se muitas destas táticas são extremamente úteis na hora de construir uma prática revolucionária real, a estratégia em si apresenta grandes lacunas ideológicas.
Este tipo de estratégia apenas é capaz de criar pressão e aumentar a influência; porém não pode jamais ter sucesso na hora de destruir o poder ou de entregar o controle da sociedade às pessoas. Quando uma população envolve-se na desobediência generalizada, os mais poderosos afrontam uma crise. A ilusão da democracia não está funcionando: isto é uma crise. As estradas têm sido bloqueadas, e os negócios têm sido arrastados até quebrar: isto é uma crise. Mas os poderosos ainda controlam um grande excedente, não estão em perigo de passar fome por causa de uma greve. Controlam todo o capital do país, ainda quando uma parte desse capital tenha sido inutilizado mediante os bloqueios e as ocupações. Mais importante ainda, eles têm o controle do exército e da polícia (as elites têm aprendido muito mais sobre como conservar a lealdade do exército depois da Revolução Russa, e nas últimas décadas as únicas deserções militares significativas têm ocorrido quando o exército confronta-se contra uma resistência violenta e o governo parece estar agonizando; os policiais por sua parte, sempre têm sido lacaios fiéis). Atrás das portas fechadas encontramos líderes de negócios, líderes do governo, e líderes militares. Talvez não tenham convidado certos membros vergonhosos da elite; talvez múltiplas facções estão tramando intrigas para sair desta crise se convertendo em figuras visíveis. Podem usar o exército para quebar com qualquer barricada não-violenta, retomar qualquier fábrica ocupada, e confiscar o produto do seu trabalho, se os rebeldes tentam desenvolver uma economia autônoma.
Em última instância, o poder pode prender, torturar e matar todos os organizadores; conduzir o movimento à desgraça; e restaurar a ordem nas ruas. Uma população rebelde que faz protestos ou lança pedras não pode confrontar um exército que tem carta branca para o uso de todas as armas do seu arsenal. Mas atrás das portas fechadas, os líderes dos países concordam que estes métodos não são os preferíveis, são o último recurso. Utilizá-los destruiria a ilusão da democracia por anos, afastando os investidores e causando danos à economia. Então eles ganham deixando os rebeldes declararem a vitória: sob pressão dos líderes empresariais e dos líderes militares, o presidente e uns poucos políticos escolhidos se demitirão (ou melhor ainda fugirão voando num helicóptero); a mídia corporativa chamará de revolução e começará a fazer tocar as trombetas pelas credenciais do novo presindente (que foi selecionado pelos líderes empresariais e do exército); e os ativistas do movimento popular, se se constragerem a si mesmos à não-violência ao invés de de se prepararem para a inevitável escalada de táticas, serão derrocados justo quando estiverem finalmente às portas da verdadeira revolução.
No transcurso da história, este tipo de estratégia não tem tido sucesso na hora de provocar que a classe formada pelos proprietários, gerentes e mandatários desertassem se tornassem desobedientes, porque seus interesses são fundamentalmente opostos aos interesses daqueles que participam da desobediência. O que a estratégia de desobediência tem conseguido fazer, em repetidas ocasiões, é derrubar certos regimes de governos particulares, apesar de que estes sempre são substituídos por regimes constituídos pela elite (às vezes por reformistas moderados e otras vezes pelo próprio líder do movimento opositor). Isto aconteceu na Índia na época da descolonização e na Argentina em 2001; com Marcos nas Filipinas e com Milosevic na Sérvia (este último exemplo, junto com o de outras “revoluções” similares na Geórgia, Ucrânia e o Líbano, demostram a inefitividade da desobediência geralizada para realmente distribuir poder social entre as pessoas; todos estes golpes populares foram efetivamente orquestrados e financiados pelos Estados Unidos para instalar um mercado mais amistosos e políticos pro-EUA[22]). Não é nem sequer apropriado dizer que os antigos regimes foram derrubados pela força. Frente à crescente desobediência e a ameaça de uma revolução real, eles escolhem entregar o poder a novos regimes, que confiam que irão honrar os esquemas básicos do capitalismo e do Estado. Quando eles não têm a opção de transferir o poder, tiram suas luvas e tentam embrutecer e dominar o movimento, que não pode defender a si mesmo e sobreviver sem priorizar táticas. Isso foi o que aconteceu com o movimento operário anti-autoritário dos Estados Unidos nos anos 1920.
As estratégias de desobediência generalizada tentam mudar o sistema, e inclusive nesta tentativa são menos efetivas que as estratégias militantes. No mesmo contexto que é requerido para a desobediência generalizada – um movimento de rebelião amplo e bem organizado – se não restringirmos o movimento à não-violência, mas sim apoiarmos uma diverdiade de táticas, seremos tremendamente mais efetivo. Em termos de derrubar o sistema, não pode haver comparação entre bloquear uma ponte ou uma via de trem pacificamente e fazê-los voar pelos ares. Esta última causa uma obstrução mais prolongada e duradora, é mais difícil de esclarecer, precisa de uma resposta mais dramática das autoridades, provoca mais dano à moral e à imagem pública das autoridades, e permite aos perpetradores fugir e lutar outro dia. Explodir uma via de trem (ou usar uma forma menos dramática e menos ameaçadora de sabotagem, no caso da situação social indique que assim seja mais efetivo) assustará e chateará as pessoas que se opuserem ao movimento de libertação, muito mais do que pode fazer um bloqueio. Mas também fará que o movimento seja tomado mais a sério e que seja dispensado como um simples inconveniente. É claro que aqueles que praticam uma diversidade de táticas têm a opção de fazer um bloqueio pacífico ou um ato de sabotagem, dependendo de como avaliem que será a resposta pública).
Embora a estratégia de desobediência generalizada possa ser útil para os trabalhadores, pode não ter relevância nenhuma para algumas populações já marginalizadas e consideradas sobras, como é o fato de muitas populações indígenas arrasadas pela expulsão ou o extermínio; porque sua participação não é vital para o funcionamento do Estado agressor. Os Aché, no Amazonas, não pagam imposto nenhum para o governo, e não trabalham em nenhum emprego que possam abandonar. A campanha genocida não depende de sua cooperação ou não cooperação. Aqueles a quem as autoridades gostariam de ver simplesmente abandonadas à sua sorte ou mortas, não podem ganhar nada com a desobediência.
Como temos visto, os tipos mais importantes de estratégias não-violentas terminam, a longo prazo, num insuperável beco sem saída. As estratégias de tipo moral não compreendem o jeito que o Estado mantém o controle; e assim, permanecem cegos às barreiras impostas pelos meios de comunicação e as instituições culturais, não oferecendo qualquer contrapartida à capacidade de minorias armadas controlar maiorias desarmadas. A abordagem de lobby gasta recursos tentando pressionar o governo para que atue contra seus próprios interesses. As estratégias centradas em construir alternativas ignoram a habilidade do Estado em reprimir projetos radicais e o talento do capitalismo em absorver e corromper as sociedades autônomas. As estratégias de desobediência generalizada abrem a porta para a revolução, mas negam aos movimentos populares as táticas necessárias para expropriar o controle direto da economia, redistribuir a saúde, e destruir o aparelho repressivo do Estado.
A visão de longo prazo que evidencia a ineficácia dessas estratégias não-violentas também faz com que as chances de qualquer estratégia militarizada pareçam sombrias, vendo como a maioria das comunidades anarquistas nos EUA estão provavelmente despreparadas para defenderem-se do Estado. Mas é em nossas organizações cotidianas que ativistas anti-autoritários podem superar estrategicamente a passividade e promover a militância, e assim mudar as perspectivas das lutas futuras. As estratégias não-violentas evitam esse trabalho. Elas também nos deixam em desvantagem quando interagimos com a polícia e com os meios de comunicação, dois exemplos que mereceriam maiores análises.
A não-violência acaba por jogar dois jogos, vigilância de dentro das comunidades e estratégias de controle de multidões. As táticas do pacifismo, como muitas das táticas do moderno controle policial das multidões, são desenhadas para desempoderar situações potencialmente insurrecionais. No seu recente livro, que detalha a história do desenvolvimento das modernas forças policias dos Estados Unidos, Our Enemies in Blue, Kristian Williams documenta como as crises dos anos 60 e 70 demonstraram à polícia que seus métodos de lidar com insurreições populares (tais como protestos e distúrbios urbanos) apenas encorajavam mais resistência e mais violência por parte dos resistentes.[23]. A resistência era tão empoderadora que a polícia perdeu o controle, e o governo teve que enviar o exército (corroendo ainda mais a ilusão da democracia e abrindo a possibilidade de uma rebelião real). Nos anos seguintes, a polícia desenvolveu estratégias de vigilância comunitária – para melhorar sua imagem e controlar organizações comunitárias potencialmente subversivas – e táticas de controle de multidões enfatizando a pacificação social. As descrições dessas táticas são um reflexo exato das recomendações dos pacifistas para conduzir os protestos. A polícia permite formas menores de desobediência enquanto mantém uma certa comunicação com os líderes dos protestos, os quais eles pressionam de antemão para fazer com que o protesto policie a si mesmo. Coisas como a existência dos “Oficiais da Paz”, as ligações policiais, e as permissões para marchas, são todos aspectos da estratégia policial, e que me levam a perguntar se os pacifistas chegaram a essas ideias sozinhos, como uma função da sua mentalidade implicitamente estatista, ou se eles ficaram tão entusiasmados com sua ideia de “amar o inimigo” que acabaram engolindo todas suas sugestões de como conduzir uma resistência. De qualquer modo, enquanto continuarmos tolerando o comando da não-violência nos protestos, estaremos exatamente no lugar onde a polícia quer que estejamos. Mas se nos negamos a diminuir a intensidade de nossas lutas e a cooperar com a polícia, poderemos organizar protestos perturbantes quando eles forem necessários e lutar pelos interesses de nossa comunidade ou causa, sem termos compromisso com o poder.
A não-violêcia também leva a estratégias midiáticas ruins. Os códigos de conduta não-violentos para protestos contradiz a regra número um das relações midiáticas: “manter-se sempre na mensagem”. Os ativistas não-violentos não precisam empregar códigos da não-violência para continuar se comportamdo de modo pacifista. Eles o fazem para reforçar uma conformidade ideológica e para assegurar sua liderança sobre a multidão. Também o fazem como um seguro-violência, porque se em algum “elemento incontrolável” resolve atuar violentamente durante um protesto, eles podem proteger suas organizações de serem demonizadas pelos meios de comunicação. Eles rapidamente sacam o código não-violento como prova de que não foram responsáveis pela violência surgida, e assim ajoelham-se diante da ordem reinante. Neste momento, eles já perderam a guerra midiática[24]. A troca típica entre eles é mais ou menos assim:
Jornalista: O que você tem a dizer sobre as janelas quebradas no protesto de hoje?
Ativista: A nossa organização possui uma plataforma de ação bem divulgada de comportamento não-violento. Nós condenamos as ações de extremistas que estão estragando esse protesto, especialmente em relação às pessoas de boas intenções, que estão preocupadas em salvar as florestas/parar a guerra/parar esses despejos.
Os ativistas raramente conseguem mais do que duas linhas de citação ou dez segundos de um clipe na mídia corporativa. Os ativistas não-violentos exemplificados nesse sketch gastam mal seus poucos segundos de fama ao ficar na defensiva, se justificando; fazendo da sua reivindicação algo secundário em relação às preocupações da elite (no caso a destruição da propriedade por parte dos ativistas); admitindo ainda sua debilidade, sua fraqueza e desorganização diante do público (por assumir a responsabilidade por outros manifestantes simultaneamente enquanto lamentam o fracasso em controlá-los); e, não menos importante, dividindo o movimento e traindo seus aliados publicamente. Aquela troca deveria ser assim:
Jornalista: O que você tem a dizer sobre as janelas quebradas no protesto de hoje?
Ativista: Nada comparado com a violência dos desmatamentos/das guerras/desses despejos.
Se pressionados ou questionados pelas forças judiciais, os ativistas podem insistir de que não são pessoalmente responsáveis pelo dano à propriedade e que não podem responder pelas motivações daqueles que o foram. (Mas em qualquer caso, é melhor não falar com os membros dos meios de comunicação comerciais, embora sejam seres humanos, porque raras vezes se comportam como tais. Os ativistas deveriam responder só declarações concisas que taticamente se refiram ao tema; senão, os editores terão muito prazer em procurar citações estúpidas, em censurar a informação ou de fazerem citações desafiadoras) Se os ativistas obtêm sucesso em manter o foco na questão em discussão, eles garantem que seus nomes fiquem limpos enquanto reconduzem de novo o tema para onde lhes resulta mais interessante colocar-lo (com táticas tais como escrever cartas para o editor ou protestar contra as acusações dos meios de comunicação). Mas se os ativistas estão mais preocupados em limpar seus nomes do que em aprofundar o assunto pelo qual lutam, eles já começam perdendo.
A primeira vista, uma concepção militante de revolução parece mais impraticável do que uma concepção não-violenta, mas isso acontece porque ela é realista. As pessoas devem compreender que o capitalismo, o Estado, a supremacia branca e o patriarcado, constituem, somados, uma guerra aberta contra a população mundial. Fazendo da revolução apenas uma intensificação dessa guerra. Não podemos nos libertar e criar os mundos nos quais queremos viver se pensamos na mudança social em termos de “acender uma vela na escuridão”, “ganhar as mentes e os corações”, “falar claramente com o poder”, “capturar a atenção das pessoas”, ou qualquer outro desfile passivo. Milhões de pessoas morrem a cada dia neste planeta por não terem água limpa para beber, já que os governos e as empresas que usurparam o controle dos recursos ainda não acharam um jeito de aproveitar as vidas dessas pessoas, eles as deixam morrer. Milhões de pessoas morrem a cada ano porque umas poucas empresas com seus governos aliados não querem permitir a produção de remédios genéricos contra a AIDS e outras doenças. Você acha que as instituções e elitistas que detêm o poder da vida ou da morte de milhões de pessoas se importam com nossos protestos? Eles declararam guerra contra nós, e é necessário lhes revidar o golpe. Não é por estarmos com raiva (embora tenhamos motivos suficientes para estarmos), nem por querermos vingança, e definitivamente, não é porque atuamos por impulso – senão por que pesamos a possibilidade de viver em liberdade contra a certeza da vergonha de viver sob qualquer forma de dominação a qual enfrentarmos no canto do mundo em que estivermos; é porque vemos que algumas pessoas já estão lutando, às vezes sozinhas, por sua libertação, e que elas têm o direito de fazê-lo e que devemos apoiá-las; e também porque compreendemos que as superlotadas cadeias que enterram nosso mundo foram tão bem construídas que o único modo de nos libertar é combater e destruir essas cadeias, derrotando os carcerários do jeito que for preciso.
Se dar conta de que isso tudo é uma guerra pode nos ajudar a decidir quais estratégias devemos elaborar para o caminho necessário. Principalmente para aqueles de nós moradores da América do Norte, da Europa, e de qualquer outra parte do mundo na qual exista a ilusão da democracia. O governo finge que nunca nos mataria se desafiássemos sua autoridade, mas isso é só uma ilusão. No seu discurso anual dirigido ao Congresso, no dia 3 de Dezembro de 1901, o presidente Theodore Roosevelt, falando do inimigo do dia, declarou: “Deveríamos fazer a guerra com implacável eficiência não só contra os anarquistas, senão contra todos aqueles simpatizantes ativos e passivos da anarquia”[25]. Cem anos depois, em setembro de 2001, o presidente George W. Bush anunciou: “Ou (você) está conosco, ou está com os terroristas”[26].
Além de mostrar quão pouco nossos governos têm mudado em um século, essa citação expõe uma interessante questão. É claro que podemos negar a exigência de Bush de que se não nos juntamos com Bin Laden temos que declarar lealdade à Casa Branca. Mas se insistimos na deslealdade, então, apesar de nossas filiações pessoais, é evidente que Bush nos julga como terroristas, e o Departamento de Justiça manifestou que nos perseguirá como tais (na sua campanha contra os ativistas ambientalistas radicais os etiquetou como “eco-terroristas”[27]; na espionagem da dissidência por parte da “Joint Terrorism Task Force”; e na perseguição, repressão e deportação dos imigrantes e muçulmanos, que têm sido a principal atividade nacional de “segurança” do governo após o 11 de Setembro). Poderíamos reconhecer orgulhosamente que “terrorista” tem sido durante décadas a etiqueta que o governo escolheu para as pessoas que lutam por liberdade, e certamente, essa honra nos é outorgada prematuramente, basta vermos o estado de nosso movimento. Mas a resistência pacífica nos Estado Unidos não se sente confortável no papel de combatente em busca de liberdade. Ao invés de reconhecer a guerra que já existe, acabamos indo para o lado mais “seguro” da dicotomia colocada por Bush, tanto faz se a admitimos ou não, e a não-violência tem sido a nossa desculpa.
O General Frank Kitson, um influente militar britânico, policial e teórico do controle social, cujas estratégias têm sido disseminadas e adotadas por agentes do Estado e por agências da polícia dos Estados Unidos, teoriza que os distúrbios sociais acontecem em três fases: preparação, não-violência e insurgência [28]. A polícia compreendeu isso rapidamente, e faz o possível para manter os dissidentes e as massas descontentes nas duas primeiras fases. O problema é que muitos desses dissidentes não entenderam isso. Ainda não compreenderam o que é necessário para redistribuir o poder na nossa sociedade, e se protegem, assim como seus aliados, para não percorrerem o caminho completo das fases.
É evidente que o Estado teme mais os grupos militantes que os não-violentos; para mim isso enfatiza o fato de que os grupos militantes são mais efetivos. O Estado compreende que deve reagir de jeito mais forte e enérgico para neutralizar os movimentos revolucionários militantes. Eu escutei várias vezes alguns ativistas não-violentos jogar com esses fatos para argumentar que as tentativas revolucionárias não-violentas são mais eficazes, já que as tentativas militantes serão selvagemente reprimidas (e em outros capítulos eu mostrei que esses ativistas estão mais preocupados com sua própria segurança). Isso é certo, o caminho para a revolução vislumbrado pelos ativistas militantes é muito mais difícil e perigoso do que aquele vislumbrado pelos pacifistas, mas também tem a vantagem de ser mais realista, ao contrário da fantasia pacifista. Mas esse malabarismo lógico vale a pena examinar.
Os pacifistas reivindicam que são mais efetivos porque é mais provável que sobrevivam à repressão. O raciocínio é que ativistas que atuam de forma mais contundente fornecem argumentos e a justificativa necessária para o Estado matá-los (a justificativa é uma autodefesa contra um inimigo violento), ao passo que os Estados são incapazes de usar a violência contra os pacifistas porque não existiria “nehuma justificativa”. A ingênua hipótese na qual esse raciocínio está baseado é a de que os governos são regulados pela opinião pública, e não vice-e-versa. Deixando para trás a sofisticação não-violenta, podemos facilmente estabelecer que o fator que determina a repressão governamental é uma medida popular contra a opinião pública. Esse fator é a legitimação popular, ou a falta dela, a qual o movimento de resistência desfruta – não tem nada a var com a violência ou a não-violência. Se as pessoas não veem determinado movimento de resistência como legítimo ou importante, se elas balançam suas bandeiras com todos os outros, elas irão comemorar até mesmo quando o governo realizar massacres. Mas se as pessoas simpatizam com o movimento de resistência, então, a repressão do governo fomentará ainda mais resistência. A matança de um grupo pacífico de Cheyennes e Araphao em Sant Creek apenas levou os cidadãos brancos do país aos aplausos; foi similar a resposta nacional à repressão de inofensivos “comunistas” nos anos 50. Mas em tempos de grande popularidade, as tentativas britânicas de reprimir o Exército Republicano Irlandês (IRA) apenas resultaram em maior apoio para o IRA e mais vergonha para os britânicos, tanto dentro da Irlanda como internacionalmente. Na década passada, as tentativas dos sérvios de esmagar o Exército de Libertação de Kosovo tiveram o mesmo efeito.
O governo é capaz de reprimir tanto grupos não-violentos como militantes sem provocar uma reação violenta contanto que possua controle sobre o terreno ideológico. Os grupos não-violentos podem operar com menor independência cultural e menor apoio popular porque tendem a mirar baixo e a oferecer pouca ameaça; ao contrário, um grupo militante, por sua simples existência, é um desafio direto ao monopólio estatal da força. Os grupos militantes compreendem que precisam superar o Estado, e mesmo que não ajudem a criar uma cultura de resistência ampla, permanecerão isolados. Os pacifistas, por outro lado, podem renegar o confronto com o poder do Estado e fingem estar voltados para um proceso que transformará magicamente o Estado através do “poder do amor”, ou de sua “testemunha não-violenta”, ou pela difusão de imagens comovedoras de fantoches de papelão através da midia. A prevalência ou a escassez do pacifismo é um bom barômetro para medir a fraqueza do movimento. Um apoio popular forte permite a um movimento radical sobreviver à repressão; se um movimento construiu um bom apoio popular na luta contra o Estado, estará muito mais próximo da vitória.
O Estado decide reprimir ativistas e movimentos sociais quando percebe as metas dissidentes como ameaçadoras e atingíveis.Se a meta é minar ou destruir o poder estatal, e os agentes do Estado acreditam que há chance dessa meta ser atingida, eles irão reprimir ou destruir o movimento, independente das táticas advogadas. A violência encoraja a repressão? Não necessariamente. Vamos considerar alguns estudos de caso e comparar a repressão dos Wobblies com a dos imigrantes italianos anarquistas ou dos mineiros apalachianos. Os três casos aconteceram no mesmo período, durante a Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, nos Estados Unidos.
O Industrial Workers of the World (IWW) – cujos membros são conhecido como Wobblies – foi um sindicato anarquista que buscava a abolição do trabalho assalariado. No seu auge, em 1923, o IWW teve cerca de meio milhão de membros e simpatizantes ativos. De início, o sindicato foi militante: alguns dos líderes do IWW encorajavam a sabotagem. Todavia, o sindicato nunca rejeitou plenamente a não-violência e suas táticas principais foram a educação, os protestos, os debates e a desobediência civil. A organização visível e sua estrutura centralizada tornaram-no um alvo fácil para a repressão governamental. Em resposta a pressão do Estado, a organização nem ao menos adotou uma posição de oposição à Primeira Guerra Mundial. “Por fim, a liderança dediciu explicitamente não encorajar seus membros a transgredir a lei [mediante oposição ao recrutamento]. Contudo ,a forma com a qual eles foram subsequentemente tratados pelos oficiais de estado mostrou que eles poderiam muito bem ter feito”[29]. Os Wobblies também abriram espaço para as demandas de passividade do Estado mediante a supressão de um panfleto com o discurso de Elizabeth Gurley Flynn, de 1913, no qual encorajava a sabotagem. O IWW retirou de circulação livros e panfletos similares e “renunciaram oficialmente ao uso da sabotagem por qualquer de seus membros”[30]. Com certeza, nenhuma dessas ações salvou o sindicato da repressão, porque o governo já o tinha identicado como uma ameaça a ser neutralizada. O objetivo da IWW (abolição do trabalho assalariado através da redução gradual das horas de trabalho) era uma ameaça para a ordem capitalista, e o tamanho do sindicato lhe deu o poder para fazer circular essas perigosas ideias e realizar significativas greves. Mil Wobblies, em Chicago, foram levados à julgamento em 1918, junto a ativistas do IWW de Sacramento e de Wichita; o governo acusou-lhes de incitação a violência e sindicalismo criminoso. Todos eles foram julgados culpados. Depois do aprisionamento e outros tipos de repressão (incluindo o linchamento de ativistas do IWW em algumas cidades), “a força dinâmica do sindicato tinha sido perdida, nunca recuperaram o controle do movimento sindicalista norteamericano”[31]. Os Wobblies abriram-se ao poder estatal e pacificaram-se, renunciando as práticas violentas; isso foi um passo no caminho de sua repressão. Foram presos, golpeados e linchados. O governo reprimiu-lhes por seu radicalismo e pela popularidade de suas ideias. Renunciando à violência, descartaram a possibilidade de defender sua perspectiva de mundo.
Os imigrantes anarquistas italianos que viveram em New England sobreviveram à repressão governamental no mínimo tanto quanto os Wobblies, embora estivessem em menor número e suas táticas fossem muito mais espetaculares – eles bombardearam as casas e escritórios de diversos oficiais do governo, e quase assassinaram o procurador geral dos EUA A. Mitchel Palmer[32]. Os maiores militantes dos anarquistas italianos foram os Galleanistas[33], que se lançaram à guerra de classes. Diferente dos Wobblies, eles verbal e abertamente se organizaram contra a Primeira Guerra Mundial, criando protestos, discussões e publicando alguns dos textos mais revolucionárias e anti-guerras já visto nos jornais, como no Cronaca Sovversiva (que o Departamento de Justiça declarou “O mais perigoso jornal publicado no país”[34]). De fato, muitos deles foram assassinados pela polícia em protestos anti-guerra. Os galleanistas apoiaram fortemente a organização trabalhadora das fábricas de New England, e foram apoiadores chave nas principais greves. Eles também conseguiram tempo para se organizar contra a crescente onda fascista nos EUA. Porém a maior marca que os galleanistas deixaram foi sua recusa em aceitar a repressão do governo.
Os anarquistas italianos realizaram muitos atentados em New England, em cidades como Milwaukee, Nova York, Pittsburgh, Filadelfia, Washington, e em outros lugares, em geral em resposta ao aprisionamento ou o assassinato de camaradas pelas forças do Estado. Alguns desses ataques foram campanhas coordenadas, que aconteceram em bombardeios múltiplos e simultâneos. O maior foi o atentado de 1920, em Wall Street, em resposta tramóia montada para Sacco e Vanzetti (que não estavam envolvidos no roubo pelo qual foram executados, mas que provavelmente tiveram um papel importante em alguns dos atentados dos Galleanistas). No atentado morreram 33 pessoas, causaram um prejuízo de 2 milhões de dólares, e foi destruída, entre outras coisas, a House of Morgan, o principal prédio financeiro estado unidense. A polícia federal norteamericana organizou uma investigação e perseguição massivas, mas nunca capturaram ninguém. Paul Avrich defende que o atentado foi trabalho de um só galleanista, Mario Buda, que fugiu para a Itália e continuou seu trabalho até que foi preso pelo regime de Mussolini[35].
O governo se esforçou para reprimir os anarquistas italianos, e obteve um sucesso apenas parcial. As forças governamentais, através de ações policiais e execuções judiciais, aprisionaram mais de doze ativistas. Porém, diferente dos Wobblies, os galleanistas evitaram serem presos em massa. Isso foi, em parte, graças a suas formas de organização segura, consciente e descentralizada, influenciada pelo conceito italiano de revolução militante. É importante salientar que os galleanistas estiveram especialmente em risco de repressão governamental porque, ao contrário dos Wobblies, eles podiam ser alvo da xenofobia do homem branco, anglo-saxão e protestante e ameaçados de deportação. (De fato, cerca de oitenta deles foram deportados. Ainda asim, os outros foram capazes de permanecer em atividade.[36]). A intransigente resposta dos galleanistas à repressão estatal teve, ao menos, alguns resultados relevantes para desencorajar a repressão (além de provocar, no governo e nos donos das fábricas, o medo de fazer algo contra seus trabalhadores que os levasse a unir-se aos militantes anarquistas, e somarem-se aos atentados). Através de ameaças com cartas bomba, eles fizeram com que o detetive do FBI que havia trabalhado para localizar e deter seus muitos camaradas em 1918, fugisse e deixasse o FBI inteiramente em 1919 [37]. Ao contrário disso, as únicas consequências que os agentes do governo responsáveis pela repressão dos Wobblies tiveram que enfrentar foram suas promoções a cargos superiores.
Entre 1919 e 1920, o alto escalão de caça à Ameaça Vermelha prenderam os anarquistas italianos, embora eles tenham permanecido ativos e firmes, sem serem dobrados tão rápido quanto os Wobblies. Em outubro de 1920, Cronaca Sovversiva, o jornal que serviu como um centro para muitos dos Galleanistas, foi suprimido pelas autoridades e o foco das atividades dos migrantes italianos anarquistas voltou a ser a Itália, para onde muitos deles fugiram ou foram deportados. O final de seu movimento nos Estados Unidos não foi o final total de seu movimento como um todo, e durante vários anos, esses mesmos anarquistas foram oponentes chave de Mussolini, que, assim como seus colegas americanos, os temia e priorizou sua repressão. (De fato, o novo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, supriu os fascistas com uma quantidade enorme de informações para o propósito específico de destruir os anarquistas italianos[38]). E alguns de seus exilados tomaram parte na Guerra civil espanhola em 1936. Embora o anarquismo italiano nos Estados Unidos, “nunca tenha se recuperado” após 1920, “os anarquistas jamais sumiram de cena”[39]. Com um foco internacional, organizaram uma oposição aos emergentes ditadores fascistas e comunistas (estiveram “na vanguarda da luta antifascista” nos núcleos italianos dos Estados Unidos[40]), e criaram também uma campanha de apoio a Sacco e Vanzetti em escala mundial.
Longe de serem figuras mundialmente alienantes, Sacco e Vanzetti ganharam apoio de suas comunidades – italianos e WASPs (Branco, Anglo-Saxão e Protestante) – e de algumas figuras públicas, tanto nos EUA como na Europa; isso apesar de serem encarcerados e de continuarem chamando a revolução e incitando campanhas contra as autoridades. Seus apoiadores, do lado de fora, não os decepcionaram. Desde 1926 até 1932, os anarquistas realizaram vários atentados, tendo como alvo o juiz, o governante, o executor e aqueles que haviam chamado a polícia para prender os dois – ninguém jamais foi pego. Os anarquistas italianos continuaram a agitar e difundir suas ideias – o sucessor do Cronaca Sovversiva, L´Adunata dei Refrattari, foi publicado por mais quarenta anos, até a década dos anos 60.
A Guerra de Mineiros de 1921, em West Virginia, oferece outro exemplo de respostas governamentais às táticas militantes. Quando os proprietários das minas reprimiram os esforços dos mineiros para formar sindicatos (atacando membros dos sindicatos e trazendo fura-greves) os rebeldes apalachianos responderam contundentemente. Abriram fogo contra os fura-greves e asassinaram vários capangas das empresas de carvão enviados para reprimir-lhes. Desenvolveu-se um conflito de guerrilha que logo progrediu para uma verdadeira guerra. Em diversas ocasiões, a polícia e os capangas da empresa abriram fogo contra os acampamentos dos mineiros, atacando mulheres e crianças. No massacre mais famoso, eles mataram a tiros Sid Hartfield, que, em qualidade de xerife, havia lutado contra a repressão realizada pelos capangas da empresa. Milhares de mineiros armados formaram um exército e marcharam até Logan, West Virginia, para levar até lá o xerife que tinha sido especialmente ativo na repressão dos mineiros sindicalizados. O exército estadounidense respondeu com milhares de tropas, metralhadoras e até mesmo aviões bombardeiros no que ficou conhecido como a Batalha de Blair Mountain. Depois da batalha os mineiros sindicalizados voltaram atrás. Apesar de terem participado em um dos maiores atos de motim armado do século, apenas poucos deles tiveram sentanças de prisão sérias (muitos dos rebeldes não receberam nenhum castigo). O governo diminuiu um pouco a sua repressão e permitiu a sindicalização dos mineros (seu sindicato ainda existe[41]).
Mais recentemente, os estrategistas da polícia encarregados do movimento anarquista tem notado que “A infiltração policial nas assembléias das facções mais radicais (e com frequência as mais violentas) é particularmente difícil….A própria natureza desconfiada do movimento e suas melhorias nas operações de segurança tornam difícil e demorada a infiltração” [42]. Assim, o pretexto de que os grupos não-violentos têm mais facilidade para sobreviver à repressão não se mantém. Com exceção da tendência dos pacifistas de não propor ameaças que mudem alguma coisa, parece que o oposto é que é verdade.
Considerando alguns pontos em relação a chamada resistência não-violenta à ocupação estadounidense do Iraque, uma das questões mais abordadas nos dias de hoje, o pacifismo concebe a vitória em termos de fazer diminuir ou evitar a violência, de modo que os pacifistas não podem se enfrentar diretamente com a violência. Qualquer resistência real à ocupação militar se traduziria num aumento da violência (uma vez que os ocupantes pretendam terminar com a resistência), antes da libertação e da posibilidade de uma paz real – deve-se piorar antes ficar de melhor. Se a resistência iraquiana é vencida, a situação parecerá mais pacífica, mas na realidade, a violência espetacular da guerra, terá se tornado uma violência ameaçadora, invisível e mundana, digna de uma ocupação que obteve sucesso, e os iraquianos estarão muito mais longe da libertação. Os ativistas não-violentos são propensos a mal interpretar essa paz aparente como uma vitória, assim como fizeram com a retirada do Vietnã, quando declararam vitória ao mesmo tempo em que os bombardeios se intensificaram e o regime dos Estados Unidos continuava a ocupar o Sul de Vietnã.
O que os ativistas não-violentos anti-guerra são incapazes de comprender é que a resistência mais importante, provavelmente a única resistência realmente significativa contra a ocupação do Iraque, é a resistência levada a cabo pelo próprio povo iraquiano. Em geral, os iraquianos têm escolhido a luta armada[43]. Os americanos que condenam esse movimento, enquanto não fazem nenhuma ideia de como se faz para organizar alguma coisa como a resistência iraquiana, estão só ostentando sua ignorância. Os estadounidenses que reivindicam serem anti-guerra usam a não-violência para evitar sua responsabilidade de apoiar a resistência iraquiana. Também ficam “papagaiando” a propaganda dos meios de comunicação comerciais e pensam que todos os grupos iraquianos de resistência são compostos por autoritários e fundamnetalistas patriarcais – quando é uma informação acessível, para qualquer um que tiver interesse, que dentro da resistência iraquiana existe uma grande diversidade de grupos e ideologias. A não-violência, neste caso, é um obstáculo maior do que o medo da repressão governamental na hora de construir relações de solidariedade e de converter aliados críticos para grupos de resistência mais libertadores. Condenando-lhes, assegura-se que os únicos grupos que recebem apoio externo sejam os autoritários, os fundamentalistas e os patriarcais. A abordagem do movimento anti-guerra estadounidense em relação à resistência iraquiana não merece nem sequer ser qualificado como uma péssima estratégia; revela uma total falta de estratégia, e isso é uma coisa que devemos resolver.
As estratégias da não-violência não podem derrotar o Estado; elas tendem a refletir uma falta de compreensão da verdadeira natureza do mesmo. O poder do Estado autoperpetúa-se – vencerá os movimentos de libertação com tudo aquilo que esteja a sua disposição, e se as tentativas de derrubar tal estrutura de poder sobrevivem às primeiras ondas repressivas, a elite converterá o conflito em um conflito militar, e já sabemos que as pessoas que empregam a não-violência não poderão nunca vencer um conflito militar. O pacifismo não pode defender-se a si mesmo contra esse intransigente extermínio. Tal como expliquei em um estudo sobre a revolução nas sociedades modernas:
Durante a Segunda Guerra Mundial os alemães não estavam familiarizados com a resistência passiva (quando esta aconteceu); mas hoje em dia, as forças armadas estão muito mais preparadas para fazer frente à não-violência, tanto técnica quanto psicologicamente. Os defensores da não-violência, tal como nos lembra um especialista militar britânico: “inclinam-se a omitir o fato de que seus maiores êxitos foram obtidos contra oponentes cujo código moral era fundamentalmente similar, e cuja crueldade, consequentemente, acabou por ser bastante comedida… O único rastro que pareceu deixar em Hitler, foi a de excitar seu impulso de pisotear aquilo que na sua mente figurava como uma depreciável debilidade…” Se aceitamos a premissa de que os revolucionários negros deste pais – de que vivemos em uma sociedade racista- menos crueldade não se pode esperar…
Pode ser interessante tentar descrever o curso de uma insurreição não-violenta… De fato, os experimentos de “role-playing” em “defesa civil” já foram feitos. Num experimento de 31 horas na ilha de Grindstore, na província de Notario, no Canadá, em agosto do ano 1965, 31 “defensores” tiveram que lidar com seis homens “armados”, os quais representavam os Estados Unidos, apoiados pela “ala direita do governo do Canadá, (os quais tinham) ocupado grandes áreas no coração do Canadá…” Ao final do experimento, 13 defensores estavam “mortos”; os participantes “concluíram que o experimento tinha sido uma derrota para a não-violência”.
A história da sua prática me conduz à mesma conclusão: a não-violência não pode defender-se a si mesma contra o Estado, e menos ainda pode derrotá-lo. O proclamado poder da não-violência é uma ilusão que outorga aos seus praticantes segurança e capital moral para mascarar sua incapacidade de vencer.
A Não-Violência é ilusória
Ward Churchill defendeu que o pacifismo é patológico. Eu diria que, no mínimo, o avanço da não violência como prática revolucionária depende, no contexto atual, de um grande número de ilusões. Por onde começar?
Frequentemente, depois de mostrar que as vitórias da não violência não foram realmente vitórias, exceto para o Estado, deparei-me com uma simples réplica de que porque alguma luta militante ou alguma ação violenta fracassou, a “violência” é igualmente inefetiva. Não me lembro de ter escutado alguém dizer que o uso da violência garante a vitória. Espero que todo mundo perceba a diferença entre mostrar as falhas de vitórias pacifistas e mostrar as falhas de lutas militantes que ninguém nunca alegou serem vitórias. Não é controverso afirmar que os movimentos sociais militantes têm tido sucesso em mudar a sociedade, ou mesmo se tornado a força que prevalece na sociedade. Para reafirmar esta ideia, devo dizer que acredito que o mundo todo deveria admitir que as lutas que usam uma diversidade de táticas (incluindo a luta armada) podem funcionar. A história está cheia de exemplos: as revoluções no norte e sul de América, França, Irlanda, China, Cuba, Argélia, Vietnã e assim sucessivamente. Também não é terrivelmente controversa a afirmação de que os movimentos militantes antiautoritários tiveram sucesso durante um tempo liberando zonas e criando mudanças sociais positivas nelas. Estes casos incluem as coletivizações na Guerra Civil Espanhola e na Ucrânia de Makhno, a área autônoma da província de Shinmin criada pela Federação Anarco-Comunista Coreana ou o temporário espaço para respirar ganho para Lakota por Crazy Horse e seus guerrilheiros. O que é discutível, para alguns, é se os movimentos militantes podem ou não vencer e sobreviver a longo prazo e continuarem antiautoritários. Para defender convincentemente contra essa possibilidade, os pacifistas teriam que mostrar que usar a violência contra qualquer autoridade faz com que, inevitavelmente, sejam adotadas características autoritárias. Isso é algo que os pacifistas não fizeram, e não podem fazer.
Frequentemente, os pacifistas preferem caracterizar-se como os certos ao invés de defenderem suas posições com argumentos. À maioria das pessoas que ouviram argumentos sobre a não violência ser-lhe-á familiar a ideia de que a não violência é o caminho da dedicação e disciplina, e que a violência é a “saída fácil”, uma entrega a emoções básicas[1]. É claro que isso é absurdo. A não violência é a saída fácil. As pessoas que escolhem se comprometer com a não violência estão garantindo um futuro mais confortável para si do que aquelas que escolhem se comprometer com a revolução. Um preso do movimento de libertação negra contou-me por carta que quando se juntou na luta (sendo ainda um adolescente), sabia que terminaria ou morto ou na prisão. Muitos dos seus camaradas estão mortos. Por continuar na luta atrás dos muros das prisões, ele ficou preso em solitária por mais tempo do que já vivi. Compara isso com a recente comodidade que temos visto nas comemoradas mortes de David Dellinger e Phil Berrigan. Os ativistas não violentos podem dar suas vidas por suas causas, e alguns até o fazem, mas, diferente dos ativistas militantes, não têm que encarar um ponto sem volta para uma vida confortável. Sempre podem se salvar comprometendo sua oposição total, e a maioria o faz.
À parte de refletir uma ignorância a respeito da realidade das diferentes consequências de certas ações políticas, a crença de que a luta não violenta é a saída mais fácil esta com frequência tingida de racismo. Os autores do ensaio Why Nonviolence? (Por que a não violência?), fizeram o seu melhor para que, no ensaio, evitassem menção de raça, mas na seção dedicada a perguntas e respostas, forneceram veladas respostas às críticas de que o pacifismo é racista retratando “pessoas oprimidas” (pessoas negras) como raivosas e impulsivas. “Pergunta: Pedir que as pessoas oprimidas tenham um comportamento pacífico com seus opressores é estúpido e injusto! Elas precisam colocar sua raiva pra fora!”[2]. A “resposta” que os autores deram a esta lograda crítica da não violência incluiu muitas das típicas e enganosas falácias que tenho citado: os autores dão conselhos às pessoas, que estão muito mais oprimidas que eles, para que tenham paciência e vivam sob condições as quais eles não poderão jamais compreender: dão conselhos aos negros para atuarem do jeito mais “nobre e pragmático”, evitam críticas soltando o nome de algum referente negro qualquer e concluem ameaçando, tacitamente, que o ativismo militante por parte das pessoas negras resultará em abandono e traição por parte dos poderosos “aliados” brancos. Para saber:
Em respeito à justiça, se os oprimidos pudessem fazê-la sumir, terminariam com sua opressão. Não há um caminho para a libertação que esteja livre de sofrimento. Devido ao inevitável sofrimento, é tão nobre como prático representar a disciplina e o sofrimento não violentos (como fez Martin Luther King Jr.) como imperativos. “Botar a raiva para fora”, de modo que custe aliados a um grupo, é um luxo que os movimentos sérios não podem se permitir[3].
Os pacifistas iludiram a si mesmos, relacionando o ativismo revolucionário com uma atuação impulsiva e irracional, proveniente unicamente de “raiva”. Na verdade, o ativismo revolucionário, em algumas das suas manifestações, tem um forte caráter intelectual. Depois dos distúrbios de Detroit, em 1967, uma comissão do governo achou que o típico desordeiro (além de estar orgulhoso da sua raça e ser hostil com os brancos e negros de classe média) “é substancialmente melhor informado sobre política do que os negros que não se envolveram com os distúrbios”[4]. George Jackson educou a si mesmo dentro da prisão, e, em seus escritos, enfatizou a necessidade dos militantes negros de estudar as relações históricas com seus opressores e de aprender os “princípios científicos” de guerrilhas urbana[5]. Os Panteras leram Mao, Kwame Nkrumanh e Frantz Fanon, e requeriam que novos membros educassem-se acerca de teorias políticas por trás de sua revolução[6]. Quando finalmente foi capturado e levado para um júri, o anarquista revolucionário do Nova África, Kumasi Balagoon, rejeitou a legitimidade da corte e proclamou o direito dos negros de se libertarem numa declaração com a qual os pacifistas poderiam aprender muito:
Antes de me converter num revolucionário clandestino, era um tenant organizer, e fui preso por ameaçar o superintendente de um prédio colonial de 270 hectares com um facão, que tinha fisicamente impedido a entrega de azeite a um prédio em que eu não morava, mas que ajudava. Sendo um organizador do Community Council on Housing, participei não apenas na organização de greves de pagamento do aluguel, mas também pressionando os superintendentes dos bairros baixos para fazerem reparações e manterem a calefação e água quente, matando os ratos, representando os inquilinos nos júris, impedindo despejos ilegais, confrontando os City Marshals, ajudando a converter aluguéis em obras de melhorias e propriedades coletivas formadas pelos inquilinos, e me manifestando sempre que as necessidades dos inquilinos estavam em jogo […] Logo comecei a perceber que com todos estes esforços, nós não poderíamos reduzir o problema […]
Os rituais legais não têm efeito algum em processos históricos de luta armada das nações oprimidas. A guerra continuará e se intensificará, e, quanto a mim, prefiro estar na cadeia ou morto, que fazer qualquer outra coisa que não lutar contra os opressores de minha gente. A New Afrikan Nation [Nação da Nova África], assim como a Native Americans Nation [Nação de Americanos Nativos] estão colonizadas nos presentes limites dos Estados Unidos, assim como as nações porto-riquenhas e mexicanas estão colonizadas, bem como todo o exterior dos Estados Unidos. Temos o direto de resistir, expropriar o dinheiro e as armas, matar os inimigos de nosso povo, atentar contra eles e fazer qualquer outra coisa que ajude-nos a ganhar, e ganharemos[7].
Em comparação, a análise estratégica e tática do ativismo não violento é algo mais simplista, e estranhamente vai além da regurgitação de seus mais que usados clichês e de suas lapalissadas moralistas. A quantidade de estudos e preparação que exige realizar com sucesso ações militantes, em relação à quantidade exigida para as ações não violentas, também contradiz a percepção de que o ativismo revolucionário é impulsivo.
Pessoas dispostas a reconhecer a violência da revolução – é um erro falar em escolha da violência, porque ela é inerente a toda revolução social e ao opressivo status quo que a precede, independente de usarmos ou não a violência – são mais propensas a compreender os sacrifícios envolvidos. Qualquer conhecimento sobre o que os revolucionários preparam e passam por, demonstra a cruel e ignorante alegação pacifista de que a violência revolucionária é impulsiva. Como já disse, os escritos de Frantz Fanon estavam entre os mais influentes para os revolucionários negros nos Estados Unidos, durante o movimento pela libertação negra. O último capítulo de seu livro The Wretched of the Herat lida inteiramente com “guerra colonial e desordens mentais”, com o trauma psicológico sofrido como um problema no percurso do tempo que vai desde o colonialismo até a “guerra total” declarada pela França, contra os defensores da liberdade na Argélia[8] (uma guerra, devo assinalar, que tornou-se uma parte ampla dos textos de livros usados pelos Estados Unidos nas guerras contrainsurgentes e de ocupação dos momentos presentes). As pessoas que lutam pela revolução sabem onde estão se metendo, na medida em que pode-se conhecer o alcance deste tipo de horrores. Mas os pacifistas o sabem?
Uma nova ilusão (expressada por aqueles pacifistas que querem aparentar força e militância) é que os pacifistas apenas defendem-se de forma não violenta. Isso é lixo. Sentar-se e cruzar os braços não é lutar, é uma recapitulação recalcitrante[9]. Numa situação que implique intimidação ou um aparelho de poder centralizado, lutar fisicamente desencoraja futuros ataques, porque faz aumentar os custos da opressão realizada pelo opressor. A dócil resistência não violenta apenas faz com que os ataques tenham continuidade mais facilmente. No próximo protesto, por exemplo, veja como a polícia é relutante em cercar grupos militantes como o Black Bloc e submeter-lhes em grande número à prisão[10]. Os policiais saberão que necessitam de um ou dois deles para cada um dos participantes e que alguns terminarão gravemente feridos. Os grupos pacíficos, pelo contrário, poderão ser bloqueados por um número relativamente pequeno de policiais, que poderão então irromper com tranquilidade na multidão para sua satisfação, e carregar os moles protestantes um a um.
A Palestina é outro exemplo. Não há duvida de que os palestinos são um inconveniente para o Estado de Israel, e que o Estado de Israel não se importa com o bem-estar dos palestinos. Se os palestinos não tivessem feito da ocupação israelita e cada agressão posterior algo tão custoso, toda a terra palestina estaria ocupada, exceto por umas poucas reservas de trabalhadores excedentes necessários para suprir a economia israelense, e os palestinos seriam já uma lembrança afastada na longa sucessão de povos extintos. A resistência palestina, incluindo as bombas suicidas, tem ajudado a assegurar a sobrevivência da Palestina diante de um inimigo muito mais poderoso.
A não violência se ilude e cobre suas costas com a crença de que “a sociedade sempre tem sido violenta. O que é revolucionário é a não violência”[11]. Na prática, nossa sociedade honra e celebra a dissidência pacífica respeitável que concorda com a violência do Estado. Os ativistas que gritam que nossa sociedade já está a favor da violência podem escutar o nome de Leon Czolgosz (o anarquista que assassinou o presidente Mckinley) no jornal corporativo local e saber que a audiência majoritária condenará esse personagem violento. Entretanto, o mesmo ativista referenciará pacifistas como King ou Gandhi para dar às suas crença uma aura de respeito aos olhos do público majoritário[12]. Se a sociedade já está a favor da violência em todos os níveis, e o pacifismo é suficientemente revolucionário para fundamentalmente desafiar nossa sociedade e suas ingratas opressões, por que Czolgosz ganhou o ódio da sociedade, enquanto Gandhi mereceu sua aprovação?
O pacifismo também abriga possibilidades sobre a defesa do Estado e, inconscientemente, sobre o grau de proteção que seus privilégios concedem a quem o sustenta. Outro exemplo é o dos estudantes que dirigiam a ocupação da Praça de Tiananmen no “Beijin Autônomo” pensando que seu “governo revolucionário” não abriria fogo contra eles se permanecessem numa oposição pacífica e fiel. “A quase absoluta falta de conhecimento da natureza da legitimidade do poder burocrático e o sonho de que o partido poderia negociar com eles, deixou os estudantes sem defesa em termos dos meios teóricos para descrever seu empreendimento e em relação à adoção daquela prática limitada da desobediência civil”[13]. Deste modo, quando os estudantes que estavam no controle rejeitaram pegar em armas (diferente de muitos da classe trabalhadora dos subúrbios, que estavam menos “educados”, mas eram mais inteligentes), o movimento todo estava vulnerável, e o Beijing Autônomo foi esmagado pelos ataques do Exército de Liberação do Povo. Os estudantes de Kent State sofrerem uma sorte similar, ainda quando o mesmo governo que assassinava muitos deles massacrava milhões de pessoas na Indochina sem vacilar e sem que isso tivesse consequências maiores.
Por fim, acontece que a não violência tem uma mínima profundidade intelectual. O pacifismo existe num preguiçoso, amplo, intencionado e não analítico termo – violência – compreendido em termos de precisão científica. Depois de tudo, não ser racista, nem sexista, nem homofóbico, nem autoritário, e sim ser violento, deve ser o eixo crítico das nossas ações. Por que teríamos que prometer ser antirracistas numa marcha de protesto, ou participar de um movimento que se supõe respeitoso com as mulheres, os travestis e os trans, quando podemos fazer promessas menos vinculantes, como a de ser menos violentos? A probabilidade mínima de que a maioria de simpatizantes dos códigos da não violência tenha se perguntado isso alguma vez só demonstra as limitações do pensamento pacifista. Assim, os pacifistas ignoram as verdadeiras divisões, como seria o privilégio branco, e, no lugar, fazem diferenciações sem fundamentos e potencialmente racistas/classistas/patriarcais entre a destruição de uma fechadura durante uma manifestação de modo que os manifestantes possam entrar numa base militar e fazer uma “sentada”, e quebrar uma janela sob a proteção de um distúrbio para que um habitante de um gueto possa pegar comida e dinheiro para a sua família. De modo significativo, e não de casualidade, os pacifistas não fazem uma diferenciação crítica entre a violência estrutural, institucional, e sistematicamente legal e pessoal do Estado (compreendendo o Estado num sentido amplo, que inclui suas funções econômicas e patriarcais), e a violência social individualizada de qualquer tipo de “criminal”, ou a violência social coletiva de qualquer tipo de grupo “revolucionário”, que esteja contribuindo com a destruição da grande violência do Estado. Fingir que toda violência é a mesma é conveniente demais para as pessoas privilegiadas, supostamente antiviolentas, que são beneficiadas pela violência do Estado e que têm muito a perder diante a violência da revolução.
Espiar uma base militar, pondo em jogo sua vida, e destruir mísseis, têm nos contado que é não violento, mas fazer voar a planta de Litton Systems (onde são fabricados os mísseis cruzeiro) seria violento ainda se ninguém fosse ferido. Esta diferenciação ignora dois fatos: que aquilo que é considerado ameaçador está determinado, amplamente, por preconceitos existentes contra raças e classes, e, para a maioria da população mundial norte-americana, um míssil que não funciona é muito menos ameaçador que um que funciona, não importa quantas bombas tenham tido que explodir, no hemisfério norte, para alcançar este fim. Com certeza, não há dúvida de que um atentado possa contribuir na destruição de mísseis de um jeito mais efetivo que destruí-los um a um com um martelo. O segundo argumento, como tenho assinalado, ignora a sorte das vítimas por fora das fronteiras norte-americanas. Uma bomba assegura que uma fábrica não será capaz de fabricar mísseis melhor do que faz um martelo, e os mísseis em posse dos Estados imperialistas matam muito mais pessoas que as bombas (ou martelos) que possam estar na posse dos grupos de guerrilha urbana. Mas esta consideração está tão afastada das mentes dos pacifistas como das freiras que bateram nos mísseis com martelos no exemplo que dei. Elas basearam uma boa parte de seu processo de defesa no argumento de que não causaram nenhum dano real, apenas um dano simbólico, nas instalações de mísseis onde infiltraram-se[14]. Elas podem ainda ser consideradas realmente “revolucionárias pacifistas”, depois de ter malgastado, deliberadamente, uma oportunidade para confiscar instrumentos principais de guerra?
Em uma oficina que dei sobre as falhas da não violência, conduzi um exercício que demonstrava quão vaga a ideia de violência de fato é. Pedi aos participantes, que incluía apoiadores da não violência e apoiadores da diversidade de táticas, que se levantassem e, enquanto vagarosamente lia a lista de várias ações, que andassem até um ponto se eles considerassem a ação violenta, e até outro, se considerassem a ação não violenta. As ações incluíam coisas como comprar roupas feitas em “lojas de suadouro”[15], comer carne, um lobo matar um veado, matar alguém que está prestes a detonar uma bomba em uma multidão etc. Quase nunca houve o perfeito consenso entre os participantes, e várias ações que eles consideraram violentas, também consideraram moral, enquanto alguns ainda consideraram certas atitudes não violentas imorais. A conclusão do exercício: faz mesmo sentido basear tanto nossa estratégia, nossas alianças, e nosso envolvimento no ativismo em um conceito que é tão confuso que duas pessoas não podem concordar no que significa?
Os esforços para definir realmente a violência são dirigidos para dois resultados. Se o que chamamos violência é definido como algo que provoca medo e dor, e não pode ser considerado como algo imoral porque inclui atividades naturais, como o parto ou comer outros seres vivos para sobreviver, ou se é definida como uma preocupação ética sobre os resultados, e, neste caso, a não ação ou a passividade diante de uma violência maior também deverá ser considerada como um exercício de violência[16]. Ambas definições excluem a não violência, a primeira porque a violência é inevitável e normal, e a segunda porque a não violência deve ser considerada violenta se fracassar no seu tento de terminar com o sistema de violência, e também porque todas as pessoas privilegiadas devem ser consideradas cúmplices da não violência, considerem-se ou não pacifistas. Mas os pacifistas, eles mesmos enganam-se, ao pensar que a violência está bastante definida a ponto de o seu uso implicar em certas e inevitáveis consequências psicológicas ou em um perfil psicológico concreto.
Todd Allin Mormam, no seu escrito Social Anarchism, extrai de Erich Fromm a metódica diferenciação entre “autoridade racional” e “autoridade irracional”. Mormam afirma que o “anarquismo é contra todas as formas de autoridade irracional e a favor da autoridade racional no seu lugar”[17]. A autoridade racional está baseada em um poder acima das pessoas, enquanto que a autoridade irracional é definida como uma influência voluntariamente concedida baseada na experiência e na competência. “É impossível promover a violência para movimentar uma ordem anarquista superior porque a violência reproduz, necessariamente, atitudes psicológicas que são antiéticas para os fins da revolução anarquista”. De um jeito bastante típico, argumenta que deveríamos ir até uma revolução pacífica, porque, do contrário, apenas “reproduziremos o Estado em uma forma nova”. Mas, por que é possível deixar de sermos violentos agora, antes da revolução, mas não depois dela? Por que têm nos contado que nos converteríamos em ineficazes e inevitavelmente autoritários depois de uma revolução violenta, ainda quando é evidente que é necessário, precisamente, romper com os padrões psicológicos da nossa sociedade violenta para levar adiante uma luta militante? Não sabemos como Morman pode ver as pessoas como entes absolutamente determinados no final da frase, enquanto afirma sua existência como agentes livres no início da mesma sentença. Suspeito que isso acontece pois os acadêmicos como Morman têm medo do que aconteceria no caso de uma revolução militante; assim, eles preferem reafirmar sua “autoridade racional” e fingir que estão contribuindo em um processo que de algum jeito voltará obsoleto ao Estado. Com certeza, nossa principal contribuição teórica como anarquistas é a ideia de que o Estado resulta obsoleto desde o começo, mas ainda assim abriga e atesoura poder. O silogismo de Fromm, ou ao menos a interpretação posterior de Morman, esquece a questão de que, embora a “autoridade irracional” seja irrelevante e não tenha sentido, é poderosa.
Acho que seria muito mais fácil terminar com os padrões psicológicos da violência e da dominação, depois de ter destruído as instituições sociais, instituições e organismos políticos e estruturas econômicas especificamente constituídas para perpetuar a dominação coerciva. Mas os partidários da não violência, audaciosamente, estão clamando por uma prorrogação, quando declaram que devemos tratar os sintomas antes, enquanto a doença é livre para se estender, se defender e ganhar adeptos. Morman diz: “a violência apenas é capaz de atacar as manifestações físicas das relações sociais que perpetuam o Estado. Alguém não pode matar estas relações através de agressões físicas”[18]. Deixando de lado o fato que este ponto de vista é flagrantemente falso em relação às culturas indígenas que lutam contra estrangeiros invasores e imperialistas (neste caso, matar ou expulsar o colonizador é, de fato, matar o colonialismo, se isto fosse possível antes da ocidentalização), vamos aceitar a visão eurocêntrica de Morman e seu foco nas sociedades nas quais opressor e oprimido pertencem à mesma nação ou cultura. Ele estabeleceu justamente que a violência pode destruir as manifestações físicas, mas não as psicológicas da opressão. Qualquer pessoa razoável sabe que uma luta revolucionária contém atividades destrutivas e também criativas; a violência contra os opressores e sua maquinaria vive junto a um cuidado e uma preocupação clara com a comunidade. Morman e os milhares de pacifistas que pensam como ele, em vez de perceber isso, continuam declarando que deveríamos nos focar na libertação psicológica, enquanto evitamos a luta física. De repente, pensam que as relações sociais de opressão são independentes em sua estrutura e que são elas que criam as estruturas físicas de opressão, mas isso seria absolutamente absurdo. As relações sociais e as estruturas físicas não podem ser separadas completamente (na verdade, um pouco como na filosofia, estes termos são apenas recursos de análise que tornam mais fácil falar dos diferentes aspectos de um mesmo fenômeno), e elas claramente evoluem em conjunto. As estruturas físicas e as relações sociais estão em uma relação de mútua dependência e são retroalimentadas.
Morman se apega à ideia totalitária de revolução. “O revolucionário é promover um conjunto de novas relações sociais e destruir as antigas, não pelo ensino, por exemplo, ou através de um argumento bem fundamentado, mas pelo poder, pelo medo e pela intimidação: os apoios da autoridade irracional”[19]. Este argumento sugere que a revolução não pacifista deve ser contra as pessoas que estão desviadas filosoficamente ou são politicamente incorretas – as pessoas que acreditam nas coisas erradas (assim é como um partido político vê a revolução). Mas existe mais de um caminho para a luta pela libertação. Pode ser cultural, para lutar pela expulsão de um estrangeiro colonizador e os partidos políticos burgueses que têm adotado as características desse colonizador (assim como escreve Fanon); ou pode ser estrutural, para a destruição de estruturas do poder centralizado e instituições hierárquicas sem ter, na realidade, alguém como objetivo, além daqueles que escolhem lutar do lado do poder. Depois de uma revolução que destrua todas as estruturas do capitalismo – se apoderando de todas as fábricas, redistribuindo as terras, queimando o dinheiro todo –, a pessoa que filosoficamente é capitalista deve ser perseguida e intimidada através da “autoridade irracional”. Não tendo um aparelho militar para implementar o capitalismo ou um aparelho policial que o proteja, eles – como pessoas – ficam bastante indefensos, e, ou aprendem a fazer algo criativo com as suas vidas, ou morrerão de fome sem terem compreendido que já não podem pagar a alguém para que se faça de seus escravos. A típica construção pacifista-anarquista de Morman evidencia uma visão política eurocêntrica da revolução, em que um partido político se pendura no poder e reforça sua visão de liberdade para todo o resto da sociedade através de um aparelho centralizado. De fato, é a própria sociedade – assim como funciona hoje em dia, como uma união artificial de pessoas sem interesse algum por trabalhar conjuntamente, que não seja de forma forçada – que deve ser destruída. Um movimento revolucionário militante pode destruir o centro de gravidade de um governo que mantém políticas de massas unitárias em um só Estado-nação. Depois deste ponto, já não precisaremos de alguma ideologia racional e bem racionada para unir alguém, porque as sociedades serão divididas em unidades orgânicas menores. Os revolucionários não terão que usar a violência para convencer ao mundo todo que se comporte de um determinado jeito, porque não haverá, no país todo, necessidade alguma de se submeter.
O raciocínio de Morman se baseia também nas ideias da cultura ocidental, que não conseguem apreciar razão alguma para a violência que não seja a serviço da dominação. Estas ideias têm muito a ver com o totalitarismo inerente à cultura ocidental (coisa que é evidente também nas inclinações estadistas do pacifismo, privilegiando a violência do Estado, enquanto, ativamente, submete-se ao ostracismo a violência da rebelião). A ideia de que o uso da violência “constitui automaticamente uma autoridade irracional”, não tem sentido a partir da perspectiva dos valores culturais que não pintam necessariamente a violência como uma ferramenta a serviço da dominação. Segundo o Mande, Mangala, o criador, matou Farrow como um sacrifício para salvar o futuro da criação. Pelo contrário, na mitologia grega, Cronos tentou matar seu filho, e, mais tarde, Zeus devorou sua amante, Metis, para manter ambos em seu poder. Esta dinâmica é um padrão que atravessa as mitologias do Ocidente. O uso da violência é calculado para ganhar poder e controle imposto, ou exaltado, que, no caso, a motivação está sempre muito perto dos ciúmes nascidos do desejo de possuir outro ser vivo. Esses padrões não são universais para todas as culturas.
Também não são universais em todas as situações. A violência coletiva e coordenada para estabelecer e reforçar um conjunto de novas relações sociais que devem ser preservadas através da violência, ou uma revolução feita através da tomada de posse das instituições centralizadas, constitui a criação ou preservação de uma autoridade coercitiva. Mas estas não são as duas únicas opções para a mudança social. Já vimos como Frantz Fanon descreve a violência como uma “força de limpeza” quando é usada pelas pessoas que sofrem a desumanização produzida pela colonização para libertar-se. (E as dinâmicas do colonialismo aplicam-se hoje em dia aos povos indígenas, para colonizar-lhes completamente, desde o Havaí até Samoa, e para ocupar zonas que vão desde o Kurdistão até o Iraque, enquanto dinâmicas similares são aplicadas nas populações das neocolônias da África, Ásia e América Latina, e para as “colônias internas” que descendem das populações escravas dos Estados Unidos. Resumindo, estas dinâmicas ainda são aplicadas a centenas de milhares de pessoas e não estão, em absoluto, obsoletas.) Fanon ajudou ao FLN (Frente de Libertação Nacional) na Argélia e trabalhou num hospital psiquiátrico, especializado na psicologia dos colonizadores e nos efeitos psicológicos das suas lutas pela libertação. Em outras palavras, ele está, de algum jeito, melhor posicionado que Erich Fromm para avaliar a psicologia da violência na busca da libertação a partir da perspectiva da maioria dos povos do mundo – não apenas desde a experiência de um partido político educado na procura ou no desejo de refazer o mundo na sua imagem, mas desde a experiência das pessoas subjugadas por um sistema que é tão violento que não pode contra-atacar nem deslocar esta violência sociopática contra outro objetivo. Falando sobre a colonização e a resistência a esta, Fanom escreve, “é sabido por todos que a maioria das agitações sociais diminui a frequência da delinquência e das desordens mentais”[20]
Para acrescentar no que já está se convertendo numa longa lista de enganos, devo dizer que a não violência engana-nos ao repetir que os meios determinarão os fins. Embora nunca antes tenha acontecido uma transformação nas condições finais, foram fundamentalmente diferentes dos meios pelos quais foram produzidas. Depois da guerra de Red Colud, em 1886, por exemplo, os Lakota não caíram numa orgia de violência porque cometeram transgressões morais e psicológicas quando mataram soldados brancos. Pelo contrário, desfrutaram de quase uma década de paz relativa e de autonomia, até que Custer invadiu os Black Hills para procurar ouro[21]. Mas ao invés de ajustar os meios (nossas táticas) à situação a qual enfrentamos, imaginamos que temos que realizar as nossas decisões baseando-nos em condições que nem sequer estão presentes, atuando como se a revolução já tivesse acontecido e como se já vivêssemos em um mundo melhor[22]. Esta negação sistemática das estratégias esquece que nem sequer os louvados títeres da não violência, Gandhi e King, acreditavam que o pacifismo era uma panaceia universalmente aplicável. Martin Luther King Jr. concordava com a ideia de que aqueles que fazem impossível a revolução pacífica, apenas fazem inevitável a revolução violenta[23]. Devido à crescente consolidação da mídia (presumida ferramenta dos ativistas não violentos[24]), e à crescente repressão dos poderes do governo, podemos realmente acreditar que um movimento pacifista poderá realmente superar o governo na hora de comprometer seus interesses?
Para terminar com a lista de enganos comuns, a mais frequente das pretensões é que a violência aliena as pessoas. Isso é abertamente falso. Os videogames violentos e os filmes violentos são os mais populares. Mesmo guerras descaradamente falsas ganham o apoio de pelo menos metade da população, com frequência com o comentário que o exército americano é humano demais e contido com seus inimigos. Por outro lado, as vigílias pacifistas, com sua profissão de velinhas, são alienadas para a maioria das pessoas que não participam, e também para as que o fazem. Votar é alienador para milhões de pessoas que sabem fazer algo mais que participar, e também para as pessoas que participam por falta de melhores opções. Mostrar um suposto “amor” pelo “inimigo” é alienador para as pessoas que sabem que o amor é algo mais profundo, mais íntimo que um superficial rosto sorrindo e que é fornecido para seis bilhões de estranhos simultaneamente[25]. O pacifismo é também alienador para milhões de americanos de classe baixa que fazem um brinde em silêncio cada vez que um policial ou um agente federal é assassinado[26]. A verdadeira pergunta é: quem está alienado pela violência, e por qual tipo de violência? Um anarquista escreveu a respeito:
Ainda se estiverem, quem se importa se as classes médias e altas estão alienadas pela violência? Já tiveram sua revolução violenta e estão vivendo nela justo agora. Além disso, a ideia de que as classes médias e altas estão alienadas pela violência é completamente falsa […] Apoiam a violência, sempre, seja para quebrar greves, em brutalidade policial, nas prisões, nas guerras, nas condenações ou na pena de morte. A quem eles realmente se opõem é à violência dirigida a expulsá-los [do poder] e [eliminar] seus privilégios[27].
A perigosa violência que submete as pessoas a riscos não necessários, sem nem sequer se esforçar em ser efetiva ou um sucesso, será mais capacitada para alienar as pessoas – especialmente aqueles que ainda têm que sobreviver sob violência da opressão. Ainda assim, lutar por sobreviver e pela liberdade, com frequência, ganha simpatias. Recentemente, fui afortunado suficientemente por manter correspondência com um preso do Black Liberation Army, Joseph Bowen, que foi condenado depois que um policial tentou assassiná-lo. “Joe-Joe” ganhou o respeito dos outros presos após ele e outro preso assassinarem o diretor e o subdiretor e machucarem o chefe dos guardas na prisão de Holmesburg na Filadélfia em 1973, em resposta a uma intensa repressão e a perseguição religiosa. Em 1981, quando uma tentativa de fuga massiva, que ele ajudou a organizar na prisão de Graterford, foi frustrada e transformou-se em uma situação com reféns, boa parte da atenção da mídia centrou-se nas horríveis condições das prisões da Pensilvânia. Durante os cinco dias em que a situação foi mantida, dezenas de artigos saíram no Philadelfia Inquirite e a imprensa internacional colocou mais fogo nas motivações dos presos e sublinhou o fato de que estas pessoas, que não tinham nada a perder, continuariam lutando contra a repressão e as más condições. Alguns artigos dos meios de comunicação comerciais mostraram-se até simpáticos com Joe-Joe[28], e, no final, o governo cedeu em transferir uma dezena de rebeldes para outra prisão; ao invés de crivar-lhes de balas, preferiram a tática. Na verdade, depois do cerco, Bowem incomodou tanto certas esferas do poder político, que conseguiu com que os políticos estivessem na defensiva, ao ponto de convocarem uma pesquisa sobre as condições da prisão de Graterford. Neste e em muitos outros exemplos, incluindo os Zapatistas, em 1994, e os mineiros Apalaches, em 1921, vemos que as pessoas humanizam-se, precisamente, quando as armas são tomadas para lutar contra a opressão.
Desde que saiu a primeira edição deste livro[29], aproximaram-se muitas pessoas que não eram ativistas para me contar o muito que tinham apreciado os sentimentos que os tinha acordado. Enquanto os ativistas afirmariam que essas pessoas permanecem apáticas frente aos movimentos sociais normais, porque nunca participam em nenhum deles, contaram para mim, uma e outra vez, como desejavam se envolver, mas não sabiam como fazê-lo, porque os únicos esforços de organização que têm visto tem sido protestos pacifistas, mas que não se sentiam inclusos, e que, obviamente, não realizariam coisa alguma. Um homem da classe trabalhadora contou-me como, sob a invasão estadunidense do Iraque, subiu em seu carro e dirigiu durante duas horas até Washington D.C. para formar parte do protesto, sabendo que ninguém o incluiria. Quando chegou e viu que a multidão pacífica era dirigida como um rebanho pela polícia, deu a volta e retornou para casa.
O frequente papel dos ativistas não violentos de controlar e sabotar os movimentos sociais revolucionários, assim como os seus fracassos na hora de proteger os ativistas revolucionários da repressão do Estado e suas “ênfases” nas vitórias de seu movimento sugerem um motivo subsequente para o ativismo não violento. Parece-me que o motivo mais comum é para os pacifistas se aproveitarem da sua suposta superioridade moral e se aliviarem da substancial culpa que sofrem ao reconhecerem muitos dos sistemas de opressão que ocupam. Ward Churchill sugere que os pacifistas brancos buscam se proteger da repressão, consagrando seu ativismo em posturas e formulações da organização social de um mundo pós-revolucionário, enquanto as pessoas negras do mundo todo sofrem todas as fatalidades lutando por esse mesmo mundo[30]. Isso está muito distante de se corresponder com o papel solidário que os pacifistas brancos acreditam estar cumprindo.
O ativismo não violento, que tem como objetivo a Escola das Américas (School of the Americas, SOA), é um bom exemplo. Organizar-se contra a SOA inclui uma das campanhas mais longas de desobediência civil acontecidas na recente história, por ter atraído a maior participação e apoio de líderes pacifistas. Durante minha implicação com o ativismo anti-SOA, concebi a desobediência civil e sentença prisional como um meio de demostrar a absurda e autoritária natureza do processo democrático, e para fomentar a escalada até um verdadeiro movimento revolucionário, que tivesse como objetivo os aspetos todos, do capitalismo e imperialismo, e não apenas a SOA. Que ridícula seria a campanha pelo fechamento de só uma escola militar, quando muitas outras instituições, incluindo a estrutura toda do Estado, trabalham com os mesmos fins? Mas, antes de finalizar a minha sentença prisional, percebi que para a grande maioria do “movimento” anti-SOA, a desobediência civil era um fim em si mesmo, usado para ganhar influência como lobby no Congresso e para recrutar novos participantes, e para aliviar a culpa proveniente de sua posição privilegiada e alcançar o dever moral que lhes permita tomar a palavra para palestrar aos demais. Permitiu-lhes que, por terem conseguido uma condenação leve de seis meses ou menos, se autoproclamassem “testemunhas vivas” e “se levantassem em solidariedade com os oprimidos” da América Latina[31].
Por toda a sua safadeza, a não violência é decrépita. A teoria não violenta é resumida em um amplo número de manipulações, falsificações e enganos. A prática não violenta é ineficaz e não deve ser considerada. Em um sentido revolucionário, a não violência não só não tem funcionado, assim como nunca existiu. Dirigir um carro, comer carne, comer tofu, pagar o aluguel, pagar os impostos, ser amável com um policial – todas estas atividades são violentas[32]. O sistema global e todos os que estamos nele somos absorvidos pela violência; é reforçada, coagida e involuntária. Para aqueles que sofrem a violência do colonialismo, da ocupação militar ou da opressão racial, a não violência não é sempre uma opção – as pessoas devem também se defender da violência de seus opressores, ou deslocar essa violência até uma violência antissocial de uns contra os outros. Frantz Fanon escreveu:
Aqui, no nível das organizações comunitárias, discernimos claramente os bem conhecidos padrões de caráter da evasão. É como se o fato de mergulhar num banho de sangue com seus irmãos, permitira-lhes ignorar o obstáculo, e adiar a decisão, inevitável de modo qualquer, que abre a questão sobre a resistência armada contra o colonialismo. Portanto, autodestruição coletiva, de uma forma concreta, é um dos caminhos através do qual a tensão dos nativos é libertada.[33].
A paz não será uma opção até que a violência centralizada e organizada que é o Estado seja destruída. Uma exclusiva dependência na hora de construir alternativas – para nos manter, fazer com que o Estado fique obsoleto, e trabalhar o tema da violência para prevenir uma possível autodestruição -, também não é uma opção, porque o Estado pode esmagar toda alternativa que não possa se defender ela mesma. Se nos é permitido viver a mudança que desejamos ver no mundo, não é necessário tanto para a revolução. As nossas opções têm sido violentamente reduzidas nas seguintes: apoiar ativamente a violência do sistema; apoiar taticamente rejeitando desafiá-la; apoiar qualquer das enérgicas tentativas de destruir o sistema baseado nessa violência; ou perseguir novas e originais formas de lidar e destruir esse sistema. Os ativistas privilegiados devem compreender aquilo que o resto do mundo já sabe faz tempo: estamos em meio a uma guerra, e a neutralidade não é possível[34]. Não há nada neste mundo que possa merecer o nome de “paz”. É mais uma questão que se reduz a de quem é a violência que nos assusta mais, e do lado de quem vamos resistir.
A Alternativa: Possibilidades para o Ativismo Revolucionário
Apresentei diversos argumentos enérgicos, inclusive ácidos, contra o ativismo não violento, e não os tive diluído. Meu objetivo tem sido enfatizar as críticas que há muito têm sido silenciadas, com a meta de defenestrar o domínio completo que o pacifismo tem sobre o discurso do movimento – um domínio completo exercido como monopólio sobre a moralidade impositiva e as análises estratégicas e táticas em muitos círculos, até o ponto de excluir inclusive o reconhecimento de que existe uma alternativa fatual – os supostos revolucionários devem se dar conta de que o pacifismo é tão contraproducente que a alternativa se faz imperiosa. Somente depois disso, poderemos galgar os diferentes caminhos de luta com honestidade (e, espero, de uma maneira plural e descentralizada também). Longe de tratar de reforçar uma linha de partido ou um único programa revolucionário válido.
Meu argumento não é que todos os pacifistas sejam uns apologistas do Estado e uns traidores sem nenhum mérito que os salve e sem um lugar em um movimento revolucionário. Muitos pacifistas são supostos revolucionários bem intencionados que, simplesmente, têm sido incapazes de deixar para trás seu condicionamento cultural, que lhes programa, instintivamente, para reagir aos ataques do Estado endeusado, como se se tratasse da maior traição e crime. Vários pacifistas têm demonstrado sustentar um compromisso com a revolução, e corrido tais riscos e sacrifícios que estão acima das críticas convencionais que os pacifistas merecem, e isto inclusive apresenta um desafio para o funcionamento do status quo, particularmente, quando sua moral não lhes impede de trabalhar solidariamente com revolucionários não pacifistas[1]. A questão é que o pacifismo como ideologia, quando tem umas pretensões que estão além de uma prática pessoal, serve, incorrigivelmente, aos interesses do Estado e está, irremediavelmente, psicologicamente inserido no esquema de controle do patriarcado e da supremacia branca.
Agora que demonstrei a necessidade de substituir a prática revolucionária não violenta, quero elaborar o que poderíamos colocar em seu lugar, já que várias das formas não pacifistas de luta revolucionária contêm também suas próprias falhas. Nos debates, os pacifistas comumente generalizam algumas das falhas observadas em algumas revoluções históricas, estendendo-as a toda estratégia, esquivando-se de uma análise detalhada e silenciando muitos outros casos. Mas, ao invés de dizer, por exemplo “vê: a violenta revolução russa foi liderada por outro governo violento e autoritário, portanto, a violência é ineficaz”[2], nos ajudaria mais assinalar que o que todos os leninistas queriam era um estado capitalista autoritário pintado de vermelho encabeçado por eles, e que, em seus próprios termos, alcançaram bastante êxito[3]. Também poderíamos mencionar os anarquistas revolucionários do sul da Ucrânia, que rechaçaram de forma contundente o poder e, durante anos, libertaram grandes áreas das mãos dos alemães, dos nacionalistas antissemitas, dos Brancos e dos Vermelhos (mas não impuseram sua vontade sobre aqueles aos quais libertavam, mas sim lhes animavam a se auto-organizarem[4].
Além de deixar de lado as lamentações pacifistas, as análises dramáticas, lhes faria bem sujar suas mãos nos detalhes históricos e analisar os graus de violência, talvez ensinando que, em termos de depravação estrutural e repressão estatal, a Cuba de Castro, produto de uma revolução violenta, é indiscutivelmente menos violenta que a Cuba de Batista. Seja como for, já existem suficientes apologistas de Castro para que eu esteja disposto a gastar minhas energias com este assunto. O elemento comum de todas estas revoluções autoritárias é sua forma hierárquica de organização. O autoritarismo da União Soviética ou da República Popular da China não foi uma prorrogação mística da violência que empregaram, mas uma função direta das hierarquias com as quais estiveram sempre casados. É vago, sem sentido, e, em última instância, falso, dizer que a violência sempre produz certos padrões psicológicos e sociais de relação. A hierarquia, seja como for, é inseparável dos padrões sociais e psicológicos das relações de dominação. De fato, a maior parte da violência na sociedade é, indiscutivelmente, uma das consequências das hierarquias coercitivas.
Em outras palavras, o conceito de hierarquia tem muito da precisão analítica e moral de que o conceito de violência carece. Portanto, para um verdadeiro êxito, toda luta pela libertação deve utilizar qualquer meio necessário que seja consequente com a construção de um mundo livre de hierarquias coercitivas. Este antiautoritarismo se deve refletir tanto na organização, como no sistema de valores do movimento de libertação. Em um nível organizacional, o poder deve ser descentralizado (isto significa não ter partidos políticos ou instituições burocráticas; o poder deve estar localizado nas bases, tanto quanto for possível), em individualidades e em grupos de trabalho dentro da comunidade. Porque as bases e os grupos comunitários têm sido reduzidos pelas condições da vida real e estão em constante contato com a gente de fora do movimento, já que a ideologia tende a fluir de forma ascendente, se concentrando em “comitês nacionais” e outros níveis centralizados de organização (que conduz juntamente com as pessoas que compartilham da mesma opinião um embolo de abstração, aleijando-a do contato com a maioria das demais realidades cotidianas). Algumas coisas têm mais potencial para fomentar o autoritarismo do que uma ideologia poderosa. Portanto, deve permanecer nas bases quanto mais autonomia e poder de decisão quanto for possível. Quando os grupos locais precisarem federar-se ou se coordenar em uma área geográfica mais ampla (e a dificuldade de sua luta demandar coordenação, disciplina, armazenamento de recursos, e estratégias comuns), é necessário que cada organização assegure que os grupos locais não percam sua autonomia e que qualquer nível maior de organização que se vá criar (como comitês regionais ou nacionais de uma federação) seja débil, temporal, realocado frequentemente, facilmente eliminável como estrutura, e sempre dependente da ratificação pelos grupos locais. De outro modo, aqueles que ocupam os níveis mais altos da organização poderiam desenvolver um esquema mental de tipo burocrático, e a organização poderia então desenvolver interesses próprios, separados dos da comunidade, que de pronto vão divergir dos interesses de todo o movimento.
Além disso, nenhuma organização deveria monopolizar o movimento. As organizações não deveriam ser impérios: deveriam ser ferramentas temporárias que se sobrepõem, proliferam e se extinguem quando já não são necessárias. Um movimento será sadio e difícil de cooptar se existir uma diversidade de grupos ocupando diferentes nichos e perseguindo propósitos similares[5]; e estes grupos serão menos propensos a imobilizarem-se se as pessoas do movimento tenderem a pertencer a múltiplos grupos, longe de outorgar sua lealdade a apenas um. A cultura ou o sistema de valores do movimento de libertação também é vital. As estruturas não coercitivas são facilmente subvertidas se a cultura e os desejos das pessoas, operando nas ditas estruturas, os dirigem para outras finalidades. Para os iniciantes, uma cultura de libertação deve favorecer a pluralidade, ao invés do monopólio. Em termos de luta, isto significa que devemos abandonar a ideia de que só existe um caminho correto, ou que deveríamos nos filiar à mesma plataforma ou nos unir à mesma organização. Por outro lado, a luta se beneficiará de uma pluralidade de estratégias de ataque ao Estado a partir de diferentes ângulos. Isto não significa que cada qual deva trabalhar sozinho ou não entender-se com os demais. Necessitamos coordenarmo-nos e unificarmo-nos o máximo possível para aumentar nossa força coletiva, mas também deveríamos reconsiderar quanta uniformidade é possível de fato. É impossível colocar todo mundo de acordo com a premissa de que uma estratégia de luta é a melhor; e, de fato, esta premissa disjuntiva é, provavelmente, errônea. Depois de tudo, as pessoas possuem distintas habilidades e experiências e encaram diferentes aspectos da opressão: neste contexto apenas faz sentido que devam existir diferentes caminhos de luta pelos quais avançar, simultaneamente, até a libertação. Os monoteísmos autoritários inerentes à civilização ocidental nos conduziriam a uma visão destes outros caminhos como rodeios pouco inteligentes, como uma competição; queremos ao menos reprimir estas outras tendências do movimento. O antiautoritarismo requer o abandono de certos esquemas mentais, reconhecer a inevitabilidade das diferenças, e pensar nas pessoas que diferem de nós nos termos de aliados. Depois de tudo, não estamos tratando de impor a todo o mundo uma nova e utópica sociedade que virá depois da revolução; o objetivo é destruir as estruturas de poder centralizadas de modo que cada comunidade tenha a autonomia para se auto-organizar de modo que todos seus membros decidam, coletivamente, se capacitem para conhecer suas necessidades, e também se unam a associações de ajuda-mútua com as comunidades que existem ao seu redor[6]. Todo mundo tem um potencial inato para a liberdade e a auto-organização; para tanto, se nos identificamos como anarquistas, nosso trabalho não consiste em converter a todos os demais ao anarquismo, mas sim usar nossas perspectivas e experiências coletivas para estar de salvaguarda frente aos esforços de cooptação da esquerda institucional e prover modelos para as relações sociais autônomas e para a auto-organização nas culturas, aí onde normalmente não existem.
Também há a questão da liderança em uma luta antiautoritária. A ideia tradicional de liderança, concebida como uma função coercitiva ou institucionalizada simplesmente para ter poder sobre as pessoas, é hierárquica e inibe o crescimento dessas mesmas pessoas. Mas é também verdade que as pessoas não são iguais em termos de habilidades, que esta revolução requer uma quantidade tremenda de perícia e que pode haver pessoas que ocuparão voluntariamente um lugar que demande mais habilidade que os demais, numa posição de liderança não coercitiva e temporal. A implementação de um sistema de valores antiautoritário em oposição à liderança se dá porque o poder deve ser constantemente redistribuído para fora. É responsabilidade das pessoas que se encontram em posições de liderança emprestar seus talentos ao movimento enquanto disseminam sua liderança ao seu redor, ensinando às outras, ao invés de agarrar-se às suas habilidades como uma forma de poder.
Além disso, um sistema de valores antiautoritário favorece que se lute contra a opressão, é oposto à humilhação daqueles que foram vencidos; ele favorece a reconciliação ao invés do castigo.
Com essas estruturas e essa cultura, um movimento de libertação tem, certamente, maiores oportunidades de alcançar o êxito sem criar um novo sistema autoritário. Haverá sempre uma tensão entre sermos efetivos e estarmos libertados, e a complexidade da luta está cheia de nuances, é preciso cultivar uma prática antiautoritária como uma batalha constante entre dois requisitos (eficiência e liberdade) que estão em conflito, mas que não são excludentes. A visão pacifista de luta, baseada numa dicotomia polarizada entre violência e não violência, não é real e também é contraproducente.
Além disso, é difícil ver claramente como um movimento de libertação, usando uma diversidade de táticas, pode direcionar sua luta. Os grupos específicos devem decidir isto por si mesmos, baseando-se nas condições as quais enfrentam, não baseando-se nas prescrições de uma determinada ideologia. Contudo, segundo todas as probabilidades, um movimento de libertação antiautoritário deve enfatizar a construção de uma cultura autônoma que possa resistir ao controle mental dos meios de comunicação e a fundação de centros sociais, escolas livres, clínicas livres, agricultura comunitária e outras estruturas que possam apoiar as comunidades em resistência. As pessoas ocidentalizadas devem desenvolver relações sociais coletivas. Para ditos crescimentos no norte global, ser um anarquista não te salva de ser imbuído de formas individualistas, baseadas no castigo e no privilégio de interação social. Devemos empregar modelos de trabalho de justiça restaurativa ou transformadora, de modo que verdadeiramente não necessitemos nem da polícia nem das prisões. Enquanto formos dependentes do Estado, não o derrotaremos jamais.
Os leitores devem ter percebido que os requisitos iniciais mais importantes do movimento de libertação não incluem ações “violentas”. Espero que agora possamos abandonar a dicotomia entre violência e não violência completamente. O uso da violência não é uma etapa na luta na qual devemos trabalhar e passar por ela para poder vencer. Isolar a violência não ajuda. E mais, devemos estar conscientes de que, provavelmente, precisaremos enfrentar certos tipos de repressão, e há certas táticas que provavelmente teremos que empregar. Em cada etapa da luta devemos cultivar um espírito militante. Nossos centros deveriam honrar os ativistas militantes presos ou aqueles assassinados pelo Estado; nossas escolas livres deveriam ensinar autodefesa e história da luta. Será tarde demais para assumir a militância se esperarmos que o Estado tenha implementado a repressão em um nível no qual seja evidente sua declaração de guerra contra nós. Cultivar a militância deve se dar junto com a preparação e a expansão.
É perigoso manter-se completamente à parte da realidade dominante, precipitando-nos com táticas que ninguém mais pode entender, e muito menos apoiar. As pessoas que atuam prematuramente e isolam a si mesmas do apoio popular colocar-se-ão mais facilmente na mira do governo[7]. Ou seja, não podemos deixar que nossas ações estejam determinadas porque são aceitáveis ou não para o pensamento hegemônico. As opiniões do pensamento hegemônico estão condicionadas pelo Estado. Longe disso, devemos trabalhar para intensificar a militância, para educar através de ações exemplares e para incrementar o nível de militância aceitável (para, ao menos, os segmentos da população que temos identificado como potenciais simpatizantes). Os radicais provenientes de origens privilegiadas são os que têm mais trabalho a fazer nesse sentido, porque essas ditas comunidades são as que têm reações mais conservadoras em respeito às táticas militantes. Os radicais privilegiados parecem ser mais capazes de perguntar, “que pensará a sociedade?” como uma desculpa para sua passividade.
Fazer aumentar a aceitação das táticas militantes não é um trabalho fácil, devemos levar as pessoas, gradualmente, até a aceitação de formas mais militantes de lutas. Se a única escolha que podemos fazer é entre atirar bombas e votar, a maioria de nossos aliados potenciais elegeria votar. E embora o condicionamento cultural deva ser superado antes que as pessoas possam aceitar e praticar as mais perigosas e mortais táticas, essas táticas não podem estar situadas no alto de nenhuma hierarquia. Reverenciar a violência nem sequer melhora a efetividade do movimento, nem tampouco preserva suas qualidades antiautoritárias.
Devido à natureza do Estado, é provável que toda luta pela libertação em qualquer momento possa se converter numa luta armada. Na verdade, um bom número de pessoas está implicada na luta armada para libertar-se agora mesmo: os iraquianos, os palestinos, os Ijaw na Nigéria, algumas etnias indígenas na América do Sul, e os Papua na Nova Guiné, e, em menor grau, grupos antiautoritários na Grécia, Itália e em outras partes. Enquanto escrevo esta frase, ativistas indígenas, anarquistas e sindicalistas, armados somente com tijolos e porretes, estão mantendo barricadas em Oaxaca contra um iminente assalto militar. Muitos já foram assassinados e, como o exército ataca sem cessar, devem decidir se aumentam ou não a militância de suas táticas para melhorar sua capacidade de autodefesa, sob o risco de consequências mais graves. Não direi que a luta armada é uma necessidade ideológica, mas para muitas pessoas, em muitos lugares, se converteu em uma necessidade para derrotar o Estado, ou para simplesmente se defender contra ele. Seria fantástico se a maioria das pessoas não tivesse que passar por um processo de luta armada para se libertar e, dado o grau que cada economia e governo estão se integrando globalmente hoje me dia, um bom número de governos pode facilmente ir ao colapso, se estes governos já estiverem debilitados por ondas disseminadoras de revolta global. Mas algumas pessoas deverão viver a experiência da luta armada, algumas delas devem fazê-la inclusive agora e nossa estratégia para a revolução não pode basear-se na certeza de que outras pessoas morrerão em conflitos sangrentos enquanto nós permanecemos a salvo.
Devemos aceitar, sendo realistas, que a revolução é uma guerra social, não porque gostamos dela, mas porque reconhecemos que o status quo é uma guerra de baixa intensidade e desafiar o Estado tem como resultado uma intensificação dessa guerra. Devemos aceitar também que a revolução precisa do conflito interpessoal, porque certas classes de pessoas estão empenhadas em defender as instituições centralizadoras que devemos destruir. As pessoas que seguem desumanizando a si próprias atuando como agentes da lei e da ordem devem ser derrotadas a qualquer custo, até que já não possam impedir a realização autônoma das necessidades das outras pessoas. Espero que durante este processo possamos construir uma cultura de respeito pelos nossos inimigos (um bom número de culturas não ocidentais tem mostrado que é, de fato, possível respeitar uma pessoa ou um animal que se deve matar), coisa que ajudará a impedir expurgos ou uma nova autoridade quando o presente Estado for derrotado. Por exemplo, pode ser visto como aceitável matar alguém que é igualmente poderoso (isto somente poderia ser visto como algo justificado por um semelhante em circunstâncias de cólera e defesa própria), e pode ser manifestamente visto como imoral e desprezível matar alguém mais fraco (por exemplo, alguém que fora derrotado).
Podemos ter êxito num ativismo revolucionário factível nos esforçando em fins concretos de longo prazo, mas não devemos esquecer as vitórias de curto prazo. Ao mesmo tempo, as pessoas devem sobreviver e nutrir-se. E devemos reconhecer que a luta violenta contra um inimigo extremamente poderoso, na qual a vitória a longo prazo pode parecer impossível, pode levar a pequenas vitórias a curto prazo. Perder combates pode ser melhor que não combater em absoluto; o combater empodera as pessoas e nos ensina que podemos lutar. Referindo-se à derrota na batalha de Blair Moutain durante a Mine War, em 1921, na Virginia Ocidental, o cineasta John Sayles escreve: “a vitória psicológica destes dias violentos pode ter sido mais importante. Quando um povo colonizado aprende que pode contra-atacar unido, a vida nunca voltará a ser tão cômoda para seus exploradores”[8]. Com a valentia e a resistência suficientemente empoderadora, poderemos ir além das pequenas vitórias para conquistar a próxima vitória contra o Estado, o capitalismo, o patriarcado, e a supremacia branca. A revolução é imperativa, e a revolução requer luta. Há muitas formas efetivas de luta e alguns destes métodos podem nos conduzir aos mundos com os quais sonhamos. Para encontrar um dos caminhos corretos devemos observar, assessorar, criticar, comunicarmo-nos e, sobretudo, aprender fazendo.


















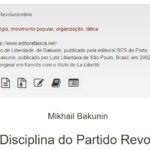








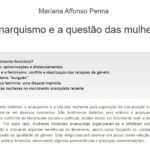
















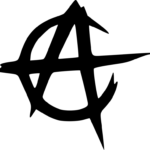







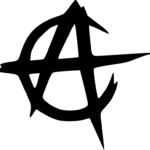



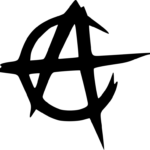



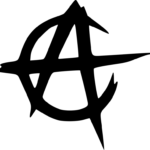
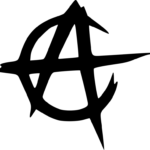















































Um comentário sobre “Como a Não-Violência protege o Estado”